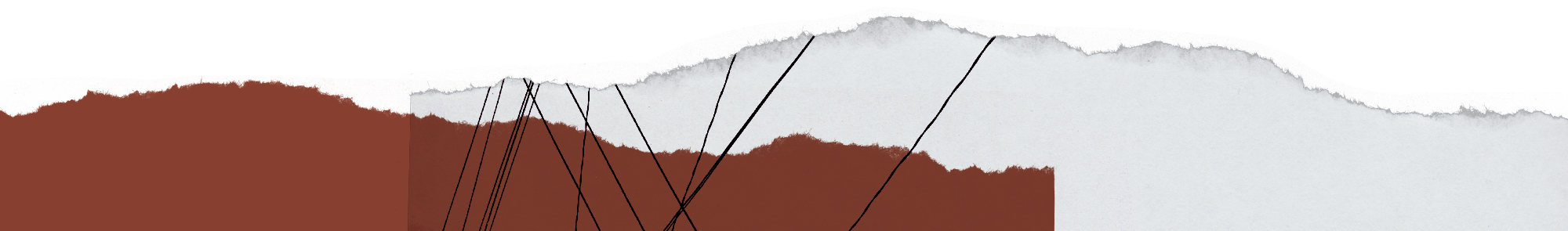Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


André CORBOZ, «La description: entre lecture et écriture» (2000) in Le Territoire comme palimpseste et autres essais, Ed. L’Imprimeur, Paris, 2001
Citado por Álvaro Domingues, em Qualificação das Periferias (Inforgeo, julho 2007, 139–143)
De difícil definição para os geógrafos, o centro e a periferia parecem ser noções muito claras quando a elas nos referimos no dia a dia. Mas ao que correspondem exatamente nos dias de hoje? Que lugar de privilégio representa o centro? E o que é ser-se periférico? Será esta uma condição física ou essencialmente social? Procurámos entender estes conceitos, perceber que configuração têm no espaço e o que representam. Como é que a proximidade ou afastamento do centro se traduz em relações de poder e desigualdades sociais? É o centro sobrevalorizado? Habitação, trabalho, lazer, cultura… Como chegamos a elas? Funciona atualmente a mobilidade como um fator de coesão social?
Esta é uma questão que pode ter diferentes respostas dependendo do ângulo que se pretenda abordar – «económico, social, político, administrativo, cultural» –, mas também do espaço urbano e da escala em questão, elucida o geógrafo Marcos Correia. «Se falarmos das áreas metropolitanas, o espaço central principal será sempre a cidade de Lisboa e do Porto», refere. «No entanto, se entrarmos numa área metropolitana, digamos do Porto, veremos que há outros espaços centrais na periferia. Matosinhos, Maia ou Gaia são exemplos disso. E podemos continuar com esta lógica: do concelho para a freguesia e da freguesia para o lugar.» Com o advento da digitalização da burocracia e com o aumento do teletrabalho, acrescenta, «a centralidade tradicional dos grandes e médios centros urbanos também se perde».
No entanto, «e considerando o que uma pessoa média precisa para satisfazer as suas necessidades», Marcos Correia diz que a capacidade de cada território satisfazer, parcial ou totalmente, esta premissa será o que melhor distingue o centro da periferia. «O melhor exemplo serão as áreas periurbanas das áreas metropolitanas, onde existem extensas áreas, exclusivamente, ou quase, residenciais. Para mim, isto é periferia, já que, na falta de outras atividades, serviços e infraestruturas, tem de haver uma deslocação, normalmente de carro, a um centro próximo para satisfazer as necessidades.»
Para Jorge Malheiros, geógrafo e investigador, no contexto da metrópole ou cidade, continua a fazer «algum sentido» falar de centro e periferias – no plural, «porque não há só uma». Na sua opinião, a ideia de centro corresponde a um espaço onde há uma maior concentração de recursos, atividades e, com frequência, também de população. «O que quer dizer que a densidade da vida social é, de alguma forma, maior. Há deslocações para o emprego, deslocações para a aquisição de bens e serviços, deslocações para fins de educação, fins culturais e, depois, há uma interação gerada por tudo isto. Portanto, o centro corresponde, numa área metropolitana, ao espaço da cidade», explica o também membro da direção do Centro de Estudos Geográficos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Para este centro, onde se concentram mais funções e emprego – particularmente, o mais especializado –, convergem depois muitas das ligações do sistema de transportes, «sejam os arruamentos das vias rodoviárias, sejam os outros canais que estão ligados ao elétrico, ao metropolitano, ou mesmo aos caminhos de ferro».
Já as periferias, segundo o geógrafo, dizem respeito a um espaço exterior a este núcleo mais central, caracterizado por uma diversidade de funções – funções, menos especializadas –, custo do solo mais baixo e, normalmente, uma função residencial mais significativa do que na cidade. «Há periferias que são mais residenciais, outras que têm uma presença maior de atividade industrial […]. Há espaços convertidos em armazenagem, abandonados, ou em transição para outras funções.» É também para a periferia que algumas atividades, sobretudo as que «precisam de um espaço maior», se deslocam, como são exemplo vários hipermercados que ficam «na periferia próxima, ou muito acessível», explica.
Segundo a investigadora Helena Amaro, atualmente já não faz sentido pensar num só centro, ou numa só periferia. No entanto, admite que as periferias lidam essencialmente com um problema de «identidade», uma vez que a perdem, «quando se tornam dormitórios daqueles que viviam, nas cidades ditas densas», quando estes deixaram de ter condições para viver no centro.
Um outro geógrafo, Álvaro Domingues, esclarece que estas palavras são polissémicas e que carregam consigo determinados contextos, «às vezes, completamente contraditórios». Por isso, defende que devemos estar atentos, não tanto a definições, em si, mas aos contextos em que estes termos são enunciados e ao imaginário para que remetem.
«[A questão] não é só de que é que se fala, quando se fala. É perceber: quem fala? Que argumentos usa? Que posições sociais exprime com essa argumentação? Quem fala a favor e quem fala contra? Quem é que não fala?», indaga.

– Álvaro Domingues
Como exemplo, o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto fala das diferentes perceções de subúrbio que podemos encontrar em diferentes coordenadas do globo. Nos Estados Unidos da América, o subúrbio tinha uma conotação positiva. «Antes destas críticas ambientais, da gasolina e dos automóveis, o chamado «american way of life» era o protótipo do subúrbio. Portanto, não havia qualquer estigma, digamos. E era aí que vivia a classe média», explica. A família, a casa unifamiliar, o automóvel, a automobilização para tudo, como há largos anos vemos representado na série d’Os Simpsons. «Ao contrário, no centro, era o gueto, pobre, explorado, sem direitos de cidadania.» Já na Europa, contextualiza, a ideia de subúrbio vinha do século XIX e representava «tudo o que estava fora», correspondendo ao modelo inglês da chamada Revolução Industrial, «que não é outra coisa senão o explodir do capitalismo industrial, como máquina de produzir urbanidade», assevera. Mas uma «urbanidade injusta»: «Veja-se os relatos dos tempos sobre as condições de vida operária: as condições de higiene, o não haver saneamento, a fumarada do carvão. [Subúrbio] tinha uma conotação negativa», conclui. «Estava-se afastado da cidade burguesa, fora do cerne da sociedade, e completamente afastado do poder da elite, porque se era quase escravo do trabalho e do capital.»
Para Álvaro Domingues, as periferias mais visíveis e mais consensuais são aquelas onde «tudo conflui» na ideia de periferia, «ao mesmo tempo afastada, no sentido de enquistada, e estigmatizada, porque reproduz padrões de pobreza, de défice de escolaridade, de fenómenos de pequena criminalidade, de disfunção familiar, de narcotráfico, o que for». A seu ver, esse é o lado «mais problemático» e mais «estigmatizador». «E aí, geograficamente falando, há lugares que se colaram, ou alguém os colou, a essa condição, e que nunca mais descolaram», diz o investigador, que, por isso, prefere referir-se à ideia de periferia «não como um lugar, mas como condição» – «ser periférico» –, a partir de questões de género, de cidadania, de racismo, ou de qualquer outra forma de exclusão. Porque, «a mesma pessoa pode ser periférica num determinado contexto, porque se sente fora de uma determinada cultura, de uma determinada relação de poder e, ao mesmo tempo, pode sentir-se dentro de outra», entende. «Portanto, são posições móveis.»
Para além das considerações anteriores, é importante perceber que existem zonas periféricas no dito centro, assim como centros nas zonas entendidas como periféricas. Em relação ao primeiro conceito, Marcos Correia nomeia o bairro dos Anjos, Olivais, Chelas, Olaias, ou Ameixoeira como exemplos de zonas periféricas na área metropolitana de Lisboa.
Tendo vivido nos Anjos, nota que «não há praticamente comércio no bairro». Outro exemplo é Chelas, onde «há uma clara segregação espacial, o que contribui ainda mais para o seu caráter aparentemente periférico». Desta forma, podemos referir-nos a zonas periféricas dentro das cidades quando identificamos áreas «onde se tem de conduzir ou caminhar dezenas de minutos para satisfazer necessidades básicas», por exemplo. «Estes desequilíbrios transformam bairros específicos em periferias de pequena escala», remata Marcos.
Por oposição, o geógrafo apresenta-nos o exemplo de Paris, em que «a harmonia de oferta dos mais variados serviços é incrivelmente equilibrada». «Não é difícil viver um ano no mesmo bairro ou distrito (arrondissement). Tirando algumas exceções – altos tribunais, universidades, entre outros –, tudo pode ser feito no mesmo bairro. E, ainda mais espetacular, a pé ou, em certos casos, de transporte público, sem ser preciso carro. Se olharmos para os centros tradicionais portugueses – sobretudo os de grande dimensão –, veremos que tal é impossível», conclui.
Neste sentido, cada vez se tem tornado mais presente a ideia da cidade dos 15 minutos. O conceito, da autoria do urbanista colombiano Carlos Moreno, é «um novo paradigma para combater as mudanças climáticas e continuar a viver em boas condições nas cidades», afirmou, o próprio, numa entrevista exclusiva ao jornal digital Mensagem de Lisboa. Almejando reduzir as emissões excessivas de CO2, que contribuem para o aquecimento global, a proposta refere-se a «um novo estilo de vida urbano num perímetro curto, para todas as funções sociais essenciais, que são seis: viver, trabalhar, comprar, cuidar, educar e divertir-se. E um grande incentivo à bicicleta», explica o urbanista na mesma entrevista.
Assiste aqui à Ted Talk de Carlos Moreno
Jorge Malheiros destaca ainda a existência de centros na periferia que se concretizam na «emergência de núcleos complementares nalgumas áreas periféricas». Como exemplos, nomeia Setúbal, Almada, Oeiras ou a Amadora, esta última «que procura emergir como um centro complementar imediatamente a seguir a Lisboa». Percebemos, assim, que «há algum esforço no aparecimento de centros mais ou menos especializados que são complementares ao centro mais tradicional». Jorge nota ainda que, «nas periferias, há, como diriam os amigos brasileiros, potência, no sentido de criatividade e de iniciativas novas», não esquecendo que as «periferias são mais jovens [em termos da população que as habitam] do que as cidades do centro».
«Estar na cidade e ser reconhecido enquanto cidadão, não no sentido de cidadão nacional, mas de cidadão da cidade, é algo que não é igual para todos», declara perentoriamente Jorge Malheiro, falando, desde logo, da situação dos estrangeiros, que, grande parte das vezes, não podem decidir acerca daqueles que conduzem os destinos do espaço onde vivem. «Mesmo que, ao nível urbano, do município, alguns estrangeiros tenham direito de voto, os direitos políticos estão limitados a muito poucos», considera. «Portanto, há aqui um primeiro elemento de separação, e este é formal.»
Mas nem todos o são. A desigualdade no acesso ao espaço reflete-se também na capacidade, ou não, de as pessoas terem o poder de escolher os locais onde moram, onde se divertem ou onde trabalham.

– Marcos Correia
«Outros, por não terem essa capacidade financeira, «estão submetidos a determinado espaço residencial.» O mesmo acontece em relação às atividades económicas e de lazer.
Por sua vez, Marcos Correia analisa que há uma componente simbólica ligada ao ser reconhecido na cidade. «Quando determinadas áreas são percebidas como espaços onde não se vai, ou, mesmo que tecnicamente não sejam guetos, são percebidas como tal – isto é, áreas segregadas onde aqueles que não residem não querem entrar –, o que estamos a dizer é que essas áreas são áreas relegadas para o campo do urbano indesejável, o urbano onde as pessoas não querem estar e onde só estão aqueles que não têm mais nenhuma alternativa», afirma. «Isto é uma negação do direito à cidade.»
Quando pensamos no acesso à cidade, somos impelidos a pensar em quem o consegue fazer, como, porquê e em que circunstâncias, mas também em quem é consultado para aquilo que são os projetos de cidade imaginados e executados pelos municípios. «O racismo institucional exclui, de certa maneira, as pessoas negras e Roma-ciganas, com especial enfoque no caso português, daquilo que são os projetos de cidade que vão sendo feitos pelos municípios», considera a antropóloga e investigadora Ana Rita Alves, que tem procurado compreender como se tem (re)construído historicamente a relação entre periferia, direito à habitação e raça/racismo, no Portugal contemporâneo.
«Quando temos uma criminalização histórica que associa bairro, raça, crime e, em particular, os jovens negros portugueses – muitas vezes apelidados de segunda geração – que seriam, ou representariam, de acordo com estas narrativas políticas e mediáticas, um perigo racializado para o centro da cidade, começamos também a perceber o modo como são indesejados nesses mesmos centros; ou, se estão presentes, como o seu corpo é hiperpoliciado de várias formas», explica a autora do livro Quando Ninguém Podia Ficar (2021), no qual relata a história do bairro de Santa Filomena, na Amadora, e de como o Programa Especial de Realojamento (PER), apesar da resistência dos seus moradores, desfez uma comunidade histórica e, à altura, maioritariamente negra.
Para a antropóloga, «o PER e outros programas de realojamento promoveram a segregação das populações negras, afrodescendentes, e também Roma-ciganas, neste caso, não só em Lisboa, mas também noutros pontos do país». Para além de questionar se essas pessoas seriam desejáveis, pelos poderes autárquicos, para esse projeto de cidade, Ana Rita Alves levanta outra interrogação: se se considerou, ou não, as pessoas que habitavam os bairros de autoprodução como sujeitos políticos.
– Ana Rita Alves
Segundo a investigadora, as políticas públicas de habitação, à imagem de outras políticas de promoção estatal, refletem aquela que é a racionalidade e a intencionalidade do Estado. E, num contexto em que os Estados-nação modernos são racialmente configurados em termos concetuais, filosóficos e materiais, a lei e a sua implementação reproduzirão obrigatoriamente esse guião, acredita. Por isso, diz ser necessário estudar a interseção entre raça e espaço, que considera evidente, quando se anda, por exemplo, na Área Metropolitana de Lisboa (AML), e apesar de nunca ter havido um recenseamento aos dados étnico-raciais da população, em Portugal.
Mas Ana Rita Alves imputa também responsabilidades à academia. «Temos um espólio bastante grande de trabalhos académicos que se debruçaram, ao longo do tempo, sobre territórios periferizados da AML», refere. Todavia, e não obstante a importância que confere a esses trabalhos – muitos dos quais se debruçam sobre a produção cultural, o património ou o espaço público –, a investigadora nota que «se olha pouco para a violência, nos seus mais diversos formatos – por exemplo, violência institucional –, e para a questão do racismo e a forma como ele se manifesta». Na sua opinião, a academia tem uma responsabilidade acrescida sobre o silenciamento de determinado tipo de violências, nomeadamente, a violência racial em espaços periferizados das cidades.
– Ana Rita Alves
Quanto àquilo que considera «racismo epistémico» – «o silenciamento brutal de um conjunto de autores» negros –, a antropóloga dá o exemplo do sociólogo norte-americano Du Bois, que, no final do século XIX, olhou para a cidade, exatamente, a partir da lente da raça. «Não obstante, por exemplo, o trabalho The Philadelphia Negro: A Social Study (1899), do Du Bois, ter sido feito no final do século XIX e seja, por muitos, considerado o primeiro trabalho académico sobre espaço urbano – e que escolhe a lente da raça para olhar para ele –, quando vamos para a faculdade, o que nos é ensinado é que os estudos urbanos nasceram na Escola de Chicago [nos anos 20], e não com o Du Bois, nem em Filadélfia, para onde ele, depois, vai.»
A ausência de investigação com foco na interseção entre espaço e raça deve-se, a seu ver, a esses dois motivos: «por um lado, à presença de um racismo epistémico que retira académicos negros da história da produção do conhecimento; por outro, à retirada, em particular, do debate sobre o racismo dessa mesma produção de conhecimento, contribuindo para o silenciamento, ou em alguns casos, para a reificação de que, ou não existe racismo institucional, ou ele não é tão relevante quando comparado com outras categorias para pensar a cidade».
Black Metropolis (1945), de St. Clair Drake e Horace Cayton, ou Dark ghetto: dilemmas of social power (1989), de Kenneth B. Clark, são outras obras, mencionadas pela investigadora, que olham para o urbano através da lente da raça e que, muitas vezes, ficam de fora dos currículos académicos de quem se dedica aos estudos urbanos. «Por detrimento, aprendemos outros [autores]. São-nos ensinadas outras lentes para olhar para a cidade, nomeadamente, a lente da classe e da pobreza, mas nunca interseccionando isso com a questão racial, nem pensando como o empobrecimento das populações é também, ou pode também ser, racializado.»
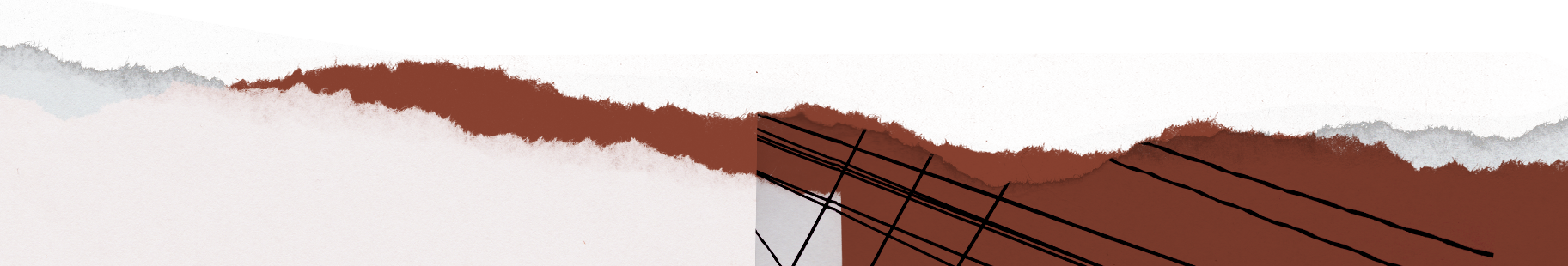
Mauro Wah nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, e veio para Portugal aos quatro anos, onde passou a viver com a sua avó no bairro da Quinta da Pailepa, antiga freguesia da Charneca, atual Santa Clara, em Lisboa. Com o realojamento dos bairros, passou a viver com a sua família no atual bairro do PER 11, na Alta de Lisboa, no qual ainda mora e desenvolve projetos comunitários, conciliando-os com o seu trabalho no aeroporto e com a vida familiar. Apaixonado por desporto e entusiasta da vida comunitária, Mauro procurou envolver a comunidade do PER 11 em diversas atividades recreativas e educativas, tendo como objetivo a inclusão de todos os membros da comunidade. Assim, surge a associação de moradores PER 11, da qual é dirigente, em que se desenvolve um trabalho de apoio à comunidade com maior enfoque na orientação de jovens e crianças de risco.

Mauro Wah, fotografia de Mauro Santos, mais conhecido por Rochinha
Mauro Wah nasceu na cidade da Beira, em Moçambique, e veio para Portugal aos quatro anos, onde passou a viver com a sua avó no bairro da Quinta da Pailepa, antiga freguesia da Charneca, atual Santa Clara, em Lisboa. Com o realojamento dos bairros, passou a viver com a sua família no atual bairro do PER 11, na Alta de Lisboa, no qual ainda mora e desenvolve projetos comunitários, conciliando-os com o seu trabalho no aeroporto e com a vida familiar. Apaixonado por desporto e entusiasta da vida comunitária, Mauro procurou envolver a comunidade do PER 11 em diversas atividades recreativas e educativas, tendo como objetivo a inclusão de todos os membros da comunidade. Assim, surge a associação de moradores PER 11, da qual é dirigente, em que se desenvolve um trabalho de apoio à comunidade com maior enfoque na orientação de jovens e crianças de risco.
Apesar de esta associação ter ajudado a criar «uma maior participação e igualdade entre todos», não foi um processo fácil, nem linear, levantando vários questionamentos em relação ao PER. «Não consigo perceber como é que as pessoas que pensam, organizam, planificam os realojamentos não querem aprender com os erros do passado. Qual é o principal erro? Pensar que essas pessoas, o que precisavam era de uma casa condigna. A casa não era a coisa mais importante para essas pessoas. Não perceberam que aquilo da casa era só uma parte do tecido socioeconómico que não foi trabalhado. Não foi feito nenhum trabalho prévio para poder habituar e criar condições para essas pessoas irem para um sítio que se sabia, desde o início, que não ia dar», conta-nos Eupremio Scarpa, imigrante italiano que nos foi apresentado por Mauro como um amigo de longa data e colega de intervenção comunitária que sempre teve uma grande participação na intervenção com a comunidade na Alta de Lisboa.
Também Mauro garante que, «mesmo com a ajuda da Junta de Freguesia do Lumiar, houve coisas que não foram faladas», em termos de adaptação dos espaços às comunidades e da tomada de decisões que viriam a implicar as suas vidas.
No caso do PER 11, Mauro conta que «as coisas foram complicadas no princípio». «Houve uma grande mistura de pessoas de várias partes da cidade.» «Somos, de certa forma, largados – pronto, vocês já têm casa, já podem viver. Mas viver é um patamar muito à frente. Porque vamos encontrar-nos com pessoas com outras culturas, com outro tipo de mentalidade, com outras formas de estar e, parecendo que não, é aquele choque de civilizações em que tu pensas – ou isto vai rebentar ou vai ter de haver um esforço de todas as partes para que isto possa correr da melhor forma.» «Mas foram questões trabalhadas, porque a associação e as pessoas da comunidade quiseram que isso acontecesse.»
A este propósito, Eupremio partilha o exemplo do antigo bairro da Cruz Vermelha em que, ao ser demolido, «toda a gente vai ser realojada noutra freguesia sem ter em conta uma série de coisas. Quais são algumas das mágoas dessas pessoas que viviam na Cruz Vermelha? Para além de saírem do sítio onde estavam enraizados, depois de 40 anos, passava um autocarro no bairro. Quando metem um autocarro que esperavam há 40 anos, e põe um Continente, serviços, transportes, perto daquele bairro, depois, vão mandá-lo abaixo». Mauro comenta esta realidade dizendo que «o sentimento que passa, para essas pessoas, é: agora que temos tudo o que precisamos à nossa volta para ter uma melhor qualidade de vida é que vamos andar para trás e vamos ser colocados numa freguesia, onde a maior parte das casas são de realojamento. Então, é um sentimento de frustração, porque queres andar para a frente e puxam-te para trás, o que te leva a pensar – onde é que está aquele momento idílico em que estamos, supostamente, todos ao mesmo nível?»
Para percebermos a falta de condições, Eupremio dá-nos alguns exemplos. «Estamos a falar de 20 e tal mil pessoas que viviam nas barracas, que não tinham mais do que um andar. Ou seja, a relação pessoal era importantíssima. Fizeram contentores verticais, ao invés de horizontais e, assim, perdes contactos sociais, convívios. Depois, uma coisa gravíssima, para mim, feita no realojamento da Alta de Lisboa, foi matar praticamente todas as organizações e associações desportivas e culturais.» Deste modo, o educador defende que «não se percebeu que a coisa mais importante que foi destruída foram as relações humanas. Isso perdeu-se e é a força destes bairros.»

– Eupremio Scarpa, fotografia de Cultura Urbana Alta de Lisboa
«Tinham os seus problemas, mas aquilo era uma comunidade que foi destruída. OK, vão pôr nas casas de realojamento, mas a Alta de Lisboa não era só as casas. Eram equipamentos. Onde é que eles estão?»
«Eu tento não pensar nisso, mas é quase uma declaração – isto foi criado para vocês, fora da cidade, vocês que vieram dos PALOP, do Interior de Portugal, que não têm condições, vão viver na periferia. Acaba por haver este sentimento em como nós acabámos por ficar sempre excluídos», desabafa Mauro em relação a todo este paradigma.
Neste sentido, Jorge Malheiros defende que «se têm de fazer experiências mais fortes de envolvimento das populações nos processos de transformação dos bairros, perceber o que as pessoas querem e como querem transformar o seu próprio espaço». «Creio que as soluções passam por, primeiro, trabalharmos os vários casos, depois, promover a integração na cidade, abrir o bairro, do ponto de vista simbólico – mostrar que se pode ir ao bairro, que no bairro vivem pessoas como as outras, têm iniciativas muito interessantes que valorizam culturas locais e que estão ligadas à imigração, ou outras [temáticas].
Hoje, Mauro caracteriza o PER 11 como sendo a periferia. «Mas também somos a cidade, porque, aqui, em Santa Clara, estamos no limite, porque estamos encostados a Loures, mas cada vez mais fazemos parte da cidade, porque nós estamos na Alta de Lisboa e, supostamente, a Alta de Lisboa é como se fosse uma cidade», defende.
Eupremio considera «que as novas gerações, ajudadas por pessoas de referência como o Mauro, começam a ter uma mudança de paradigma». «Ou seja, de não verem a sua periferia como periferia. Porque, realmente, se uma pessoa vai para o centro fica aborrecida, volta para o bairro que tem muito mais movimento. Muitos dos miúdos com quem trabalho, quando vão ao centro, dizem que vão para Lisboa. E eu pergunto – então, mas tu vives onde? É engraçado», nota. Também Mauro partilha que «os miúdos não têm noção do que é a cidade», sendo que, para eles, a demarcação não é tão percetível.
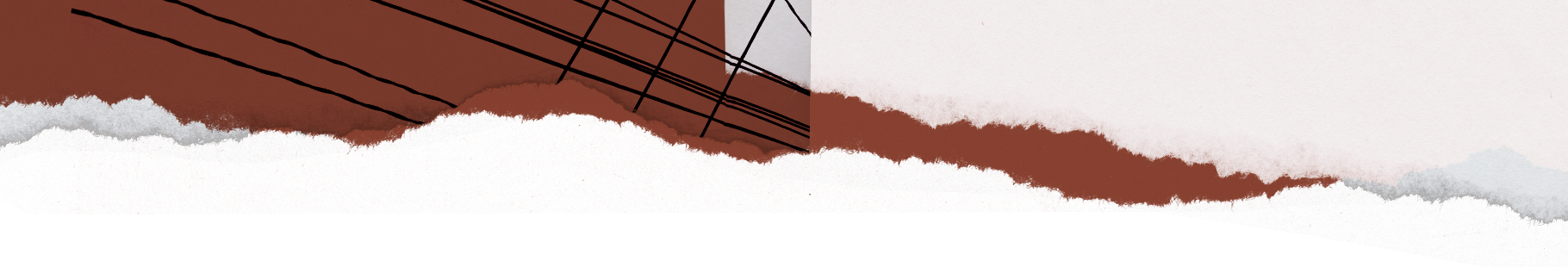
«Só podemos entender a contemporaneidade à luz daquilo que são as continuidades e as descontinuidades com o passado histórico», avança Ana Rita Alves. «Acho que, no que toca a esta relação muito simbiótica que foi feita pelo colonialismo e que ainda existe entre raça, racismo e deslocamentos – que podem ser migrações ou podem ser, mais tarde, realojamentos» –, existe a «ideia de empurrar as pessoas, ou de as mover, de acordo com aquilo que são os interesses políticos, num determinado tipo de contexto, num determinado tipo de espaço, de tempo». A antropóloga diz que é possível perceber estas relações, ainda bem marcadas, na falta de vontade de «promover boas condições de vida às pessoas para quem se olha, reduzindo-as, sistematicamente, à condição de mão de obra».
Marcos Correia concorda que tenha existido «uma intenção de empurrar grupos de pessoas de um lado para o outro». No entanto, não crê que tal ainda aconteça. «Estamos ainda a lidar com erros do passado», esclarece. Da mesma forma, Jorge Malheiros reconhece que, embora não seja politicamente correto dizê-lo, «em determinados municípios, a ideia de concentrar os tidos como menos desejáveis em habitação social, existiu».
Atentando na questão da habitação privada, conseguimos, desde logo, identificar uma barreira de acesso financeiro instalada no centro. «Com os preços altos das rendas e imóveis, todos percebemos que viver afastado do centro tradicional é a solução possível e, muitas vezes, lógica», reconhece Marcos Correia.
Jorge Malheiros identifica a existência de dois fatores principais para esta realidade: «a fragilidade da implementação dos instrumentos de planeamento» e «a incapacidade de intervir no mercado de solos ou imobiliário». O geógrafo explica que, quando se reserva «determinados espaços para quem pode pagar mais por eles, a consequência vai ser o afastamento dos grupos que têm menor rendimento». Por outro lado, crê que, «nas áreas onde se assume que a oferta se destina àqueles que podem pagar preços mais altos, há uma certa intenção de afastar aqueles que são percebidos como indesejáveis», «mesmo que precisem de empregadas domésticas, que seja necessário ter alguém que limpe as ruas, alguém que trabalhe no café, no supermercado, e por aí fora. Mas a ideia é a de que podem vir de mais longe, das tais periferias e, eventualmente, de um bairro que possa estar próximo nesta lógica fragmentada.»
O geógrafo acredita que, «algumas vezes, ainda há alguma concentração dos investimentos nas cidades-centro e, às vezes, um bocadinho menos na periferia», pelo que se deveria «analisar melhor, nos contextos metropolitanos, a maneira como estamos a fazer os investimentos».
Muito temos falado nos últimos anos sobre mobilidade, principalmente, sobre a procura de meios de deslocação menos poluentes. Mas será que já todos temos como nos mover livremente nos espaços urbanos? «Quem mora na periferia depende dos transportes públicos e, à noite, mesmo que se mantenham, tornam-se mais espaçados e, nalguns casos, deixam de funcionar. Com as lógicas de otimização a que temos assistido, que vão marcando a frequência das carreiras de transportes, o resultado é que quem mora na periferia tem também um acesso mais limitado a algumas destas ofertas», avança Jorge Malheiro. «Se em relação a alguns serviços públicos, como a escola, no ensino obrigatório, ou a saúde se consegue, até agora, alguma equidade nos acessos, em relação a serviços culturais, de lazer, entre outros, ainda temos desigualdades grandes e, portanto, melhorar a rede de transportes acaba por ser um momento fundamental.» O geógrafo critica ainda o facto de, muitas vezes, não haver «um sistema de transportes horizontal, isto é que não tenha a tal lógica de convergência para o centro», o que faz com que não nos possamos deslocar para outros espaços nas periferias ou em concelhos vizinhos, por não haver transportes públicos que realizem essas ligações. «Ou se faz de carro, ou não se faz.»
«Há esta racionalidade que é muito viabilizada pela presença e ausência de transportes que é quando é que, encarando o centro da cidade como o local desejável para estar, eles existem para as pessoas irem para o trabalho, mas não existem para as pessoas poderem fruir daquilo que são as atividades de lazer e, portanto, participarem de um conjunto de espaços públicos e privados que a cidade ou o centro da cidade fornece», diz Marcos Correia. Deste ponto de vista, os transportes públicos são um elemento fundamental para garantir o acesso a equipamentos e serviços por parte das pessoas que não dispõem de uma viatura própria. «Se fizermos um mapa de acessibilidade de Lisboa, em que medes o tempo de viagem aos fins de semana e noite, veremos que a falta de acessibilidade estará inerentemente ligada a outros problemas sociais. Mas podemos ir mais longe e refletir nas faixas etárias jovens ou idosas – que não conduzem ou quase não conduzem –, visto que terão o mesmo problema que outros grupos sociais.»
– Marcos Correia
O geógrafo aponta «o foco da cidade no transporte individual» como um problema, e sublinha que o transporte público é um «elemento equilibrador das assimetrias sociais».
Na sua opinião, ainda há um campo grande para alargarmos os transportes públicos. «Houve medidas muito interessantes, como a redução dos preços e a integração dos passes sociais», considera. «Estas propostas que agora aparecem de não pagamento para os jovens e para os idosos, que têm sido faladas pela Câmara de Lisboa, também me parecem muito interessantes e espero que apareçam, depois, noutros municípios. Mas temos de, claramente, fazer mais neste domínio e reorganizar as redes de transportes, progressivamente, de maneira a garantir mais horizontalidade nas deslocações, por um lado, e oferta de serviço a mais horas, por outro. Porque me parece que acaba por se acentuar a desigualdade entre centros e periferias com o sistema de transportes públicos que não serve determinados espaços das áreas metropolitanas.»
Para a investigadora Helena Amaro, a mobilidade pode ser um fator de coesão social, principalmente, numa altura em que vemos o preço dos combustíveis a escalar. «O que acontece é que, muitas vezes, as pessoas não fazem as contas ao peso da mobilidade no seu rendimento», garante. «O Alain Bourdin, sociólogo e urbanista francês, falava disto, em 2011, muito antes de aparecer o movimento dos coletes-amarelos, em França, que foi, inicialmente, um movimento social de reação à subida do preço da gasolina. Numa conferência que o trouxe ao Porto, anteviu:

– Helena Amaro, parafraseando Alain Bourdin
“A maior parte de nós é proprietária de uma casa, com hipoteca ao banco e, portanto, quem compra uma casa, dificilmente se consegue desfazer dela. Ou consegue encontrar uma casa, noutro lado, onde está o novo emprego, ou então, a partir do momento em que tem aquela ancoragem, o mais natural é que tenha deslocações, se o emprego mudar — para mais perto, ou para mais longe, de transporte público, ou transporte individual —, mas a casa é sempre uma centralidade.» Portanto, a seu ver, a única solução é mexer na variável da mobilidade. E como? Determinando que vai ter o menor peso possível na vida das pessoas. «Se conseguirmos ter um transporte, a preço acessível ou gratuito, seguro, limpo, com horários confiáveis e que tenha uma cobertura de rede e de articulações de interface, que nos ponha uma viagem cómoda no bolso, em que se consiga ler ou dormir», menciona, «a mobilidade será o fator que nos porá comida na mesa.» O facto de as pessoas terem acesso a um transporte que lhes permita suportar um pouco mais o aumento do custo da habitação ou da alimentação traduz-se numa “política de redistribuição do rendimento”. «Também por isso as políticas de mobilidade podem ser instrumentos de coesão social», considera.
De acordo com a investigadora, a mobilidade conseguirá «compensar os erros das outras políticas públicas»: da localização dos equipamentos, das não-densidades, ou não obrigatoriedade de previsão de habitação, nas imediações das nucleações, criadas pelas próprias infraestruturas de transporte, por exemplo. Porém, neste momento, analisa, a margem de intervenção das políticas públicas é estreita:
«o grande problema é que até posso diminuir, ou praticamente querer esmagar, o custo da mobilidade, mas o só consigo fazer relativamente aos transportes públicos.
Não o consigo fazer relativamente às pessoas que recorrem ao transporte individual, muitas vezes sem possibilidade de escolha. É remota a possibilidade de intervir no preço das portagens e dos combustíveis.» Reconhece: «As pessoas que conseguiria afetar, pela minha proposta de política pública de mobilidade, ainda que fossem muitas, seriam uma imensa minoria.»
A noção de centro-periferia tem componentes geográficos, económicos e socioculturais. «Se formos ver a velha teoria centro-periferias de Wallersteins, que não é urbana, tem uma lógica mais à escala global, esta associa, desde logo, às áreas centrais, a dinâmica, riqueza, a capacidade de atração; e, às áreas periféricas, a dependência, a menor riqueza, o caráter mais repulsivo. Esta é uma visão sistémica, porque elas integram-se no mesmo sistema e, de alguma forma, umas dependem das outras por razões várias. Neste sentido, desde a origem, mesmo do ponto de vista teórico, ser periférico é estar numa situação de desvantagem», explica Jorge Malheiros.
Desta forma, são vários os estigmas que ouvimos associados às periferias, nomeadamente com o contributo dos media, uma vez que os meios de comunicação têm um acesso privilegiado ao espaço público e, consequentemente, a capacidade de criar imaginários tidos como consensuais acerca daquilo que são as realidades sobre as quais se propõem falar ou retratar.
Nesse sentido, Marcos Correia confessa que «os media em Portugal são, na sua maioria, maus. O jornalismo é básico, o que não invalida que sejam, na mesma, responsáveis pela disseminação de uma imagem que, muitas vezes, já não existe ou, no caso da desqualificação, existe em todo o lado», e não apenas nas periferias ou bairros sociais.
Para Ana Rita Alves, «os media tiveram um papel fundamental naquilo que, mais tarde» se chamou «a invenção da periferia». Na sua investigação, percebeu que, nos jornais da década de 90, havia uma grande curiosidade dos media por perceberem estes espaços. «Não era uma coisa sistemática, mas ia acontecendo até com algumas reportagens longas e havia um léxico muito grande relacionado com a pobreza. As pessoas viviam em situações de extrema pobreza, eram trabalhadores, as infraestruturas não eram adequadas, etc.» Posteriormente, a autora destaca «a segunda presidência aberta de Mário Soares, em 1993, em que o mesmo decide ir a Camarate visitar aqueles que ficaram conhecidos como os desalojados de Camarate, que eram um conjunto de pessoas brancas e negras que ocupavam um edifício e que foram desalojados de um dia para o outro, mas ficaram na rua a dormir.» Nessa altura, é publicada uma notícia no jornal Público com uma frase que Ana nos parafraseia:
«Para mim, essa não é a única notícia, mas não deixa de ser paradigmática de um segundo processo que começa a acontecer, que é a ideia que é reportada e criada pelos media, de que estes espaços são espaços de criminalidade iminente.» «Depois, aquando dos acontecimentos de 2005, em que são assassinados três polícias no concelho da Amadora, entre janeiro e março, quando os últimos dois polícias são assassinados, um crime que ocorreu nas imediações do bairro de Santa Filomena, não obstante, não tivesse sido ninguém relacionado sequer com o bairro, publicamente, o crime é imputado, digamos assim, ao território e às pessoas que habitam no mesmo.»
Pegando nessa mesma ideia de incompatibilidade entre a realidade e as narrativas que, tantas vezes, vemos disseminadas nos media, Jorge Malheiros aponta que «a ideia de habitação social e de bairros sociais problemáticos está associada às periferias, mas é dentro das cidades que há mais habitação social, o que, desde logo, mostra que há uma distorção na forma como a imagem é dada.» Ademais, partilha que «quando nós estudámos precisamente os bairros sociais, o que vemos é que aos bairros sociais se associam com muito mais frequência adjetivos negativos – são violentos, são zonas de tráfico, são degradados – do que adjetivos positivos. Não aparecem como: são áreas de promoção de iniciativas culturais diferentes, são áreas onde nasce a música. Em alguma imprensa, o lado negativo das periferias e dos subúrbios, muitas vezes associados a estas áreas específicas, é generalizado e, portanto, a periferia aparece muito mais representada pelo que tem de negativo do que pelo que tem de positivo», partilha.
Ainda em relação ao estigma que associa as periferias ou bairros sociais ao «tráfico, à violência ou à criminalidade», Jorge salienta que «a criminalidade tem, muitas vezes, maior expressão no centro da cidade do que em muitos destes bairros, designadamente a criminalidade contra a propriedade».
Apesar de ainda existirem algumas narrativas mediáticas que perpetuem estigmas, Eupremio reconhece que «houve uma mudança na abordagem da comunicação social. Há uma panóplia de media alternativos que já não fazem perguntas negativas para incitar um certo tipo de resposta negativa», exemplifica.
Em termos dos possíveis estigmas perpetrados pelo poder político, Eupremio ilustra que «é muito mais fácil mostrar resultados fazendo uma rusga ao PER 11 e dizer que se prendeu 200 pessoas. Se, dois anos antes, fosse feito trabalho na comunidade através da educação, cultura, arte e criatividade, talvez não tivesses, dois anos depois, 200 presos nas rusgas. Acho que o poder tem essa falha de não investir na prevenção e só remediar quando o problema [está instalado]».
Voltando ao caso do assassinato de três polícias, nesse ano, houve uma manifestação de polícias na Avenida da Liberdade a «reivindicar condições especiais para que se entre em determinado tipo de territórios que eram um perigo também para as autoridades. São territórios que são, por exemplo, descritos, na definição policial de bairros problemáticos, como territórios de aversão ao Estado e que, portanto, a polícia teria de ter outro tipo de condições para poder entrar nos territórios», explica Ana. No ano seguinte, saiu a diretiva 16/2006, «que, no fundo, vai traçar aquilo que ficou mais tarde conhecido pelas zonas urbanas sensíveis, e que veio a lume a propósito de uma notícia publicada no jornal Público, em 2019, quando se percebeu que a polícia perfilava etnicamente as zonas, classificando-as como mais estáveis ou instáveis de acordo com a sua composição étnico-racial». Isto demonstra que os estigmas «também estão a acontecer na esfera política.» «Surgem decisões, diretivas, legislação, sempre numa comunicação muito próxima entre aquilo que é o poder político e os meios de comunicação social», defende.
Marcos reitera também que o poder político contribuiu para uma associação ainda muito presente que alia uma grande parte da periferia de Lisboa e bairros sociais do centro, às ideias de crime, raça, insegurança e até de desqualificação. «É caminhar das Avenidas Novas, em Lisboa, até Chelas e ver as diferenças absolutamente brutais da qualificação e manutenção do espaço. E isto a nível mais técnico. A nível verdadeiramente político, a existência» de um partido de extrema-direita confirma, que «sim, a política contribuiu para esta ideia».