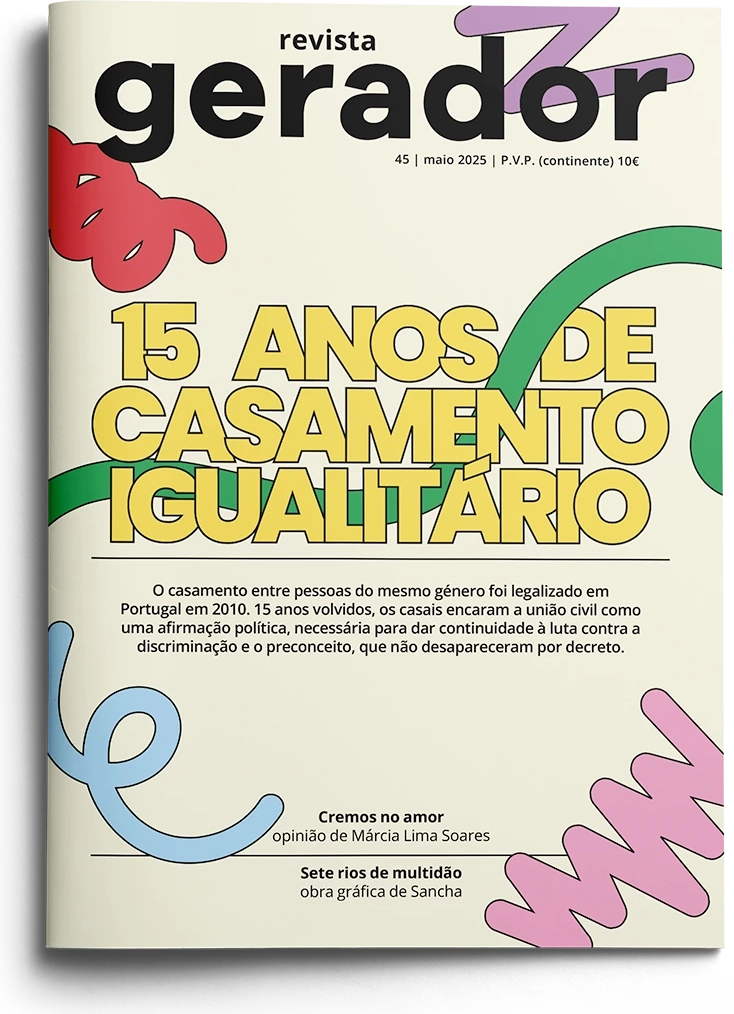Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
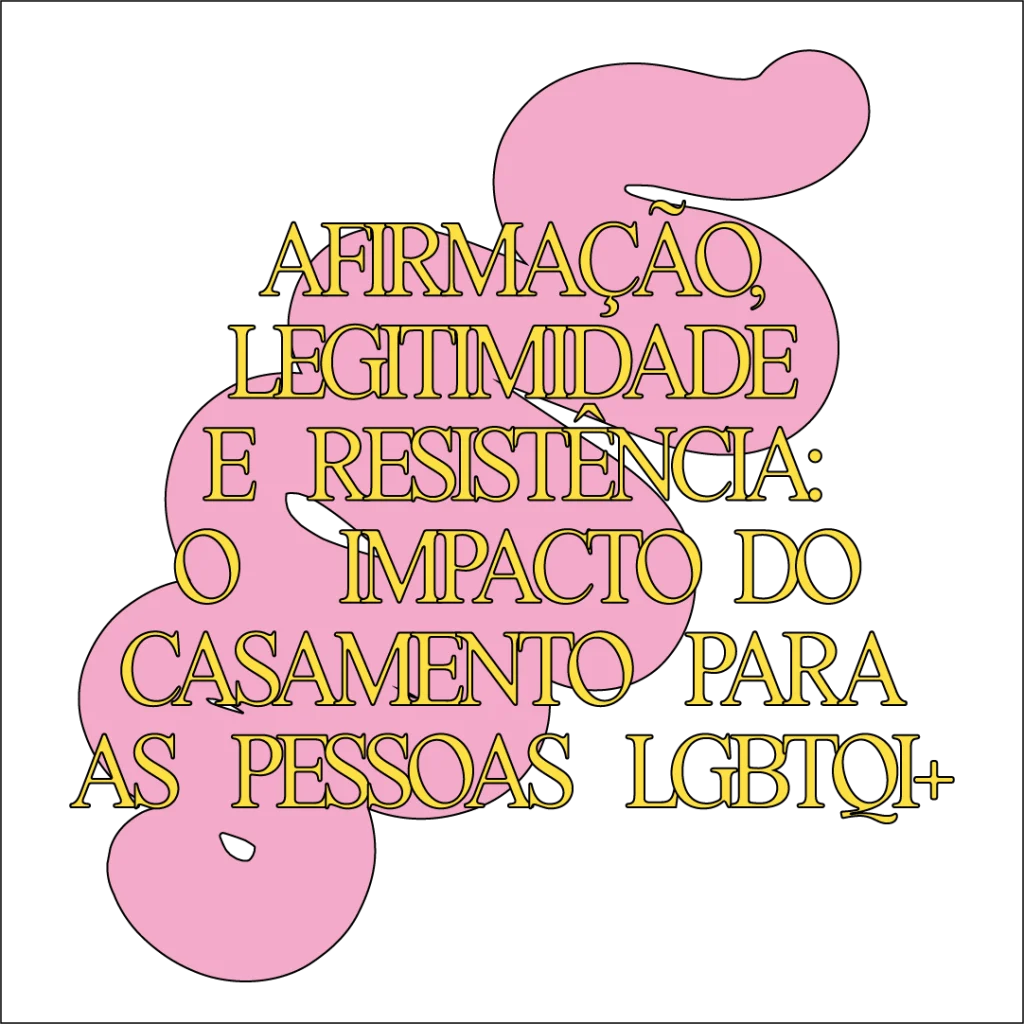
Reportagem de Sofia Craveiro
Edição de Tiago Sigorelho
Design original de Bárbara Caria Adaptação de Frederico Pompeu
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Captação e edição de vídeo de Marcelo Souza Campos e Pedro Oliveira
Digital de Inês Roque
14.07.2025
O casamento civil entre pessoas do mesmo género foi legalizado em Portugal em 2010. A lei que removeu a expressão “de sexo diferente” da definição de casamento entre duas pessoas foi publicada a 31 de maio, em Diário da República, há 15 anos. A Revolução de Abril não significou liberdade para todos de forma imediata. O caminho até à mudança legislativa fez-se por via da persistência dos movimentos ativistas, que evoluíram e se diversificaram.
Esta é a segunda parte de uma série de 3 reportagens que dedicamos ao tema da legalização em Portugal do casamento entre pessoas do mesmo género. Clica em baixo para acederes à página principal.
Quando a decisão foi tomada não sabiam por onde começar. Tinham como plano de futuro a compra de uma casa, o primeiro passo para dar alguma estabilidade a Marisa, na altura com oito anos. Queriam também ver reconhecida a sua legitimidade enquanto encarregadas de educação da menina, ter os mesmos direitos que qualquer casal heterossexual. Teresa Pires e Helena Paixão estavam decididas a casar-se pelo civil, mas a lei não o permitia.
O dia era 7 de dezembro de 2005 e a pequena Marisa – filha de Helena, de uma relação anterior – folheava o Jornal de Notícias, num café, em Aveiro. Chamou à sua atenção um artigo acerca de Luís Grave Rodrigues, um advogado “disposto a lutar pelo casamento gay, desde que as pessoas dessem a cara”, relata Teresa Pires, em entrevista ao Gerador.

O casal marcou encontro com o advogado, no Hotel Íbis da Avenida José Malhoa, em Lisboa. “Perguntei-lhes se eram malucas por quererem fazer isto, elas disseram que sim e eu disse: “Então vamos a isto, que eu também sou maluco””, relatou o advogado ao jornal Público, num artigo publicado em 2010.
Na altura, os riscos terão sido postos na balança. Luís Grave Rodrigues contou ao periódico ter alertado para as consequências que o impacto mediático podia ter na vida do casal. Teresa e Helena aceitaram seguir em frente.
A 1 de fevereiro de 2006 as duas dirigiram-se à Conservatória do Registo Civil na Avenida Fontes Pereira de Melo em Lisboa, para casar. O advogado ficou incumbido de convocar “dois ou três jornalistas” para registarem o previsível indeferimento do pedido, mas apareceram “dezenas”. “Foi o dia em que Bill Gates veio a Portugal, portanto todos os jornalistas internacionais estavam lá”, diz Teresa Pires.

Apesar de terem sido surpreendidas pela dimensão do impacto mediático, sabiam que este fazia parte do processo, já que a intenção era, precisamente, chamar a atenção para o problema. Teresa e Helena sabiam de antemão que o pedido seria negado, mas esperavam que isso servisse de motivação para mais casais LGBTQI+ se juntarem à luta.
Não foi isso que sucedeu. Ao invés, a ação de Teresa e Helena deu início a um longo e penoso processo de luta social e jurídica, com graves consequências nas suas vidas. “Se alguém tivesse aparecido, se calhar as coisas não tinham tomado o rumo que tomaram”, lamenta.



Seguiram-se quatro anos de instabilidade na vida do casal, que sofreu na pele as consequências da discriminação. Teresa e Helena foram forçadas a mudar de casa diversas vezes, fosse porque eram despejadas pelos proprietários, ou porque os vizinhos não as queriam por perto. “Tivemos situações de ser postas na rua em 24 horas”, diz Teresa Pires.
A nível laboral também surgiram muitas dificuldades, retratadas no documentário Fora da Lei, de Leonor Areal, que acompanhou a vida do casal após a exposição mediática.
Marisa, filha de Helena, foi vítima de bullying na escola. O casal foi até acusado de ser uma fraude, de querer apenas lucrar com a exposição pública. “As consequências duraram vários anos”, recorda Teresa Pires. “Sempre que alguém se lembrava de publicar um artigo sobre nós, com uma entrevista antiga e com a nossa foto, tínhamos problemas.”
Na justiça, o caso passou por todas as instâncias, sendo o pedido de casamento sistematicamente rejeitado. Em julho de 2009 chegou ao Tribunal Constitucional que decidiu também negar o acesso à união civil. Apesar disso, a decisão não foi unânime entre os juízes do Palácio Ratton, o que mostrou alguma abertura à mudança legislativa.
O casamento igualitário passou a integrar os programas eleitorais dos partidos de esquerda na campanha para as eleições legislativas de setembro de 2009. Em janeiro do ano seguinte chegaria, por fim, a aprovação, na Assembleia da República, da lei que alterou o Código Civil e retirou a expressão “de sexo diferente” da definição de casamento entre duas pessoas.
A proposta do Governo socialista teve voto favorável das bancadas do PCP, BE e Os Verdes. Duas deputadas independentes eleitas pelo PS votaram contra, assim como a maioria dos deputados do PSD, que deu liberdade de voto. Também a bancada do CDS-PP se opôs à mudança da lei, que foi publicada no Diário da República, a 31 de maio de 2010.
Apesar de passar a permitir o casamento entre pessoas do mesmo género, o diploma deixava explícito que as alterações não tinham implicação nos processos de adopção, que continuou interdita a casais LGBTQI+.
No dia 7 de junho de 2010 Teresa e Helena puderam, por fim, casar-se pelo civil. Na Conservatória Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, foi celebrado o primeiro casamento entre duas pessoas do mesmo género em Portugal.


Apesar da vitória, a exposição mediática inerente teve um impacto brutal na vida de ambas e acabou por desgastar a própria relação. Não obstante se terem tornado um símbolo da luta pelo casamento igualitário, Teresa afirma que nunca foi essa a intenção, até porque nenhuma delas tinha ligação ao ativismo LGBTQI+. Havia apenas a convicção de ser igual a qualquer outra pessoa. “Eu não sou bandeira de ninguém. Eu lutei por aquilo que eu queria. Eu não lutei para os outros. Acabei por lutar, mas essa não foi minha intenção”, frisa.
Atualmente, Teresa e Helena já não estão juntas e perderam o contacto. Teresa vive no estrangeiro com outra pessoa e não planeia voltar a Portugal. Está amargurada com o sucedido. Não quer voltar a expôr-se. Afirma que faria de tudo de novo, mas de maneira diferente. “Portugal deu-me um direito, uma lei, mas tirou-me trabalho, acabou por me discriminar na mesma. Tive invasão de privacidade, tive vários problemas”, relata. “Eu consegui o casamento, mas também posso dizer que essa pressão e os problemas que vieram com isso também acabaram com o meu casamento”.
O caso de Teresa e Helena tornou-se icónico, mas surgiu após um longo caminho de luta e reivindicação pelos direitos das pessoas LGBTQI+, feito maioritariamente por personalidades e coletivos ativistas.
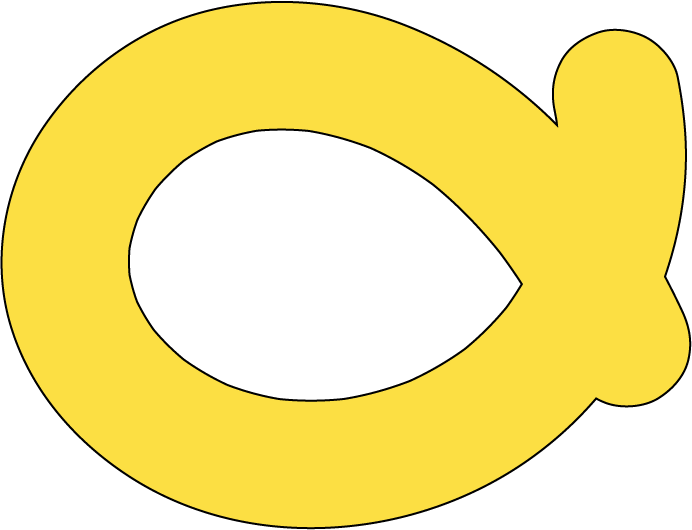


Sendo um contrato social, o casamento civil traz consigo um conjunto de direitos que, antes de 2010, eram negados à população LGBTQI+. A proibição de casar impedia não apenas a formalização pública de uma relação amorosa, mas também o acesso a aspectos inerentes à vida de qualquer casal. O caso de Teresa e Helena foi paradigmático. A discriminação afetava fortemente o seu quotidiano. Um dos aspetos mais importantes era a dificuldade de acesso à habitação, elemento que, aliás, os ativistas destacam como sendo mais problemático e mais diretamente ligado à impossibilidade de casar.
João Paulo, fundador da plataforma online Portugal Gay, relatou ao Gerador uma situação de um casal que vivia junto e que, após a morte de um dos elementos, o outro foi completamente expropriado dos seus bens pela família do falecido, que nunca aceitou a relação. “Estavam a construir todo o seu espaço e quando um deles faleceu, infelizmente, numa acidente de viação, a família que o tinha ostracizado arrombou a porta do sobrevivo, levou tudo – até os tachos – e ainda lhe bateram”, relata o ativista portuense.
Estas situações eram conhecidas e deixavam os envolvidos bastante fragilizados. Sucediam pois, não estando casados, os bens do(a) falecido(a) não eram herdados pela pessoa que com ele vivia.
Os direitos de herança, a divisão de bens ou o acesso conjunto a planos de saúde só foi possível para os casais LGBTQI+ após o casamento se tornar igualitário. Também em contexto de problemas médicos a situação se complicava, com relatos de pessoas a ser impedidas de visitar o(a) parceiro(a) hospitalizado(a) ou sequer de opinar quando estivesse em causa uma decisão sobre a sua vida ou morte.
Tudo isto era o reflexo de um aspecto simbólico mais relevante: a noção de que as pessoas LGBTQI+ eram menos dignas, diferentes, minoritárias e por isso não podiam ter acesso aos mesmos direitos da maioria normativa.
Mesmo com percalços, o casamento contribuiu para uma mudança e abriu caminho para conquistas posteriores, como a adopção ou a procriação medicamente assistida.

“A verdade é que o casamento foi um dos momentos mais mediatizados [das lutas LGBTQI+] e um dos passos mais importantes”, sublinha a antropóloga e investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Joana Brilhante. “Para além do óbvio, [ou seja], da proteção legal e de colocar todas as pessoas ao mesmo nível, o que é importantíssimo, traz também uma componente de auxílio do caminho para a validação social, porque uma coisa são os direitos legais, a law in books, outra coisa é a lei na prática”.
Neste sentido, a antropóloga afirma que a importância do acesso ao casamento civil fica patente na forma como ajuda a desconstruir preconceitos. “O casamento não é apenas legal, é algo público, também”, diz. “É uma manifestação pública e sendo uma lei que mostra que nós, pessoas LGBT, temos os mesmos direitos publicamente do que as outras pessoas, fez com que o tema fosse muito mais falado”.
Na opinião de Joana Brilhante, essa foi a razão pela qual o casamento teve um impacto social superior a outras mudanças legislativas, nomeadamente as relativas a direitos laborais, a não discrimação, etc.
A dignidade da relação passou, assim, a ser reconhecida pela sociedade e esvaziou-se a lógica minoritária, conforme explica Fernando Cascais. O casamento alterou a percepção “de uma comunidade vista como minoritária, como um grupo cujas reivindicações só dizem respeito a ele próprio, isolado, que não tem repercussões, não tem significado, não tem valor, não tem peso para a sociedade inteira”, diz o investigador no NOVA Institute of Communication (ICNOVA), na Universidade Nova de Lisboa e ativista pelos direitos LGBTQI+. “Já não é o combate de uma minoria insignificante, centrada em si, ensimesmada, fechada sobre si mesma. O casamento mostrou que os interesses não são minoritários. São interesses de democratização e de transformação da sociedade inteira e, por esse motivo, torna-se inaceitável discriminar os elementos desta comunidade. A maneira como se atenta contra eles tem a gravidade de um atentado contra qualquer pessoa que não seja minoritária. É esta a ideia”, acrescenta o académico.



O Gerador recolheu testemunhos de sete casais LGBTQI+ que casaram em Portugal, de forma a compreender o impacto da união nas suas vidas. O acesso aos direitos conjuntos é uma motivação transversal a todos, embora alguns também tenham sido mais encorajados pela vontade de ter filhos.
Ana Almeida e Isabel Coelho são um desses casos. Residem na Área Metropolitana do Porto e estão juntas há 14 anos. Casaram em 2016. Fizeram-no por considerarem que só neste ano o casamento se tornou, de facto, igualitário. “Foi quando tivemos acesso a medicina reprodutiva”, explica Isabel Coelho.
A decisão de dar o nó foi influenciada pela preocupação em garantir “plenos direitos” à criança que já desejavam ter. “Para um casal que quer ter filhos, o facto de, à nascença, [a criança] não ser registada no nome das duas pessoas é um grande risco”, acrescenta. “Às vezes fala-se no direito dos casais. Não é [apenas] um direito de casal, é um direito para a criança que nasce no seio desse casal ter acesso direto a todos os direitos de qualquer filho de um casal heterossexual. Isso só aconteceu em 2016”, quando a lei foi alterada e a Procriação Medicamente Assistida (PMA) se tornou acessível a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil ou orientação sexual. Antes disso, só podiam aceder à PMA mulheres casadas com homens. Muitos casais LGBTQI+ deslocavam-se ao estrangeiro para poder concretizar o sonho da parentalidade, mas chegavam a Portugal e ficavam legalmente desprotegidos.
A par da questão parental, Ana e Isabel acreditam que o casamento foi impactante também para as respectivas famílias. “É sempre diferente podermos aceder a um direito que também é um direito das outras pessoas todas, não é? No fundo não sermos ostracizadas pela sociedade”, diz Ana Almeida.
Até o simples facto de “a conservadora estar ali, em representação do Estado, a fazer aquele discurso e a dar-nos esse direito…para as nossas famílias teve um peso enorme”, acrescenta.
“O que eu reparei também foi que, a partir do casamento, foi como se a minha mãe sentisse legitimidade para socialmente dizer, finalmente, que a filha estava com uma mulher. Acho que antes ela tinha muito mais dificuldade ou até evitava e depois desse dia, lá está, talvez pela representação simbólica de haver uma conservadora que diz “em nome do Estado português, considero-vos agora uma família, um casal” o impacto que isso tem nas pessoas à nossa volta é de uma total legitimação da nossa relação e o reconhecimento da mesma”, acrescenta Isabel Coelho.
Embora a nível pessoal, entre os membros do casal, não sejam notadas quaisquer diferenças, quase todos afirmam notar uma mudança de percepção por parte de outras pessoas. Apesar disso admitem que o casamento, por si só, não foi suficiente para mudar mentalidades e que há ainda muito a fazer.
A necessidade de fazer uma afirmação política no seu círculo social foi a principal razão para Rita Pureza e Inês Correia casarem. “[Queríamos] dar visibilidade a isto no nosso núcleo, porque a grande parte das nossas relações de amizade são de um contexto heterosexual e muito normativo”, diz Inês Correia.
Além disso, tinham vontade de contribuir para as estatísticas. Estavam juntas há 12 anos, quando decidiram dar o nó. O casamento acabou por acontecer em 2020, em Lisboa, durante a pandemia de covid-19, o que obrigou a reconfigurar as celebrações.

Descrevem toda a experiência como positiva, excepto num único aspeto: o facto de terem decidido casar fez com que dois amigos manifestassem o seu desagrado, em resultado de crenças religiosas. “Eles decidiram não estar presentes e explicaram-nos que não concordavam. Para nós isso significou um corte”, relata Rita Pureza.
Situações como esta mostram que o casamento não foi suficiente para desconstruir o preconceito, que continua presente na sociedade, conforme explica Rita. “Eu acho que ainda há muito caminho a fazer, mas abriu portas importantes”, diz.
A afirmação política é também relevante para José Eduardo Rios e Bruno Vial, residentes no Porto. Fazem-na diariamente, não só por meio do casamento, mas também através dos gestos de afeto que recusam evitar. “Casar em si, o facto de fazer um casamento ou o facto de você ter um aval, se configura… talvez não na nossa questão de relação íntima, entre nós dois, mas em uma questão social, em uma questão de como que as pessoas te veêm”, diz Bruno Vial. “É, ao mesmo tempo, um ato de demonstração pública, assim como também é um ato de resistência”.
No contexto familiar e profissional, José Eduardo Rios diz notar uma diferença na percepção das pessoas.“É uma coisa que é perfeitamente visível”, afirma. “Quando eu digo ‘o meu marido’ ou quando vêem que sou casado, realmente a expressão é diferente. Parece que a relação é encarada de uma outra forma, socialmente.” Apesar disso, não deixa de frisar que o casamento por si só não mudou as mentalidades e ainda é necessário continuar o trabalho de consciencialização.
Também Sandra e Márcia Soares dizem notar diferenças na forma como a relação é percepcionada, embora não tenha alterado a sua dinâmica de casal. “Havia aquele olhar de um relacionamento homossexual como sendo muito efémero” e também isso mudou, acredita Márcia. O casal já estava a fazer tratamentos de PMA quando decidiu casar-se, em 2020, em Palmela. Apesar de tudo, para a mãe de Márcia, acabou por ter mais peso o facto de terem dois filhos em comum, já que não reconhecia o casamento por si só, devido às suas crenças religiosas.
O acto de oficializar a união acaba por mostrar que “não é apenas uma fase”, “não é um momento”, mas sim algo “que faz parte do projeto de vida”, conforme explica Raquel Sampaio. Raquel casou-se com Rúbia em 2023, em Coimbra, após cerca de dois anos a viverem em união de facto.


A visibilidade pública da relação é um fator que Raquel Sampaio reconhece como positivo, especialmente quando há crianças envolvidas. Embora admita que essas lógicas estão ligadas às tradições e convenções heteronormativas, acredita que, no fim de contas, o mais importante é qualquer pessoa ter a liberdade de escolher.
“É uma reflexão que eu também faço”, admite. “Há uma série de costumes, de tradições associadas ao casamento que são estruturalmente heteronormativas” e que vêm “muito da lógica patriarcal da sociedade”. Apesar disso, “também nos cabe a nós desconstruir essa ideia e contribuir para que o casamento, enquanto instituição, se reinvente e seja cada vez mais uma história de companheirismo, independentemente do contexto de cada um dos indivíduos”.
Com a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo género, o próprio significado da união teve de ser repensado o que, para Ana Vicente, membro da direção da ILGA Portugal, contribuiu para uma mudança de paradigma. “O que eu vejo é que a própria luta, que é contínua, tem de ser esta: mudar os conceitos de género, os papéis de género, o patriarcado. [Tudo] tem de ser desmontado para nós podermos ressignificar muitas outras coisas”.
Ana Vicente – que se casou com a esposa em 2023 – considera que estas convenções podem ser “ferramentas” úteis para tornar a sociedade mais diversa, especialmente quando há um perigo de retrocesso nos direitos já conquistados até aqui. “Há ainda um caminho muito grande para percorrer. Há ainda uma grande necessidade de visibilidade da comunidade. Portanto, sempre que nós saímos à rua, estamos a dizer que estamos aqui e que podem juntar-se a nós e que vamos estar juntas neste fim de discriminação”, frisa a dirigente.