Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


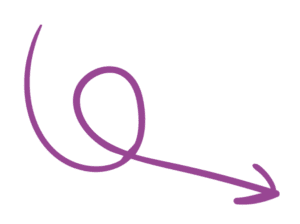

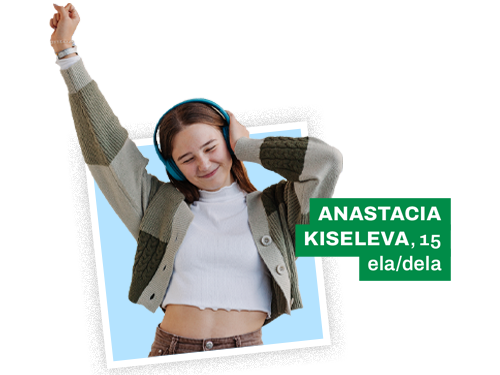


A crise económica era uma das manchetes nos jornais quando Ana Clara Brito, na altura com dois anos, se mudou para Portugal com a família. Vieram de Salvador da Baía um ano depois de “Tropa de Elite”, filme de José Padilha, dar a conhecer além das fronteiras do Brasil o tipo de atuação da polícia nas favelas. No ano em que chegavam à Europa, o filme ganhava o Urso de Ouro na Berlinale. Em agosto, nos Jogos Olímpicos de Pequim, a equipa de vólei feminina brasileira ganhava o ouro.
Esta conquista de uma equipa feminina nos Jogos Olímpicos assume um caráter simbólico quando Ana Clara Brito nos diz ser uma “ativista feminista em aprendizado”. Nestes 16 anos de vida já foi várias vezes questionada e tida em pouca conta por ser “demasiado nova para compreender”, até porque “é uma rapariga e não sabe do que está a falar”. Os membros mais conservadores da sua família dizem-no com alguma frequência. A diferença de visões do mundo cria alguma tensão entre Ana Clara e pessoas adultas da família, mas não deixa de dar a sua opinião. Os assuntos que causam mais discórdia são o aborto, o racismo e a crise climática.
“Eu vou com aquele olhar de uma pessoa da Geração Z que tem uma perspetiva muito mais aberta e uma mentalidade que se diferencia. Acho que as gerações têm sempre uma evolução de uma para a outra, mas acho que a nossa teve quase que uma virada completa da anterior, então chocamos muito”, conta.
Ana Clara destaca, naturalmente, o percurso de mulheres que fizeram com que projetar o futuro fosse mais fácil. Homenageia-as através do que lê, do que vê, das referências que dá, daquilo que canta. No pátio do Liceu Camões, antes da conversa com o Gerador, cantava “La Vie en Rose” de Edith Piaf, pouco antes de se ir embora dizia que Rupi Kaur é uma das pessoas que mais admira — não só pela poesia, mas pelo percurso de uma mulher migrante que se tornou numa referência mundial por tocar com o dedo na ferida em temas tabu associados à feminilidade.
Cantar é “uma fuga” para o resto. “Uma fuga das preocupações e da ansiedade que as outras coisas me causam”, explica. Já quis fazer da música a sua vida, mas percebeu que não era compatível com esta sensação de liberdade que tinha antes de prosseguir estudos no Instituto Gregoriano de Lisboa. Voltou a cantar sem regras. “É dos momentos em que me sinto mais eu mesma, mais livre”.
Pousou o telemóvel no colo para conversar. Naquele telemóvel cabe parte do seu mundo; as suas mensagens, as músicas que gosta de ouvir, as ideias soltas que eventualmente escreve nas notas. Diz-nos que passa “demasiado tempo” das redes sociais e que está ciente de que estas têm as suas “partes más, complicadas, perigosas”. Às vezes é cansativo estar lá, mas parece que há uma força maior que atrai os jovens da sua geração para lá. “Sinceramente, é das coisas que mais mudou a nossa geração em relação às anteriores”, diz. Até porque Ana Clara não consegue imaginar um mundo sem telemóveis, internet ou televisão.
O acesso à internet chegou-lhe mais tarde do que a alguns amigos, mas já lhe trouxe coisas positivas como conhecer uma amiga virtual, com quem nunca esteve ao vivo, que vive nas Caraíbas. “Encontrei essa minha amiga quando estava numa fase bastante difícil da minha vida e não tinha quase ninguém no meu dia-a-dia que percebesse, e ela percebeu. Ficámos amigas até hoje, e já se passaram anos. Ela ajudou-me, eu também já a ajudei, e temos uma relação muito forte. E é muito bonito poder conectar-me com pessoas com quem eu não poderia conectar-me se não houvesse a internet.”
Apesar de nunca se terem conhecido “em pessoa”, acredita que no momento em que visse a sua amiga seria “super normal”. Abraçava-a como abraça as amigas com quem está no dia-a-dia.
Ainda que consiga encontrar alguns pontos em comum com outras pessoas da sua Geração, acredita que o padrão da Geração Z é precisamente não ter um padrão. “Eu conheço pessoas com opiniões completamente diversas, com olhares diferentes, com desejos e objetivos diferentes. Há um pouco de tudo e acho que obviamente há certos padrões que vão sendo estabelecidos pela geração inteira, mas é mais difícil encontrar padrões nesta geração do que noutras”, analisa.








Por estarem mais despertos para as muitas formas de se poder ser e existir, acredita que os temas que mais preocupam os seus pares são “as causas humanitárias”. Com o acesso privilegiado à informação, percebem de forma mais clara os impactos da pegada dos seus ancestrais e vem, com isso, um “sentimento de impotência”. Não podem voltar atrás no tempo para corrigir o que trouxe o planeta até este estado de degradação irreversível, mas também sentem que não conseguem mudar radicalmente o panorama. “ Às vezes sentimo-nos completamente perdidos porque parece que é tarde demais e já não há nada a fazer e, por um lado, dizem que somos nós que temos de mudar o mundo, mas por outro dizem que sou demasiado nova para perceber, para falar sobre e fazer qualquer coisa”.
Ana Clara já ouviu algumas pessoas da sua geração dizerem que não sabem se querem ter filhos porque não sabem que mundo lhes espera. A si e aos seus filhos. Mas não é o seu caso, sabe que quer casar e que quer ter filhos — “sempre quis”. Mas antes de pensar nisso, pensa em ir tirar o curso de jornalista e, provavelmente, emigrar para a Holanda ou para o Canadá. São os lugares onde se imagina a conseguir projetar um futuro, já que por cá a precariedade também a assusta.
Responder à pergunta “onde e como é que te imaginas daqui a 10 anos?” não foi difícil para Clara, apesar do medo do futuro. “Tenho a mania de planear tudo, sou muito ansiosa então tenho necessidade de ter controlo das coisas e de ter algum tipo de plano”, diz. Espera estar “a trabalhar e minimamente estável, independente” e a construir a sua vida. A ideia de ir para fora, que chega com a falta de oportunidades que já sente em Portugal, não a assusta. É como se ser emigrante lhe trouxesse a força para sair quando sente que precisa de procurar uma vida melhor. “Não custa assim tanto. Óbvio que é difícil, mas é possível, toda a gente se aguenta e conseguimos melhor. Então, por que não? O desejo de ir para fora vem de conhecer outras culturas, tentar coisas novas e procurar algo que seja mais para mim.”
Enquanto futura jornalista, importa-se com o que se passa nas notícias. Repara que os jovens são pouco ouvidos, aparecem sobretudo em reportagens sobre a Greve do Clima. Mesmo nesses momentos, nota que grande parte das peças são pouco aprofundadas. Acha que pouco se fala para as gerações mais jovens que mesmo que queiram saber sobre alguns assuntos acabam por pesquisar sozinhas na internet.
Tanto nos jornais como no ambiente familiar, acredita que não existe cedo demais para se falar sobre os assuntos. É a favor de que se fale de tudo, adaptando à idade. “Se não houver a pergunta, esperamos um bocadinho mais para que pergunte ou esteja numa idade mais adequada. Mas se há a pergunta, eu acho que é necessário responder, porque se não vamos estar a incentivar a ignorância, vamos estar a incentivar a ingenuidade e coisas perigosas podem acontecer porque não estão informados e não sabem como é que é suposto agirem em certas situações”, defende.
Foi assim que a sua família fez consigo e é assim que quer fazer com outras crianças e adolescentes no futuro. Enquanto crescia, não só ia tendo acesso à verdade, como via um exemplo de verdade e resiliência: a sua mãe. Foi “um modelo gigante” na sua vida. “ É uma mulher imigrante que estava infeliz e mudou de carreira já na casa dos 50 porque queria ser mais feliz e queria ir atrás do que lhe fazia bem, independentemente de ter medo, independentemente de dizerem que ela era demasiado velha. Ela conseguiu, e está com outra carreira, a começar a ter mais sucesso nessa carreira. O meu pai trabalha fora e só vem a casa de vez em quando e eu vejo como é que ela lida com tudo isso sozinha, como somos só as duas a maior parte do tempo e acho-a uma mulher super forte, que cresceu com uma mentalidade super forte, que conseguiu sair do padrão e abrir um pouco mais a sua mentalidade.”













Se vivesse hoje no país natal dos seus pais, talvez a vida de Anastasia Kiseleva fosse um pouco diferente. A sua experiência em Portugal, onde já nasceu, foi sendo moldada pela condição de emigrantes dos seus pais — o seu nome não deixava esconder que a sua família não era de cá, e conta que foi sentindo choques culturais com amigos portugueses. É que apesar de nunca ter vivido na Rússia, muitas das suas referências, bem como da sua educação vêm de lá.
“Às vezes eu sentia que era um bocado diferente e a minha mentalidade era um diferente das pessoas de Portugal. Acho que isso também tem a ver com os valores que cada família tem. Às vezes penso que tenho valores que alguns jovens não têm”, partilha Anastacia.
Neste que é também o seu país fez danças de salão durante cinco anos, diz-nos que dança para si era “tipo vida”. É provável que ainda hoje, se ouvir alguma música que desperte o seu sentido rítmico, comece a dançar. Durante a quarentena começou a correr e, na altura em que nos encontrámos, disse que queria começar a fazer atletismo. Talvez já tenha começado, entretanto. Há uma liberdade que encontrava na pista de dança que agora encontra na pista de corrida. Foi uma transição mais ou menos natural.
Na banda sonora de uma das suas corridas podia perfeitamente ouvir-se “One Kiss”, a música de Dua Lipa e Calvin Harris, a sair pelos fones. A música que gosta de ouvir cria um universo paralelo onde está consigo, a percorrer um caminho que dura o tempo que a melodia durar. O mundo como o conhece desde quase sempre já permite ouvir todas as músicas que quiser no tempo da sua corrida ou simplesmente para dançar pela casa. Num momento pode estar a ouvir Dua Lipa, no momento a seguir podia chegar até qualquer um dos cantores russos que fazem parte do imaginário da infância dos seus pais.
Anastacia diz, sem hesitações, que a sua geração é muito mais informada. Diz até que aos 6 anos já tinha “noção de mais coisas” do que, por exemplo, no tempo dos seus pais. Tanto a mãe como o pai são “bastante liberais e compreensíveis”. Se tivesse de apontar alguns assuntos sobre os quais costuma haver discórdia entre si e pessoas mais velhas, que não necessariamente os seus pais, diria que são “as saídas à noite” ou “a comunidade LGBTQI+”.
O acesso à internet é um dos principais motivos para que consiga manter uma relação de proximidade com os amigos que tem na Rússia, e que só vê quando vai visitar a família, mas é também uma forma de expandir as relações do dia-a-dia. A internet é uma ferramenta para “saber sobre o Mundo” que ajuda Anastacia a compreender e a descobrir coisas novas, mas sente que por vezes perde demasiado tempo. Essa dualidade entre um mundo com escolhas infinitas e sempre cheio de novidades que é, ao mesmo tempo, um espaço que parece não existir de verdade onde, de repente, se passou duas horas pode ser “assustador”. “A tecnologia tem os seus lados bons e os seus lados maus, que se refletem bastante hoje em dia na juventude”, diz Anastacia.


Por detrás da máscara que lhe esconde o sorriso, Anastasia mostra não ser de muitas palavras mas que quando fala, é assertiva. Sente-se a sinceridade nos seus olhos azuis que vão mudando de expressão — ora estão rasgados quando fala de algo que entusiasma, ora fixos quando fala do que a preocupa.
Um dos momentos em que os seus olhos se fixam é quando fala da ilusão de realidade das redes sociais. Não há dúvidas de que prefere “a vida real à vida online”, e fica incomodada quando vê pessoas que parecem viver mais para o digital. Até porque muitas vezes “nas redes sociais as pessoas são diferentes e não mostram o seu lado real”. Mas Anastacia garante que não tem vergonha de ser como é e, por isso, não sente necessidade de criar uma personagem para se dar a conhecer na internet.
“Se eu fui criada assim, é porque tem de ser, eu aceito. Claro que todos temos algumas inseguranças, mas isso não quer dizer que tenhamos de mostrar um lado diferente ou falso. Por isso acho que temos de mostrar sempre quem é que nós somos”, afirma.
Desde que sinceros, os exemplos de vida de algumas pessoas que atingem o sucesso em alguma área são outro dos pontos positivos que Anastacia encontra nas redes sociais como o Instagram. Mas há uma diferença entre inspirar-se em exemplos positivos e projetar as vidas aparentemente perfeitas de algumas pessoas. “Pode acontecer com uma pessoa que tem imenso dinheiro, que está sempre a viajar, que tem uma vida ‘perfeita’ por aquilo que nós vemos”, diz Anastacia.
“É um bocado complicado porque as pessoas não percebem que as vidas são diferentes, cada um tem o seu caminho e a vida perfeita que as pessoas mostram pode não ser nada perfeita. Pode ser um inferno e as pessoas não estarem a perceber isso. Por isso, eu acho que cada um tem de construir o seu caminho. Pode ganhar alguma motivação, algumas ideias com as vidas das outras pessoas e experiências, mas não imitar ou tentar fazer tudo igual.”
Este cuidado com o que se passa do lado de lá — com a verdade que não se vê à superfície, no fundo — passa também para as dating apps. Anastacia conheceu o seu namorado através da internet, através de um grupo de amigos em comum com quem se encontravam por videochamada (o primeiro encontro ao vivo foi “muito estranho” porque era como se tivessem saído de um mundo e se conhecessem de novo noutro), mas não teria interesse, nem idade para ir para uma dating app. Conheceu o namorado desta forma, dadas as circunstâncias da pandemia, mas pensa que sobretudo nas apps de encontro é difícil arranjar relações duradouras.
“Claro que há pessoas que vão lá com intenções sérias, mas não acho que seja um lugar para encontrar uma relação séria. É algo temporário, que acontece e depois separam-se.
Há excepções em que as pessoas se encontram e é o amor da vida delas, ou então é o melhor amigo, uma alma gémea… mas acho que na generalidade esses encontros não correm muito bem”, sustenta.




Viver uma relação amorosa na Geração Z é, certamente diferente, de antigamente. Lá vão os tempos em que se pagava para enviar SMS e se contavam os minutos das chamadas. Imaginar um casal a namorar à janela é cada vez mais difícil — não foi o caso dos pais destes jovens, nem tão pouco dos seus avós. Há realidades que estão cada vez mais distantes e parecem até difíceis de entrar no imaginário de quem se corresponde em janelas de computador.
Apesar das diferenças, Anastacia diz-nos que o amor para si “é a mesma coisa” que para os seus pais e os seus avós. Tem amigos que não acreditam no amor — “dizem que passado oito meses de uma relação, a paixão desaparece” —, mas não é o seu caso. E só lhe faz sentido acreditar que vive num tempo em que qualquer pessoa pode ser livre para amar quem quiser. Sabe que não é assim em todo o lado, e que há países em que ser homossexual ainda é considerado um crime, mas “tem de haver respeito” porque cada um “sabe da sua vida”.
O futuro profissional de Anastacia ainda está em aberto. Pensou em seguir Gestão, mas ainda não tem a certeza. Vai ler mais, procurar informar-se e depois logo decide o que quer fazer. Na pesquisa que fez até agora procurou pelas “profissões que vão ser boas para o futuro” — “úteis e bem pagas, como é óbvio”. Mas não acredita que existam profissões menos válidas do que outras: “qualquer profissão é importante”, diz.
“Podem dizer: ‘ah estas profissões de as pessoas arrumarem na rua, que vergonha’, mas eu acho que é importante, porque são pessoas que recolhem o lixo e fazem com que as nossas ruas estejam um bocado mais limpas. Todas as profissões são importantes, por isso simplesmente vou tentar seguir aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero.”
A ideia de ‘futuro’ implica uma preocupação com as condições do planeta nas próximas décadas. Já dizem os slogans de manifestações pelo clima: não há Planeta B. Essa mudança pode vir dos jovens, mas tem de ir além de partilhas nas redes sociais: “os posts [de Instagram] são importantes para informar as pessoas, porque começam a ter um bocado mais noção do que se passa no mundo, mas não bastam”. “Aqueles posts que se publica nas stories a dizer ‘vamos doar não sei quê e não sei quanto para as tartarugas’ ou ‘para as crianças num país qualquer menos desenvolvido’ podem dar-nos conta de problemas, mas não basta partilhar”.
E para contribuírem efetivamente para a mudança, os jovens precisam que “as pessoas adultas lhes liguem”. “Acho que muitos adultos acham que a nossa geração é uma geração um bocado mimada por causa das tecnologias”, diz Anastacia. Acha que, por um lado, é verdade, mas por outro são perfeitamente capazes de fazer a diferença. E querem fazer. Para isso, espera continuar a viver num país que a permita ser uma mulher livre. “Tirarem-me a liberdade acho que é uma coisa que não conseguiria suportar”, afirma.
“Acho que cada pessoa tem de ter liberdade de expressão e de escolha — de religião, de sexo, orientação [sexual] e tudo mais.” Sabe que algumas pessoas mais velhas não pensam assim, e que é importante compreender que cresceram e foram educadas noutros tempos, com outros moldes do que era a ‘normalidade’. Não consegue pensar no progresso sem pensar em incluir e respeitar quem ainda não está no mesmo nível de pensamento.
Talvez por achar que é importante nunca esquecer de onde vimos, as suas maiores referências são os seus pais. “Quero ser tão forte quanto o meu pai e a minha mãe”.















Cabelo para o lado, um casaco preto e umas sapatilhas que faziam prever que Bernardo era um dos skaters da escola. Senta-se na sala da associação de estudantes e conta-nos que começou há 5 anos, quando andava no 6º ano. “Eu e os meus amigos descíamos só umas ruas e tal”. Quando a mãe lhe ofereceu o primeiro skate, passou para as manobras. Hoje, garante, identificam-no como “o Bernardo que anda de skate”.
É na internet que vê e partilha vídeos de skate. É uma forma de aperfeiçoar as suas técnicas e conhecer novas manobras, mas também de partilhar o que faz com a comunidade. Não tem por hábito conhecer pessoas por lá, funciona como “a vida real noutro sítio”. “Falo só mais com pessoas que conheço, mas sinto que é como se fosse um mundo à parte e as pessoas fecham-se muito no seu mundo.”
Mesmo quando joga na internet, é sempre com pessoas que conhece na vida real. Diz que “atrás de um computador ou um telemóvel” as pessoas podem não ser “a mesma coisa”. O fenómeno de catfish [criação de perfis falsos na internet] não é de agora, mas existe cada vez mais uma consciência entre os mais jovens. Até aplicações de encontros, como é o caso do Bumble, têm alertado os seus utilizadores quanto a isso.
Para Bernardo, o amor não é como era antes. Já não há “Romeu e Julieta”, diz entre risos. Acha que “antigamente as relações eram muito mais românticas” e “hoje em dia já não se importam com isso”. Será que é a ideia de compromisso que pode ser assustadora?


Bernardo não se recorda do primeiro tema complexo que os pais lhe explicaram. Diz, no entanto, que “é sempre possível falar de tudo” — aliás, é muito a favor de que isso aconteça. “Acho que quanto mais comunicação houver, melhor as pessoas se vão entender.”
Como muitos outros jovens da sua idade, já conversou várias vezes com as pessoas mais velhas da sua família sobre como era o tempo do Estado Novo. Nasceu muito depois da revolução de abril, e embora ouça histórias sobre como eram esses tempos diz que não consegue imaginar o quão mau foi. “É uma coisa que me assusta muito, não termos liberdade para expressarmos o que realmente sentimos e para sermos como somos”. Quer que o mundo avance, não que ande para trás.
Neste seu caminho da adolescência, inspira-se nas pessoas que estão à sua volta para ser quem é. Não olha para pessoas cujo trabalho admira como ídolos; gosta de alguns skaters pelo percurso, mas isso não faz com que queira ser igual a eles ou ter as suas vidas. A sua vida chega-lhe.
Nos valores base de qualquer relação, para Bernardo, está a não descriminação. “Quer seja por razões raciais, por as pessoas serem de países diferentes, de culturas diferentes ou quer seja pelo género da pessoa ou orientação sexual, ninguém devia ser descriminado”, diz-nos.
Para muitas das pessoas da geração do Bernardo, há valores base quando falamos de direitos humanos que foram, também, exigidos pelos seus pais. Houve grandes progressos, mas “ainda há mentalidades muito fechadas”. “Foi muito bom o que conseguimos mas ao mesmo tempo ainda há muito por conseguir, porque ainda há imenso preconceito. Já foi muito bom a melhoria que houve, e sinto que as pessoas podem ser muito mais livres e serem realmente quem elas são, mas ainda assim ainda há muito para fazer”.
Se na geração anterior a regra dos três R’s – Reciclar, Reutilizar e Reduzir – era partilhada por alguns professores nas aulas, à Geração Z chega já com alguma naturalidade. Não é que tenham de o aprender na escola, sabem desde sempre que há coisas que devem fazer pela preservação do planeta. Há pequenos gestos que podem ser tidos em conta no dia-a-dia, que Bernardo enumera: “desligar a torneira enquanto estou a ensaboar as mãos, enquanto lavo os dentes, enquanto lavo a loiça e estou só a pôr detergente”.
Na área que escolheu para estudar na escola secundária, consegue compreender melhor alguns dos fenómenos que acontecem quando o planeta quer manifestar que está doente. Ainda não sabe se é nas ciências que quer prosseguir estudos. Sabe que, para qualquer área que vá, o skate continuará na sua vida. Os desafios de ser um homem adulto, com emprego, parece ser ainda uma realidade difícil de imaginar.


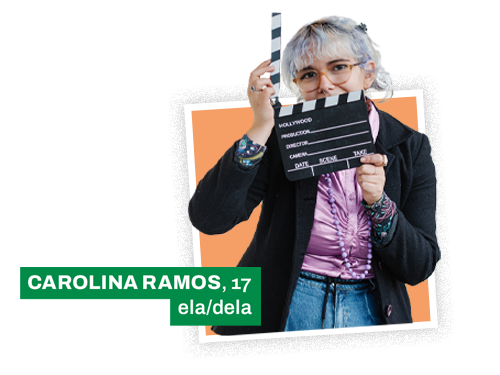
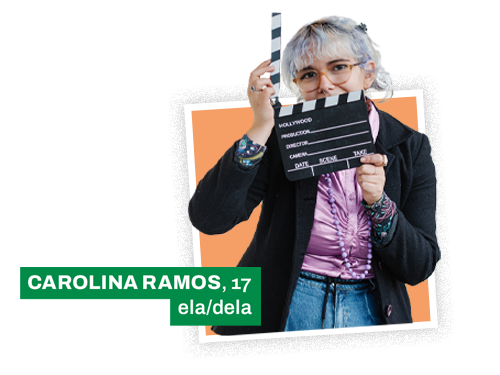


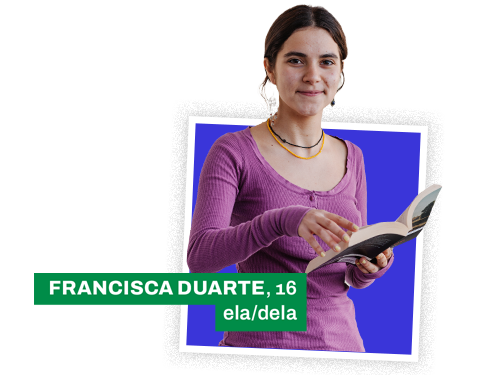
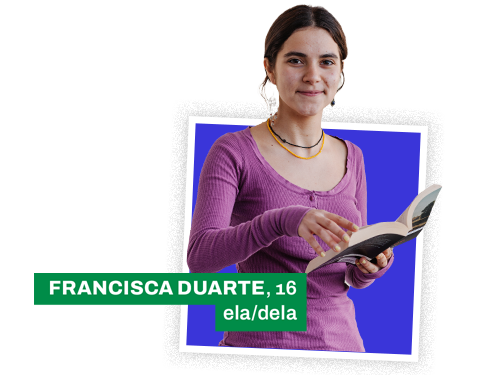













Os telejornais abrem com imagens de uma das tomadas de posse mais temidas dos últimos anos. É dia 20 de janeiro de 2017 e Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos da América. Esse ano seria também conturbado no Brasil. Lula era ainda um possível candidato pelo Partido Trabalhista (PT) para ocupar, mais uma vez, o lugar de presidente do país. Mas este acabou por ser o ano em que Jair Bolsonaro solidificou o seu caminho até ao poder.
Num ano de tumultos e uma sensação de medo generalizada em relação ao que estava por vir, a mãe de Carolina Ramos decidiu emigrar. Trazia pela mão uma filha de 13 anos, que estava a prestes a viver a sua adolescência em Portugal. Foi em Lisboa que encontraram um lugar a que puderam chamar de casa e que tiveram melhores perspetivas para o futuro. Na saúde, na educação, no emprego. Na liberdade.
Agora com 17 anos, Carolina move-se por uma vontade de ver todas as pessoas a viver da melhor forma possível, num ambiente com justiça. Acha que a sociedade está cada vez mais “virada para a individualidade” e que nos falta, a todos, uma visão interseccional e consciência de que “as coisas são todas maiores do que nós”. Quer que vejamos além da bolha.
Nos livros que lê, na música que ouve e nos filmes que vê é isso que procura, uma sensação de liberdade. Não é por acaso que nos indica Little Simz, rapper britânica, quando lhe pedimos uma música. “Understand you’re human, be proud. Your light will shine in the darkest hour” [Percebe que és humana, orgulha-te. A tua luz vai brilhar no momento mais difícil], diz Little Simz em “Gems – Interlude”. A força da juventude de Simz assemelha-se à de Patti Smith no livro “Apenas Miúdos”, o favorito de Carolina. As suas referências dizem-nos aquilo que quer ser: uma mulher livre.
Tem muito a dizer sobre o mundo que a rodeia. Nem sempre as pessoas mais velhas, inclusive o irmão (que é de 95), a percebem. Acham que é nova demais, que não viveu o que eles viveram, que a sua experiência de vida não basta para dar opiniões sobre assuntos sérios. “Assuntos de adultos”. Mas sabe que não fazem por mal — “é uma cena que está embutida em nós, quanto mais nova a pessoa for, menos razão ela tem”. Carolina entende, mas acha — aliás tem a certeza — que todas as visões são válidas, só partem de um lugar diferente. “São perspectivas diferentes mas igualmente importantes.”
Os assuntos em que sente mais uma divergência de perspetivas são a sexualidade e as questões de género. É, sobretudo, uma diferença na sensibilidade. “Nem é uma questão de não respeitarem, mas de olharem para isso com uns olhos completamente diferentes, menos abertos. Principalmente das nomenclaturas ou rótulos. Por exemplo, tentar explicar para a minha mãe o que são pronomes neutros é super estranho, no entanto se ela conhecer alguém que usa pronomes neutros, ela consegue reconhecer que aquela pessoa não se identifica com nenhum género”, explica Carolina. Tudo se tornou mais simples para a sua mãe quando Dr. Kai Bartley, a primeira personagem não-binária de “Grey’s Anatomy” [Anatomia de Grey] surgiu no ecrã. “Aparentemente ‘Grey’s Anatomy’ é mais didático do que eu”, diz em tom de brincadeira.
A grande diferença que aponta entre a geração da sua mãe e a sua é a abertura que hoje existe para se pensar além da sobrevivência. “Quando ela tinha a minha idade, as pessoas homossexuais, na escola, eram completamente gozadas e sofriam de assédio, bullying, e agora acho que para as pessoas adultas pode parecer picuinhas as nossas questões. Tipo ‘o que é pronome neutro? que bom que as pessoas não estão a ser espancadas na rua’.” E não é que hoje não existam casos de bullying nas escolas, mas o progresso permitiu que se começasse a pensar e a exigir mais.
Agora têm “tempo para ler Judith Butler”. No seu caso, pode ler Judith Butler no recreio sem ser questionada.


Nos tempos livres, Carolina frequenta o Clube de Cinema do Liceu Camões. Quis perceber a magia por detrás dos filmes, o som é o que mais a encanta. Como qualquer outra jovem da sua idade, também tem aplicações de redes sociais instaladas no telemóvel e também passa algum tempo por lá.
Neste momento, já só quase só usa o Instagram. Costumava gostar do Twitter, mas acha que se tornou “uma bola de discussões políticas bastante infundadas de pessoas que leram um livro uma vez e acham que sabem muita coisa”. No Instagram conversa com os seus amigos, publica fotografias “genuínas e casuais” e mantém-se a par do que se está a passar no mundo. As redes sociais já não são assim tão relevantes na sua vida, vê-as como uma forma de manter o contacto com a sua comunidade quando não estão juntos. Privilegia o contacto físico, as trocas de olhares, as gargalhadas que são dadas em conjunto depois de um acontecimento presenciado ao mesmo tempo — por isso, os confinamentos foram muito difíceis para si.
“As quarentenas foram terríveis para mim, porque eu não saía de casa, não podia estar com os meus amigos, tinha de falar por mensagens e não sentia que estava a falar de verdade. Estava a comunicar, mas não é a mesma coisa. E eu não consigo ser eu assim.”
Porque tem uma preocupação com as pessoas que estão além da sua bolha, diz estar numa posição de privilégio por estudar no Camões, “onde há pessoas de todos os tipos”, e por isso sabe que a internet pode ser uma ferramenta importante para quem não encontra a sua comunidade na vida real. Mas diz que é preciso ter cuidado com as relações que se criam por lá: não só porque não se sabe quem está do lado de lá do ecrã, mas também porque a forma como olhamos uns para os outros parece estar a mudar.
Esta mudança nota-se sobretudo nas aplicações de encontros. Carolina conta que um amigo instalou o Tinder há umas semanas e que reparou que “parece que vai sempre haver alguém”. O amigo deu match com três raparigas e foi deixando de falar com cada uma à medida que o match era dado com outra. “Há sempre mais alguém, portanto não há razão para tentares de facto conhecer a pessoa, porque vai haver mais uma que talvez seja melhor”, explica. Esta “ideia da oferta em demasia” é estranha para si, mas diz que sabe que para outras pessoas pode resultar. “Não desmoralizo a pessoa ter Tinder, só penso muito nas implicações que tem na forma como olhamos para as pessoas que conhecemos e as relações que construímos.”
À sua volta, “há imensas pessoas que já não acreditam no amor em parâmetros normativos”, mas é inegável, para si, que a sua Geração tem questionado como é que se vive ou celebra o amor. O casamento não faz sentido para todos, e há quem tenha dificuldade em aceitar o compromisso porque “as coisas como as conhecemos não são certas”. O “planeta está a morrer”, a escola nem sempre é fácil, há quem tenha “problemas em casa”. “É um grande baque para quem tem 15, 16, 17 anos”. A incerteza quanto ao futuro do planeta e as idiossincrasias na adolescência trazem “uma sensação de desmotivação”.
Ser adolescente e ter passado dois anos com regras que limitam como é possível viver a adolescência pode ser desmotivador. Pode até ter efeitos na saúde mental. Com tantas restrições, as possibilidades de imaginar um presente ficam comprometidas. Mas Carolina consegue imaginar um futuro. Quer ser diplomata, daqui a 10 anos imagina-se a trabalhar com algum embaixador, num lugar interessante. Quer estar feliz, “mais resolvida com algumas questões”, com mais respostas para questões que lhe causam “ansiedade sobre o futuro”.
Assusta-a a ideia de ser infeliz, o desemprego. Quer tentar ao máximo não se “colocar em situações” que lhe tragam infelicidade. Tem medo da ascensão da extrema direita na Europa, mas acredita que “estamos a crescer como sociedade, como pessoas cada vez mais conscientes e informadas, e que vamos conseguir combater isso”. O seu professor de Ciência Política costuma dizer, citando Marx, que “a história acontece duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como comédia”. Carolina só quer lidar com a comédia, porque já houve tragédia suficiente. Foi essa tragédia que a trouxe para Portugal. E é em liberdade que quer sempre continuar por aqui.













Entra pela sala enérgica, assim que fala dá a entender que é irrequieta. “Eu acho que sou uma pessoa bastante divertida, então à minha volta gosto de ter pessoas com energia positiva e que queiram conhecer-me melhor. Eu gosto mesmo de estar a rir e a fazer piadas. No geral, acho que sou uma pessoa cómica”, explica logo Clara. Considera-se uma pessoa criativa, gosta de estar com pessoas que estimulem essa criatividade e que sejam bem humoradas também. “Gosto sempre de estar para além dos meus limites”, diz.
Aos 10 anos começou a tocar piano. Encontrou algo de que realmente gostava, que a acalmava. Sentia que a música era o seu refúgio. Quando começou a ter as aulas de piano, foi deixando de prestar atenção e perdeu algum entusiasmo — não gostava de ter alguém a dizer-lhe o que fazer. Saiu das aulas. Tem um piano em casa, toca quando lhe apetece, a sensação de liberdade voltou.
Entre a sua família, também se sente uma adolesente livre. Conta que os pais sempre perceberam os seus problemas — apesar dos seus “dramas” não serem os mesmos que os deles. Diz que lhes deve aquilo que é hoje, mas não esquece os amigos e o papel que os professores da sua antiga escola tiveram. “Éramos como uma família”.
Por casa, não há propriamente assuntos tabu. “Eles têm mentes muito abertas”, diz-nos. E mesmo quando são assuntos a que atribui mais importância do que os seus pais ou os seus avós, Clara conta que tenta mostrar-lhes o que é importante. “Não os posso julgar se eles tiverem uma opinião mais antiquada porque naquela época também ensinavam as coisas daquelas maneira”, diz.
Algumas das opiniões que tem hoje surgiram através de conversas com amigos e de notícias ou publicações que leu na internet. Desde pequenina que lê o Expresso dos pais, em papel, mas desde pequenina também que tem acesso a um mundo de informação à distância de um clique. “A internet tem vindo sempre a ser uma grande parte da minha vida”, conta. Ao mesmo tempo, sente que perde algum tempo enquanto podia estar a ler um livro ou a ver um documentário. Tem tentado passar menos tempo no telemóvel. É essa a vantagem dos adultos que cresceram sem internet: “ganham tempo para fazer coisas importantes”.
Pode haver coisas importantes a acontecer na vida online, mas acredita que nada se compara ao mundo real. Nem mesmo as relações de amizade. “Há muitas pessoas que dizem coisas online que não serão capazes de dizer na vida real, e isso faz um bocado impressão porque se és assim na internet, então também devias demonstrar ser assim na vida real. Mas acho que há pessoas que se sentem mais frustradas com a vida e nas redes sociais são mais maldosas”, analisa.
Não é, por isso, adepta de conhecer pessoas na internet, mas inevitavelmente conhece pessoas da internet. Já lhe aconteceu ver uma pessoa que seguia no Instagram, ela também a seguia a si, tinham “uma conectividade social” mas quando se viram na rua havia uma barreira. Conheciam-se sem se conhecer. É difícil transportar um mundo para o outro.


Quando perguntamos a Clara qual é o grande assunto que a sua geração acredita que devemos ter em atenção, aponta-nos as alterações climáticas. Admira Greta Thunberg, jovem ativista sueca que se destacou em 2018 quando fez uma greve às aulas e ficou em frente do Parlamento à espera que os líderes do seu país agissem e cumprissem com o que tinham prometido. Thunberg tinha mais ou menos a sua idade quando o fez.
“É uma adolescente como nós e eu acho que ela tem mesmo muita coragem por se tornar uma personalidade no mundo inteiro apenas com 16 anos. A Greta inspira-me bastante porque ver uma pessoa que logo desde cedo começa a querer marcar a História mostra que é mesmo alguém que quer seguir os seus passos. Apesar de ser uma estudante, nunca quis desistir.”
Clara já pensa sobre o seu futuro profissional. Daqui a 10 anos, imagina-se a estudar direito. “Gostava muito de ir para uma área criminal, ser advogada criminal, porque me fascinam os crimes”, partilha. Na hora de escolher a área de estudo no ensino secundário, optou por Ciências com Biologia porque achou que teria mais oportunidades. Por momentos pensou até em artes, mas não tem “muito jeito” e sentia que a probabilidade de acabar desempregada era mais alta.
“Quando vejo assuntos como a precariedade e o desemprego a serem discutidos em em Portugal, acho que é mesmo porque há falta de oportunidade de trabalho, não é porque as pessoas não têm qualificações suficientes. É porque não há esse interesse pelas artes.”
Na sua perspetiva, ainda há muito por mudar, mas há também que reconhecer os avanços que foram sendo feitos. Pensar em voltar atrás é “muito estranho”. Aliás, nem questiona se poderá, um dia, acontecer de facto uma revolução no pensamento: “se houve uma revolução contra o fascismo era porque a maioria dos portugueses estava contra as ideias que Portugal impunha”. Se a extrema direita fosse predominante na Europa, está certa de que “todos os que marcaram a História ficariam desiludidos com o retrocesso da mentalidade das pessoas”.
Hoje, sobretudo entre as pessoas à sua volta, “é muito mais estranho haver uma pessoa homofóbica do que uma pessoa que apoia a 100%”, por exemplo. Nota que existe uma preocupação cada vez maior com as desigualdades, e gostava que existisse algum espaço nos meios de comunicação que conseguisse reunir os assuntos dos adolescentes.
“Já está?”, pergunta no final da conversa. Clara é concisa e direta. Não é de muitas palavras, mas é muito expressiva quando fala. Gostava que se olhasse para o mundo com assertividade, mas com alguma descontração.



















“Quem é que eu sou? O que é que eu gosto de fazer? Na escola somos muito deparados com essas perguntas. Eu acho que gosto de fazer o máximo de coisas possíveis e de gostar do máximo de coisas possíveis. E isto aplica-se também às pessoas”, diz. É a segunda a entrar na sala de entrevistas, está um pouco nervosa com as questões que poderão surgir. Mas sabe que irá responder com naturalidade, o nervosismo não tarda muito até passar.
Francisca traz um livro debaixo do braço. Gosta muito de ler. É nas palavras de outras pessoas que vai encontrando mundos que desconhece, mas que vai sabendo mais sobre si mesma também. “Às vezes sinto que tenho de ter um ‘eu’ e estar presa no meu ponto de vista. Então, gosto muito de ler e de fazer teatro, de tentar estudar uma personagem e entrar nela.” Da sua identidade fazem parte muitas pessoas, muitas personagens, muitas histórias.
Estudou em filosofia que temos “muitos eus”. “ Somos feitos de outras pessoas, da nossa circunstância, de onde crescemos, de onde vivemos, das pessoas com que nos damos”. É por isso que é feita também de todas as narrativas com que se cruza e que não são necessariamente suas. Mas concretamente, sobre si, conta-nos que é de Lisboa e tem os pais separados. Esta última informação podia ser irrelevante, mas acredita ser também importante para que a compreendamos e para que consigamos distinguir a sua geração das anteriores: cada vez tem mais amigos com pais divorciados. “Antes a minoria era pessoas como eu, agora mudou”.
Os seus pais têm “um espírito muito ativista e revolucionário” que, acredita, fez com que crescesse em liberdade. Nunca lhe disseram como deveria ser. Isso não implica que, por vezes, não discordem em determinados assuntos — diz-nos que é normal, é “aquela relação de pais e filhos”. “Acho que é mais quando converso com eles, não é tanto os pontos de vista não serem os mesmos, é mais em conversa eu querer ser ouvida”, explica.
Francisca tem uma voz suave, hesitante mas ao mesmo tempo segura. Tem algumas certezas, mas está consciente de que tudo pode estar em aberto. Sabe, aliás, que o mundo está em constante mudança. É no processo de transição que às vezes se distancia da visão dos seus pais. “Há muitos conceitos a desenvolverem-se e a ganharem importância”, explica. Enquanto para a sua geração esses conceitos que menciona (que estão relacionado sobretudo com questões de género e identidade) chegam de uma forma “natural”, para a geração dos seus pais ainda precisam de ser assimilados com tempo.
“Eles sabem os conceitos, querem saber mais, e os que se importam com eles querem fazer por evoluir, mas não o fazem com normalidade. Acho que até há um preconceito positivo, tipo ‘ah sim, esta minoria’. Ou quando eu digo à minha mãe ‘a minha amiga começou a namorar com uma rapariga’ e ela diz ‘ai que fixe, bué bom’ e eu ‘não, é bué normal’”, explica entre risos.




Alguns amigos de Francisca conhecem pessoas novas e interessantes na internet, mas não se identifica muito com essa forma de fazer amizades. Precisa de ver a pessoa, de a olhar, do contexto físico em que estão as duas. Nas redes sociais tenta não publicar muito sobre a sua vida; se estão 400 pessoas a segui-la, e essas 400 pessoas não são suas amigas próximas, não faz sentido que tenham acesso a detalhes da sua intimidade.
“Eu não me interesso por uma pessoa pela sua aparência ou pela coisa que fez nesse dia. Interesso-me pela forma como ela fala, as suas expressões, o seu andar, a presença. O ambiente da presença da pessoa. A vibe”, diz.
A internet é uma ajuda para pesquisar mais sobre temas que lhe interessam, descobrir outros novos, para aceder a caminhos e facilitar a locomoção, para ouvir músicas de vários artistas diferentes. Mas para conhecer outras pessoas “não é mesmo natural”.
Nota que existe, muitas vezes, uma desconexão do que a pessoa é na vida real e no Instagram. Já lhe aconteceu desconstruir a percepção inicial que tinha de alguém depois de fazer a transição Instagram-vida real. Acha, no entanto, que já parte do princípio de que não vai haver um match. É como se mesmo antes de encontrar na vida real alguém que apenas viu nas redes sociais já soubesse que não vai ser a mesma coisa.
Nas ideias, Francisca sabe o que é que considera bom e mau, interessante e desinteressante. Mas na prática, nem sempre é bem assim. Apesar da segurança em alguns assuntos, há outros em que acha que existe “um choque” entre a sua “opinião teorizada” e o que sente. “Acho que é muito aquela coisa de nós termos uma ideia muito teorizada das coisas, e termos muitas opiniões formuladas — ’isto é assim, isto não pode ser assim, isso é desta forma’ — mas na prática não estamos completamente correspondentes com isso. Isto é uma coisa muito da minha geração.”
Faz um paralelismo entre esta tensão entre aquilo que se sente ou se faz e aquilo em que se acredita com as partilhas de Instagram. Nas stories, pode publicar-se algo que nos indique “7 coisas que podemos fazer para não tratar mal estas pessoas”, e na realidade as atitudes podem não ser tão conformes assim. Francisca acha que estas partilhas de redes sociais criam algumas verdades aparentemente absolutas que não deixam margem para o diálogo, nem tão pouco para que se possa aprofundar os assuntos em questão.
“Hoje em dia nós abrimos o Instagram, fazemos um scroll e é um post sobre Black Lives Matter, outro post sobre como não ser transfóbico, e é tipo uma enchente de coisas que queremos todos estar a par e saber, estar informados, mas é um bocado impossível conseguirmos gerir e agarrar mesmo o interesse a sério sobre tudo.”
As grandes questões com que se tem debatido nos últimos tempos são, sem dúvida, as alterações climáticas — “é preciso fazer alguma coisa por isso, mais do que ir só a uma greve para faltar às aulas ou publicar coisas no Instagram” — e a transfobia no feminismo. Não consegue perceber como é que há quem não considere mulheres trans mulheres e não as queira incluir na luta feminista. Pensa que para as pessoas da sua idade se começam a exigir mais direito para as pessoas trans, e para a comunidade LGBTQI+ em geral, já que estão “muito mais conscientes, inclusivos e abertos para pensar e falar sobre isso”. Pelo menos é o que sente na sua “bolha” e através das suas redes sociais — ainda que esteja ciente de que o algoritmo pode tornar essa percepção enviesada. Na internet, nem tudo o que parece é.
Nos tempos livres, Francisca lê muito. Gosta de J.D. Salinger, Manuel da Fonseca, mas Maya Angelou foi daquelas autoras que leu uma vez e quis arranjar todos os livros que lhe faltavam. Tem pensado em como poderá concretizar o que gosta de fazer nos tempos livres, hoje, com um eventual emprego. Já pensou em seguir Ciência Política, Teatro e Literatura. Já pensou em sociologia porque lhe interessava estudar de onde vem este fenómeno a que a sua geração parece estar condenada, chamado precariedade. Ainda tem tempo para tomar uma decisão.
É uma adolescente que gosta de estar informada, os seus interesses assim exigem. Não aprofunda muito as leituras, conta-nos, mas segue o Público no Instagram e é por aí que acompanha o que se passa no país e no mundo. “Leio as letras gordas no Instagram, e depois quando me interessa vou ao site e leio o primeiro parágrafo para saber mais”.
Em sua casa, nunca lhe esconderam nada nem deixaram de responder a perguntas. Sabe o que está além da sua bolha desde que se lembra de ser gente, e como acha que correu bem consigo, porque a tornou uma adolescente consciente, não acredita que exista cedo demais para falar sobre o que quer que seja. O que mais a assusta, neste momento, é precisamente que exista tanto a acontecer e que tanta gente pareça despreocupada. Aponta para o Afeganistão, sublinha a ascensão da extrema direita na Europa. Tudo isso a entristece.
Sendo Francisca uma jovem preocupada com o que está à sua volta, as grandes referências da sua vida são pessoas que lutaram para que hoje possa viver em liberdade e com conforto. A sua bisavó que cresceu num bairro operário, precário, e que chegou a passar fome — “isso sentia-se muito até na forma dela falar e de ser, era muito forte”. Admira muito as populações indígenas do Brasil por mostrarem que há muitas formas de projetar um futuro e uma sociedade, e pelos séculos de resistência. É isto que a move: a aproximação entre o que está perto e o que está muito longe, uma fusão daquilo que parece improvável.
&nsbsp;





















Gaspar entra sem fazer muito barulho. Pela postura, dá a entender que a dança lhe está no corpo. Mais tarde, diz-nos que dança o que lhe vai na alma. É uma pessoa sensível, olha atentamente para o mundo e gosta de compreender o comportamento humano. Gosta de dançar, de conhecer pessoas, de as compreender, de com elas conhecer o mundo.
O seu caminho não foi propriamente linear, mas tudo o que fez eventualmente fê-lo chegar a bom porto. No Conservatório de Música de Lisboa a aula de que mais gostava era expressão dramática. Acabou por sair do conservatório porque, afinal, era mesmo daquilo que gostava. “Fui para um grupo com pessoal que me dava aulas no conservatório e aí nasceu um bocado esta cena da dança. No inicio, era um bocado esquisito porque queria que pusessem umas músicas tipo Michael Jackson para eu dançar como estava habituado ao que era dançar”, recorda. Com o tempo, ressignificou o que era dançar.
Ressignificar é algo que Gaspar costuma fazer com frequência. Tenta ser compreensivo, gosta de saber deixar ir o que em tempos foi certo. “Fico contente quando descubro outra perspetiva, vinda de outra pessoa com quem me relaciono.” Por ser desta forma, diz-nos que já se sentiu incompreendido por ser jovem, mas que são mais as vezes em que tenta compreender e, por isso, acaba por ser compreendido também.
Quando estava na barriga da sua mãe, o primeiro modelo de iPhone estava a ser construído nos escritórios da Apple. Essa invenção seria completamente transformadora e viria a moldar também a forma como a sua geração se viria a relacionar com a tecnologia. Tem sido uma relação complexa. Gaspar diz mesmo que nem sempre é fácil gerir o que a internet traz de bom e de mau. Apesar de ter a idade do iPhone, a sua relação com telemóveis e outro tipo de dispositivos eletrónicos foi um pouco tardia — “acho que os meus pais fizeram um bom papel quando eu era pequeno ao não me deixarem aproximar demasiado destas novas tecnologias”, analisa.
Teve o seu primeiro telemóvel por volta dos 10/11 anos por “questões práticas”. “Aí é que entrei neste mundo”. Antes disso lembra-se de ver com olhos pequenos os seus pais a trabalharem nos seus computadores, a atenderem chamadas nos seus telemóveis, com uma distância que lhe dizia que havia uma fronteira, que eram coisas de adultos. Hoje também faz chamadas com amigos, escreve-lhes mensagens, mas acha que nada substitui a comunicação presencial. Para si, escrever uma mensagem é ainda mais superficial do que escrever uma carta.
“Quando uma carta é escrita por alguém, mesmo em máquina de escrever – onde não há o manuscrito – , há muito mais de ti que é transportado para a outra pessoa. Mesmo escrito a máquina de escrever, estiveste ali a gastar o teu tempo, não é uma impressora ou um email que codificou aquilo e reproduziu para enviar a outra pessoa. Acho que há muito mais de ti, e daí também consegues expressar muito mais sentimento.”
Falar atrás de um ecrã pode ser útil — já foi algumas vezes. Mas quando se fala por mensagens, há muito que se perde.




Foi mais ou menos na altura em que Gaspar teve telemóvel pela primeira vez que se começou a desenvolver o conceito de Influencer, que designa alguém que influencia de alguma forma uma comunidade nas redes sociais. Diz-nos que pode ser interessante do ponto de vista sociológico, “para conheceres a cidade em que vives, as pessoas da tua idade”, mas que quando se encontra essa pessoa na vida real há uma aura que se quebra. Nas redes sociais, tudo pode ser mais superficial.
Há quem diga que para a sua geração o amor já não existe nos parâmetros normativos, que é mais superficial. Concorda que talvez existisse “mais ligação” antigamente, mas está certo de que hoje há mais formas de amar. Isto é, aceita-se que existam mais formas possíveis de amar e expressar o amor. Os avanços tecnológicos que têm existido têm tido, também, um impacto na forma como se pensa o amor e as relações. Na sua opinião, não tão positiva assim.
Esta ideia de escolha infinita, que relaciona com o capitalismo, cria uma sensação de que nenhuma opção é a ideal ou suficiente. Mas, antes disso, as escolhas são feitas apenas pela aparência da pessoa e uma descrição breve, em caso de aplicações de encontros como o Tinder. “Cria esta sensação de ‘temos tanta opção, vamos não desperdiçar tempo numa cena que se calhar até nos pode dizer alguma coisa quando temos tanta coisa pela frente’ e depois não aproveitamos nada.” Com isso, vem o medo do compromisso e um culto da individualidade.
É curioso que se por um lado a sociedade parece caminhar num sentido cada vez mais individual, por outro crescem movimentos que unem elementos inesperados em torno de uma mesma causa, como é o caso da Greve Climática. Gaspar sente que a grande diferença da sua geração em relação à dos seus pais é que a sua está finalmente a soltar-se das amarras do salazarismo e que “ condenou um bocado a prosperação do ativismo na geração deles”. “Sempre muito presos naquela ideia de manter tudo como está, viver humildemente e contra grandes avanços para manter tudo como está.”
Finalmente têm liberdade para correr riscos para que as coisas deixem de ser como sempre foram. E estão a fazê-lo com a ânsia de quem já esperou tempo demais. “Vamos andar para a frente, vamos aceitar-nos uns aos outros, vamos tornar o mundo um lugar melhor. Mais habitável. Acho que poderia descrever a minha geração como isso: a geração que se largou dos princípios fascistas e quis andar para a frente. E acho que é uma impulsão que vai continuar para as próximas gerações”, analisa.
Há coisas que devem ficar no passado, mas há outras que se devem recuperar. Gaspar refere-se a empregos que foram sendo desvalorizados ao longo dos anos, mas que são fundamentais para “nos compreendermos”. Fala de áreas ligadas à cultura e ao estudo das civilizações. Quer contribuir para a mudança e valorizar “postos de trabalho que estão tão ligados em rede”. É que enquanto essas áreas vão caindo, outras vão ganhando cada vez mais espaço. Imagina-se a trabalhar em museologia, ou então a ligar a antropologia ao teatro.
Se há uma certeza para Gaspar, é a de que quer que o mundo continue a avançar. O contexto político atual fá-lo temer por algo que sempre deu como garantido: a liberdade. “Eu próprio sou LGBT, mas tenho amigos LGBT que estão em relações e às vezes ponho-me a pensar ‘é incrível isto existir e as pessoas viverem isto de uma maneira tão normal’. É mesmo incrível termos chegado a este ponto”, explica. Neste momento, está assustado com “a possibilidade de espaço para crescer” que a extrema direita tem tido e diz, convicto, que é preciso mais ação.
“Tenho imenso medo de perder esta liberdade e quero lutar por ela. Não é uma coisa garantida, é algo por que temos de continuar a lutar, temos de continuar sempre a pressionar para o progresso porque se deixamos de nos fazer ouvir e se nos deixamos de concentrar em toda a sociedade, perdemos imenso poder e voz. Acho que é um bocado isso que está a acontecer.”
Em casa, acompanha o crescimento dos irmãos mais novos. É também neles que pensa quando fala em lutar pela liberdade. Já sabe o quão desafiante pode ser educar uma criança, conversa com os seus pais sobre isso. Mas acredita que não existe cedo demais para conversar sobre o que quer que seja com os irmãos, é sempre uma questão de contexto. Educar para a diversidade fará a diferença nos adultos do futuro, acredita. Isso e educar para que se valorize a comunidade, mais do que o indivíduo.
As pessoas que mais admira dizem muito sobre aquilo que é. Os seus pais, que o educaram, a avó, que trabalha em museus, e todos os grupos que têm um trabalho contínuo no ativismo. “Gosto imenso da comunidade, especialmente no ativismo, do envolvimento em comunidade, do que propriamente uma pessoa em especial. Não é um culto à volta daquela pessoa, é mais à volta da ligação e de vivermos todos juntos pacificamente e em liberdade”. Falar do Gaspar é falar, sempre, de todos os grupos em que se insere e que orbitam à sua volta.















À porta da sala de aula em que viria a sentar-se connosco, já ao final da tarde, Inês conversa com Carolina sobre livros. Comentam o último romance de Sally Rooney. Ambas gostam de ler e admiram autoras do seu tempo e de outros tempos. Inês nunca esqueceu as sensações que ler “Northanger Abbey” lhe trouxe; passou a admirar Jane Austen pela coragem de publicar um texto daqueles, com “comentários tão à frente”, no século XIX.
No Liceu Camões, está a estudar ciências. É uma área que a fascina e tem a certeza que o seu futuro profissional irá passar por aí, talvez na matemática ou na física. Mas não quer deixar de parte a arte e a literatura, tudo o que a alimenta e que vai além de uma ideia de emprego ideal. E quando pensa no emprego ideal não se fica apenas pelo tipo de projetos que poderia fazer; interessa-lhe que a estrutura da empresa tenha as suas preocupações éticas.
“O meu sonho é poder encontrar um lugar em que eu possa trabalhar que trate bem os trabalhadores, não só os de mais alto nível, mas toda a pirâmide que constitui a empresa, seja pública ou privada. Que me respeite enquanto trabalhadora, que respeite os outros trabalhadores e que não queira só ser pró-lucro, mas tenha uma missão, um propósito. Que queira mudar o mundo, de certa forma.”
Inês não nos disse que sonha, a nível individual, com mudar o mundo. Está ciente de que essa é uma tarefa grande demais para que uma só pessoa a queira abraçar, e que para isso é preciso que existam mudanças estruturais. Consegue até apontar alguns caminhos para a mudança — e fá-lo num tom assertivo, seguro. A sua geração, diz-nos, já atingiu a primeira etapa — a consciencialização — no grande tema dos seus tempos, a crise climática, mas falta agir.
“Somos uma geração muito consumista e até as coisas que se dizem eco-friendly nós queremos consumir. Acho que se prende com um problema de consumo excessivo e que somos muito propícios a cair em esquemas de greenwashing. Temos uma veia muito de comprar e se virmos que é amigo do ambiente cai-nos a culpa do ambientalismo, que muitas vezes vem com a questão do consumo, e então consumimos mais”, explica. Mudar o mundo passa, também, por tomar decisões conscientes, e por fazermos uns pelos outros. “Não é justo as pessoas com menos possibilidades ficarem em desvantagem por uma obsessão de ser verde”, explica Inês.
Sabe do que fala, mas nem todos os adultos a levam a sério. Sente que gostam de ouvir mas, por vezes, é como se tratasse de uma “experiência social”. “Ouvir a minha opinião, mas com a consciência de que há uma grande naïveté da minha parte”. Será ingenuidade ou falta de formatação?


“Nos adultos, em geral, há uma tendência para relativizar e contextualizar e explicar o porquê das coisas com as quais às vezes estou a ir contra. Falar com os adultos sobre assuntos como racismo ou feminismo é um bocadinho difícil porque eles são filhos de pessoas que foram para a guerra e acabaram por ouvir opiniões que nós já não compartilhamos, a que já não estamos expostos”, analisa Inês.
Há muitos assuntos para os quais acordou na internet. Graças ao seu espírito de curiosidade que a motivava a pesquisar, mas também ao algoritmo que lhe dava mais sobre esses assuntos que já lhe interessavam, hoje sabe mais sobre mais assuntos. A internet é indispensável na sua vida. Diz mesmo que o seu desenvolvimento consciente e de “quase adulta que se preocupa com questões sociais e que quer ter um papel ativo no mundo” está muito colado à sua relação com a internet.
Até a forma de se relacionar é diferente das pessoas da geração dos seus pais graças à internet. Já conheceu pessoas na internet de quem gosta muito, mas sabe que o que conhece dessas pessoas é um pouco limitado. Talvez mude quando se conhecerem pessoalmente, é a experiência de partilhar um momento que falta. E Inês valoriza isso: partilhar momentos que marquem a amizade e que fortaleçam laços.
Na internet pode ser mais fácil conversar, mas também é mais fácil “tomarmos um papel de pessoa ideal”. “Temos tempo para pensar nas palavras, temos tempo para ofender sem esperar muitas repercussões, porque se quisermos é só sair da rede social e aquilo ficou dito. Há o ecrã e também há muitas fontes rápidas e muitas opiniões para copiar e colar, e não temos nervosismo. É só escrever, mandar, muitas vezes por detrás de um perfil anónimo”.
Há uns tempos falava até com a sua mãe sobre como as pessoas da sua idade vivem a internet de outra forma. No fundo, vêm-na mais como uma ferramenta utilitária, um meio para chegar a um fim, enquanto os jovens têm lá “um mundo”.
“Temos sociedades online, quase, e por essa razão acho que o conceito de amor para nós é um bocadinho diferente, porque se calhar entramos na internet e falamos com pessoas com o intuito da amizade, mas inevitavelmente desperta em nós sentimentos que são mais amorosos e românticos. Adaptando às condições de uma relação através dos ecrãs, faz mudar um bocadinho o conceito de amor, de confiança, de partilha de experiências, de comunicação, e nós vemos que por exemplo mandar imagens hoje em dia é uma forma de expressar carinho. Ou mandar emojis.”
A opinião de Inês sobre aplicações de encontros vai ao encontro daquilo que pensa sobre a internet, de uma forma geral. É preciso ter cuidado porque existe a facilidade de falsificar uma identidade e criar ilusões. Além disso, o “excesso de opções” pode criar uma sensação de vazio por preencher e dificultar o desenvolvimento de relações mais profundas.




Para Inês, não há dúvidas: a sua geração é diferente graças às redes sociais. “Só vamos ver isso quando formos mais adultos e estivermos mais desenvolvidos e tivermos visões do mundo mais definidas”, explica. Talvez possa vir a ser mesmo diferente, ainda que não se saiba o que está por vir. Não se sabe, ao certo, qual será a relação dos jovens de hoje, adultos de amanhã, com as redes sociais. Será que se vão desligar? Será que vão prolongar a relação que têm na adolescência? Está tudo em aberto.
Ninguém sabe — nunca se sabe, na verdade — como é que serão os adultos de amanhã. Em que medida é que a forma como vivem a adolescência condiciona a sua vida adulta. Por agora, Inês sente que os jovens são pouco ouvidos nos órgãos de comunicação social, sobretudo nos programas de opinião. Alerta para o facto de muitas pessoas receberem as opiniões de forma acrítica, sentadas no sofá, e de haver pouca representatividade nos painéis. Se houver pouca diversidade na opinião, que impacto é que esta terá na posição dos espectadores sobre os assuntos? É também por isso que muitos jovens se voltam para a internet, porque lá encontram as suas comunidades.
“Se eu tiver filhos quero fazer deles pessoas com um pensamento crítico desde muito cedo. Acho que se algo nos espera no mundo, na vida real, é sempre possível tocar nesse tema de forma adequada e adaptada a idades diferentes. Há temas muito pesados que uma criança de 4 anos, por exemplo, não tem de saber, mas pode saber da sua existência, saber que existe”, aponta. A verdade liberta e prepara para o mundo. Inês diz mesmo que o choque com a realidade pode ser pior do que ir sabendo o que se passa à nossa volta de forma gradual.
Desde cedo que soube que havia quem não vivesse em liberdade, mas nunca viveu essa ameaça de forma direta. A liberdade é algo que estima e quer preservar, não a toma como um “dado adquirido”. Tenta gerir o medo que a ascensão do discurso de ódio que lê nas redes sociais e em alguns políticos pela Europa, quer acreditar que não haverá grande risco de “de um dia para o outro perdermos a voz”.
Sai sozinha da sala de aula. Caminha a ouvir a sua música, pensa no livro que vai ler a seguir, chega a casa e conversa com os amigos através do seu telemóvel. É jovem, é mulher e não abdica da sua independência — a possível enquanto é menor de idade. Olha o futuro nos olhos, pronta para o que vier.













Assim que João aparece na sala de aula, logo pelas nove da manhã, quase podemos adivinhar joga, ou já jogou, basket. A altura é um fator expressivo para que o imaginemos num campo a marcar um cesto na linha dos três pontos. Podia ser apenas um preconceito infundado, mas acaba por nos confirmar que sim, jogou basket durante muitos anos, e que agora dedica os seus tempos livres ao surf e ao piano.
Cresceu entre Alfama e a Costa do Castelo, “ali no intermédio”, e andou na escola pública desde sempre. Este é um facto que destaca na breve apresentação que faz logo no início da conversa. Na primária estudou no Jardim do Torel, depois foi para a Passos Manuel e agora está no Liceu Camões — “é uma escola que tem muita diversidade”, diz como que a chamar a nossa atenção.
É na escola que debate com amigos e colegas sobre os assuntos que o inquietam. Quando lhe perguntámos o que gostava de fazer respondeu prontamente “ter conversas intelectuais”. João gosta de se rodear de pessoas que lhe tragam algum estímulo intelectual e que consigo queiram desvendar os desafios da sua geração. É nestes amigos que encontra a legitimidade para conversar sobre temas que os adultos podem considerar “superficiais”. Às vezes dói quando os descredibilizam dessa forma.
Um dos assuntos em que João tem uma opinião dissonante da maioria tem que ver com os efeitos que as redes sociais têm nos jovens. Para si, não faz sentido demonizar as redes sociais e colocar o ónus da questão nas plataformas: “acho que são as pessoas que se metem um bocadinho nessas situações, às vezes, é preciso termos uma mente firme”. O que quer dizer é que projetamos nas redes sociais algumas fragilidades da vida real.
“O drama todo que há à volta das redes sociais, de nos manipular, mudar as ideias… não é tanto assim. Quando entramos numa sala que tem pessoas com opiniões diversas sobre tudo, também temos de ir um bocadinho com a mentalidade de ‘não me vou deixar mudar por alguém que está aqui’.”
Ainda assim, não nega que existe uma espécie de mundo à parte no digital. Recorda a altura em que conheceu a ex-namorada pelo Instagram — o que é bastante comum entre pessoas da sua idade — e como parece ter sido quebrada uma aura criada pela distância inerente ao digital. “Uma pessoa com quem eu já falava até altas horas da manhã e, de repente, o primeiro impacto de a ver… é como se convivêssemos a nossa vida toda com uma personagem de um desenho animado da nossa infância e depois conhecemos a mesma personagem desse desenho animado. É mesmo estranho”, explica.
A forma como as relações surgem pode ser diferente, mas o modo de olhar para o que é o amor ou o romance não é necessariamente diferente. O essencial permanece lá. João solta uma gargalhada quando lhe dizemos que há quem diga que a Geração Z já não acredita no amor nos parâmetros normativos — “isso é a coisa mais conservadora que já ouvi na minha vida”, responde de imediato.
— E o que é o amor para ti?, perguntamos.
— É quando nós encontramos uma pessoa de quem realmente gostamos e com quem nos identificamos e, ao mesmo tempo, essa pessoa tem um impacto sobre nós que as outras pessoas não têm. Ou seja, é o impacto em soma com o quanto admiramos essa pessoa. Queremos fazer parte da experiência da outra pessoa; é aí que nós amamos. Eu quero partilhar a minha vida em conjunto com outra pessoa.






Para que algumas das coisas que não têm funcionado tão bem no país, nomeadamente para os jovens, possam mudar, João acredita que é preciso “começar a renovar o pessoal que está na política”. “Só aí é que se vai poder ter esta discussão de fundo”. Está convicto de que é preciso mais comprometimento com algumas problemáticas, como é o caso das alterações climáticas, e que é preciso mais do que promover Lisboa como Capital Europeia Verde para fora.
“Vocês não têm medo que o mundo entre em colapso? É preocupante”, atira como se falasse com qualquer adulto “dentro dos grandes centros governativos”. Era o que perguntaria se tivesse oportunidade de falar com quem tem poder , já que as pessoas que estão em cargos decisivos parecem não estar dispostas a ouvir.
A principal mudança, acredita, vem de dentro. Se estivermos realmente comprometidos com fazer diferente e não nos conformarmos com o quão assoberbante pode ser pensar nos problemas que existem no mundo, talvez as coisas mudem.
Mas nem todas as pessoas adultas estão pouco dispostas a ouvir. Os seus pais ouvem as suas preocupações e trocam ideias e leituras sobre o mundo. O pai é sociólogo e é alguém que vê como um exemplo. Para as pessoas da sua idade, não faz sentido pensar em ídolos, mas antes em pessoas da vida real que têm características que admira. O que João admira no pai é “tudo aquilo que ele construiu”, inclusive do ponto de vista intelectual: “as ideias dele e falar com ele… eu gostava, de uma certa forma, de ser assim”. E é provável que venha a ser. Afinal, “quem sai aos seus não degenera”.
Sai da sala e olha-nos por uma última vez. Há um certo mistério que guardou para si e que se arrasta à medida que caminha. Se puséssemos “Tank!”, do grupo de jazz japonês Seatbelts, a tocar, seria uma cena digna de filme ou anime.
Às vezes, João fica surpreendido com a quantidade de horas que passa na internet. “Aquilo não é real”. É estranho pensar que se passa tanto tempo num lugar que é uma espécie de não lugar. As outras gerações estão mais habituadas à convivência em pessoa, as redes sociais ainda representam uma certa novidade na vida delas — se pensarmos que grande parte das suas vidas foi vivida sem este tipo de ferramentas digitais, torna-se fácil de compreender.
Antes conhecia-se pessoas na rua, em grupo de amigos. Mas hoje também. João diz mesmo que se quiser conhecer alguém provavelmente vai sair à rua para o fazer, está um pouco cansado dos estímulos digitais. E nunca é bem a mesma coisa. Não é necessariamente melhor ou pior, mas não é a mesma coisa. É na rua, numa esplanada, que pode ter algumas das “conversas intelectuais” que nos dizia gostar de ter no início da conversa, mas a verdade é que também o faz na internet.
Nota que os grandes assuntos para a Geração Z são os que aparecem frequentemente nas redes sociais. Aquele que tem maior destaque é, sem dúvida, a crise climática, mas o que acredita ser comum a todos os assuntos é que se querer “tentar retirar a mentalidade conservadora ao significado das coisas”. “Como disse na definição de amor, nem todas as definições que vêm de há imensos anos atrás precisam de continuar para hoje. As coisas mudam, está tudo em constante mudança.” E a hora de mudar é agora.
Com o avanço dos tempos e do pensamento, as exigências hoje são outras. João diz, por exemplo, que se na luta anti-racista de há 60 anos a prioridade era que as pessoas negras pudessem ir para a faculdade, hoje quer acabar com todo o estigma social. “Nós a cada sítio que vamos vemos pessoas negras a servirem e o que se vê à volta são brancos. A luta anti-racista vem para mudar esse estigma, para termos uma sociedade equitativa. Não é só falar dos direitos, mas da possibilidade de usufruir desses direitos”, explica.
Há uns tempos leu que são precisas nove gerações para que uma pessoa pobre consiga sair da pobreza. “Como é que isso é possível?”, questionou-se. São estas as questões que lhe tiram o sono e que o fazem querer ter uma postura ativa para que amanhã seja melhor. O grande desafio que tem em mãos, juntamente com as pessoas da sua geração, é quebrar estigmas. Será que na geração seguinte, e na que vier a seguir a essa, tudo será diferente?
O seu sonho é que todas as pessoas possam ser e fazer o que quiserem se sequer terem de se questionar sobre isso. E exige-o para fora da sua bolha e da sua realidade: “por acaso sou heterossexual, mas se a minha sexualidade fosse outra eu queria andar na rua e que as pessoas nem sequer pusessem em questão aquilo que eu sou”. E não pôr em causa passa por não se dizerem frases como “ah, aquela pessoa é bissexual, eu respeito”.
Uma das coisas que mais fascinam João é compreender (ou tentar compreender) pessoas. Acha que é bom a fazê-lo, sente que tem a capacidade de calçar os sapatos de outras pessoas, por muito diferente que possa ser o contexto delas do seu. Não sabe ao certo em que sentido é que poderá aplicar isso a uma ideia de profissão, mas talvez siga algo relacionado com Ciências Sociais. Pensou em filosofia, mas as possibilidades de emprego depois do curso não o entusiasmam o suficiente. “Uma pessoa que tira o curso de filosofia, o que é que pode ser? Professor? Investigador?”















Apesar de ser a última na ordem alfabética do grupo que forma esta espécie de anuário, Marta foi a primeira a ser entrevistada. No início, não parecia de muitas palavras. Talvez estivesse envergonhada. Não sabia bem ao que vinha, não tinha quem lhe contasse o que é que ia ser perguntado. Assim que se senta, prova o contrário. É, afinal, uma pessoa com tanto para dizer. Tem “a resposta na ponta da língua” — provavelmente alguns adultos já lhe disseram.
Está numa idade que fica no meio. Há cinco anos ainda era uma criança, daqui a cinco anos vai ser adulta. E engana-se quem possa pensar que nos cinco anos da transição entre infância e adolescência Marta viu pouco além da sua bolha. Cresceu num ambiente em que sempre se falou sobre tudo com naturalidade, os pais nunca lhe disseram o que é que gostavam que fosse. Deram-lhe liberdade para descobrir o que é que quer ser. Essa identidade ainda está em construção.
“A minha mãe explicou-me desde cedo o que era o feminismo, sempre tive contacto com a política, ia a manifestações, e portanto olho para trás e acho que isso faz parte da pessoa que eu sou. Porque eu olho para trás e vejo que por causa de alguém que se manifestou e foi contra a lei, na altura, eu vou poder votar, eu posso ir à escola, eu posso manifestar-me. E quero melhorar as condições para as raparigas no futuro poderem ter mais possibilidades do que eu já tenho”, diz logo na primeira fala.


Há muito em comum entre Marta e os seus pais, mas há muito que lhes ensina também. Enquanto para os pais é evidente que mulheres e homens devem ter direitos iguais, para si já é impensável que não tenham. Marta é de uma geração que não pensa sequer na hipótese de ter de abdicar de uma carreira ou de fazer o trabalho doméstico sozinha — a menos que seja uma opção. Uma rapariga pode não saber cozinhar. Uma rapariga pode não engomar a roupa. Uma rapariga pode até amar outra rapariga.
As raparigas que vê nas séries de plataformas de streaming já não estão presas às amarras do patriarcado. Têm mais opções, não ambicionam apenas encontrar a felicidade numa relação com um homem que as defenda. Sabem defender-se sozinhas, têm amor próprio, fazem a sua voz ouvir-se. Dizem o que lhes vai na alma. Marta é uma dessas raparigas: diz tudo o que lhe vai na alma, quase sem filtro, porque sabe que as suas palavras têm um peso e podem ser úteis para que outras pessoas se sintam compreendidas.
Tinha 10 anos quando recebeu a primeira ferramenta para se fazer ouvir além dos limites da altura a que consegue elevar a sua voz: um telemóvel. Estava a entrar para o 5º ano e dava jeito. A partir daí, passou a ter no bolso uma espécie de portal para outros mundos. Encontrou lá vídeos engraçados, informação para trabalhos que tinha de fazer na escola, milhares de imagens. Algumas preferia não ter visto tão cedo. Assim que teve telemóvel, teve acesso a redes sociais e começou a seguir pessoas que conhecia da vida real e outras que passou a conhecer por lá, algumas com milhares de seguidores.
“Isto acontece muito com raparigas: nós vemos muitas modelos e as vidas perfeitas delas, desde muito cedo, e depois ficamos a achar que com 10 anos temos de ter aqueles corpos ou temos de ser iguais a elas. Isso introduz muitos estereótipos na nossa cabeça cedo demais. Como crianças, nós nem deveríamos ter acesso àquilo, não precisávamos de ser expostas àquilo tão cedo.” No tempo da sua mãe, essa comparação não era tão constante: ou se comparava a raparigas que via nas revistas ou na televisão, não tinha stories a mostrar a “vida perfeita” de hora em hora.
E Marta não culpa os pais. Pediu-lhes para ter um telemóvel, arranjou formas de chegar a alguns conteúdos, e outros chegaram até si — bem como aos seus amigos. Parece não haver uma fórmula perfeita para a introdução deste tipo de dispositivos na educação das crianças em fase de transição para a adolescência, ou pelo menos na sua altura não havia. Toda a gente à sua volta tinha telemóvel, era quase uma extensão da existência de adultos e adolescentes. Ter um só para si parecia ser um sinal de que não era mais uma criança.
“Eu acho que muito do que se passa nas redes sociais é falso. É tudo uma mentira do que nós achamos que é a nossa vida, postamos fotos todas editadas — quero ter aquele corpo e quero ter aquela cara”, critica. Nas redes sociais tudo é mais estudado: como nos queremos parecer, o que queremos dizer, a persona social que queremos ter. E as exigências do mundo virtual criam problemas no mundo real. Marta conta que tem amigas e conhecidas com distúrbios alimentares e diz que tem a certeza que é a ideia de corpo ideal – também alimentada pelas aplicações encontros, onde se escolhe com base no físico – que as desencadeia.
Os efeitos para a saúde mental são brutais. “Acho que pode destruir a confiança das pessoas. Eu olho para os rapazes e as raparigas que estão à minha volta e eu vejo que muitos deles olham para a internet e para estas apps e pensam que de facto as pessoas escolhem pessoas que são bonitas e porque fazem parte do estereótipo”, repara. E não há quem lhes ensine a lidar com estes assuntos, como não houve quem ensinasse os seus pais a lidarem com eles.


No seu telemóvel, nas redes sociais, encontrou também conteúdos muito úteis para o seu crescimento pessoal. Conseguiu descobrir “um bocadinho mais” sobre si, porque há assuntos sobre os quais os pais, por muito que quisessem, não lhe podiam falar. Descobriu o que era queer no TikTok e o conceito fez-lhe sentido, reviu-se nele. Foi também lá que percebeu a importância de perguntar os pronomes a pessoas que conhece pela primeira vez, bem como de comunicar os seus.
“Pensei ‘se calhar isto faz sentido para mim’, e acho que me fez sentir aconchegada pensar que havia outras pessoas iguais a mim. No início foi difícil porque à minha volta parecia que não havia ninguém como eu, mas depois comecei a falar com mais pessoas e afinal havia”, recorda. Para Marta, hoje, é tão natural dizer que é queer como é natural que uma rapariga da sua idade diga que está apaixonada por um rapaz. Está tudo bem com isso. Há muitas coisas que são diferentes comparativamente aos tempos dos seus pais e dos seus avós.
O que Marta acha é que é preciso encontrar um equilíbrio. Antes, namorar não era tão permissivo; não se podia namorar com qualquer pessoa, parecia mal ter vários namorados, mas hoje sente que existe mais pressão para arranjar alguém. Como se estar com alguém fosse a única forma de encontrar felicidade, desde muito cedo. Muitas vezes, sente um confronto entre aquilo que sente por dentro e o que sente pela pressão social: sabe que está bem sozinha, mas é como se algo maior do que ela mesma lhe dissesse “tens de ter alguém”. Nesta procura por uma relação — que, na verdade, é bastante comum na adolescência —, acredita que o significado de amor pode ficar um pouco perdido. Mas regressa quando se encontra a pessoa certa.
“Acho que a partir do momento em que as pessoas conhecem o amor da vida delas ou sabem o que é o amor, é igual. O sentimento e a forma como gostas daquela pessoa não muda só porque as gerações avançam. O que acontece é que já ninguém é julgado se aos 40 não estiver casado, se não tiver uma família, se não tiver filhos. Acho que também se abriu muito mais a janela a outros tipos de amor e outros tipos de relação. Não é aquela coisa da família, de ter dois filhos, de assentar, de ter um bom emprego”, explica. A sua geração já está a ser educada para olhar para essas muitas formas de amar e manifestar o amor com naturalidade.
À hora a que conversámos, o sol entrava pela janela e batia-lhe na cara. Marta estava apenas com uma camisola de algodão e não tinha frio. “Hoje estão uns 18º e é dezembro, isto não devia acontecer”, diz enquanto olha para a rua. Este aviso é o mote para uma das maiores preocupações da sua geração: as alterações climáticas. “Está a ficar muito real nas nossas cabeças. Isso vai ser um problema com que todos vamos lidar, e assusta-me como vai ser ainda mais real do que ainda é hoje”.
Desde muito nova que vê as notícias na televisão à hora do jantar. No início reclamava, mas acabou por perceber que aquele ritual seria fundamental para vir a ler o mundo em que vive. É também por lá que vê o que se passa fora da “bolha da Europa” e que vê lugares que sonha visitar. Gostava de ir à Ásia e à América, sobretudo por sentir que são continentes vistos com preconceito na lente europeia e quer ver por si mesma.
“Gostava muito de ir ao México, e também gostava muito de visitar alguns países asiáticos como o Vietname ou a Coreia do Norte – sei que é muito difícil, mas se as pessoas falam muito daquilo e do quão horrível aquilo é, eu quero ir ver e saber o que é que é. Ou da China, porque há um grande preconceito contra a China. Porque é que as pessoas têm tanto preconceito contra os chineses? Eu quero acreditar que não é real e que são só preconceitos que chegam de muito longe. Gostava de visitar o máximo de países possível”, partilha.
No país em que vive e que a viu crescer, preocupam-na as notícias sobre precariedade. Preocupa-a que algumas pessoas tenham de ter 3 ou 4 trabalhos para se sustentar — “isso nem sequer é viver”. Às vezes dá por si a pensar “como mulher eu posso fazer o mesmo trabalho que um homem e não vou receber tanto” e isso preocupa-a. “Como é que ainda estamos aqui? Como é que após 21 séculos ainda há estas coisas todas por fazer e por tratar?” Partilha algumas das suas angústias com outras pessoas da sua idade, e outras mais velhas, na JCP – Juventude Comunista Portuguesa. Garante que se juntou a esta juventude partidária porque quis e que os pais nunca interferiram na sua orientação política. “Apresentaram-me tudo o que existia e nunca me disseram que tinha de escolher”. Mas fez-lhe sentido juntar-se a este grupo.
“Eu sempre tive discussões com os meus pais sobre política e mesmo quando era pequenina, os meus pais conseguiam ouvir a minha opinião, mesmo que não fosse a melhor ou não fosse bem estruturada. Criar um sentido crítico é muito bom, não só para saber o que está na lei mas saber se está correto e se é algo com que nós concordamos e que está justo para todos”, garante. Na sociedade, conforme está desenhada, sente é que nem sempre é fácil fazer-se ouvir, mesmo na escola: “é muito giro ouvir a tua opinião num texto para o exame, mas depois não conta para nada”.
“Temos de cumprir um programa, e por vezes a nossa opinião é desvalorizada. Por acaso nós estamos numa escola em que os professores quase todos gostam de saber a opinião dos alunos, mas sei que não é assim em todo o lado”, diz Marta.
Depois dos três anos que lhe faltam nesta escola, ainda não sabe muito bem o que vai fazer. É muito cedo para tomar decisões, e gosta de pensar que nada é definitivo. Mesmo que decida ir para uma licenciatura em direito, não é obrigada a exercer direito. Gosta de fotografia, de ir ao teatro, de ver exposições. Talvez acabe por ser uma profissional da cultura. Acima de tudo, gosta de “imaginar que ainda está tudo por imaginar”. Olha para o futuro inspirada por pessoas como Billie Eilish e Emma Watson, que usam a sua exposição para falar de assuntos que importam, mas acima de tudo pelos seus avós “que tiveram de lutar pela liberdade e viveram muito tempo numa ditadura” e todas as pessoas que lutaram com eles. Se hoje pode projetar um futuro com tantas possibilidades, é também por causa deles.


























Quando nasceram, já havia internet. À medida que foram crescendo, os acessos tornaram-se mais fáceis e, com o tempo, quase toda a gente passou a ter um dispositivo em que lhe podia aceder facilmente. Os jovens nascidos entre o final dos anos 90 e a primeira década de 2000 foram os primeiros a ver desenhos animados em telemóveis ou tablets, a ter acesso a redes sociais em que os seus pais também estavam e a aprender na internet o que não estava ao alcance na vida real. Alguns acreditam que esta relação com a tecnologia moldou profundamente a forma como olham para si mesmos e como se relacionam uns com os outros.
Cresceram numa era dominada pela imagem. Com um telefone, toda a gente fotografa e filma, publica nas redes sociais, constrói uma persona social. Mas se os Millennials, geração antecessora, tiveram uma aproximação mais cautelosa e espaçada com a internet e as redes sociais que fez com que essa projeção da imagem fosse meticulosamente calculada, os jovens da Geração Z começam a desconstruir os conceitos de beleza e do que é suposto mostrar ou não na internet. Com a pressão de ter o corpo ideal vieram também ações de sensibilização Body Positive, as partilhas nas redes sociais de momentos menos bons, e a reivindicação pela liberdade que querem ter.
Cada geração tem as suas idiossincrasias. Desde os baby boomers que esta ideia de agrupar pessoas que nasceram no mesmo período histórico parece fazer sentido e que tinham em comum características geradas por “turbulências que eram muito centradas no tempo e no espaço”. Quem o diz é Vítor Sérgio Ferreira, que sublinha que é importante pensarmos no contexto nacional, onde não existiu propriamente uma geração de baby boomers, mas sim uma geração pós-25 de abril. O sociólogo e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa diz que hoje, nas Ciências Sociais, o termo “geração vai caindo em desuso” — não se pode dizer o mesmo dos estudos de mercado, onde continua a ser utilizado de forma ampla.
O que motiva o surgimento de novas gerações são acontecimentos sociais que resultam em mudanças de paradigma. Com a entrada da Troika, agora com a pandemia, os discursos geracionalistas parecem estar de volta. Com o advento da internet e a globalização, nasce a Geração Z. Jean Twege chama-lhe mesmo iGen, já que o período da sua infância e adolescência acompanha a evolução dos iPhones. Na infância destes jovens, sempre houve uma diferença entre um “iPhone” e um “telemóvel”, entre o Wi-Fi e os dados móveis, entre um “computador” e um “iMac”. Mas se há assunto que liga os jovens desta geração numa escala global é a crise climática.
A Geração Z é a primeira a sentir o peso de séculos de destruição do planeta numa escala global. Não se sentem responsáveis, mas sabem que o futuro está nas suas mãos. Querem mais de quem está nos lugares de decisão, querem poder projetar um futuro sem ficarem ansiosos com o que está por vir.
Andreia Galvão é uma das pessoas desta geração que já está a fazer a diferença. Nasceu em Lisboa, viveu em Cabo Verde, de onde os pais são naturais, entre os 3 e os 5 anos, voltou para Lisboa até aos 8 e finalmente mudou-se para as Caldas da Rainha. Foi na escola pública que começou a participar em atividades de poesia e que mais tarde conheceu o Euroscola, um programa da União Europeia que funciona em conjunto com o Parlamento dos Jovens. Na final, na Assembleia da República, conheceu Matilde Alvim, uma jovem de Setúbal. Voltaram a encontrar-se em Estrasburgo, ficaram em contacto, e um dia Matilde desafiou Andreia a juntar-se a um grupo de Whatsapp onde se organizava uma manifestação pelo clima, inspiradas por “uma rapariga na Suécia” que estava a fazer o mesmo. Essa rapariga era Greta Thunberg.
A primeira mobilização foi em março de 2019. “Por que é que no inverno ainda faz calor, ó senhor ministro explique por favor” ouvia-se em uníssono, em diversas ruas pelo país fora. Desde então têm sido feitas mais greves pelo clima, agora com máscaras a tapar metade dos rostos. As suas vozes continuam a ouvir-se bem alto, e unem-se num movimento global. Mais recentemente, os nomes André e Sofia Oliveira correram o mundo: dois irmãos, de 13 e 16 anos, respetivamente, processaram 33 países por não terem feito o suficiente para prevenir a crise climática, juntamente com mais quatro jovens. O caso ficou conhecido por ser o primeiro relacionado com o clima no Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
Foram os incêndios em Pedrógão Grande, em 2017, que motivaram a ação dos irmãos André e Sofia. As imagens de sofrimento das pessoas e da natureza em destruição não lhes saíram da cabeça. Como eles, há quem sofra de facto ao pensar no planeta a entrar em colapso e que tenha a chamada eco-ansiedade — que, nas palavras da psicóloga Margarida Gaspar de Matos, é “uma ansiedade galopante associada a questões ambientais”.
“No geral, este propósito na vida vem de certo modo contrariar uma tendência anterior de desinteresse e desprendimento, e não pode ser considerada negativa nem fonte de preocupações que gerem problemas de saúde mental”, ressalva a psicóloga especialista em assuntos da juventude. Por outro lado, Margarida Gaspar de Matos nota que a luta pelo clima, enquanto causa, pode trazer aos jovens um propósito “em termos das suas crenças e estilos de vida”, o que muito provavelmente até “contribuirá para uma cidadania ativa e melhor saúde mental”.
É certo que no pós 25 de abril, no contexto internacional, já se faziam manifestações em torno da paz e de questões ecológicas, mas hoje esses temas ganham outro peso pela urgência. Vítor Sérgio Ferreira diz que “um dos discursos que tem sustentado mais este assunto é a questão da desigualdade intergeracional, porque no fundo acaba por se deixar aos jovens de hoje, ou àqueles que ainda não são sequer nascidos, uma dívida com o planeta que eles é que vão ter que suportar e lidar com”. E há hábitos que precisam de levar um corte, mas que para as pessoas mais velhas são considerados essenciais por representarem uma ideia de conforto que foi conquistada com o tempo — é o caso de práticas de consumo de produtos e recursos, como poder tomar um banho longo depois de um dia complicado no trabalho, ou ter acesso a bens alimentares de luxo cuja proveniência se desconhece.
Não é fácil mudar hábitos, mas talvez seja mais fácil para quem já aprende, pela primeira vez, a fazer de outra forma. Seria falacioso pensar que todos os jovens estão comprometidos com essa mudança, mas a verdade é que um número significativo se preocupa. Andreia Galvão não se arrisca a dizer que “a maior parte da juventude rompeu com valores conservadores”, mas nota uma clara diferença relativamente a gerações anteriores: os jovens de hoje estão mais comprometidos com questões políticas. E querem ser ouvidos.
“Todas as gerações têm desafios próprios associados à época que vivem.
Até há bem pouco tempo diríamos que os jovens (europeus) estavam mais saudáveis e mais felizes”, diz Margarida Gaspar de Matos. É certo que até antes da pandemia, pouco se falava na saúde mental dos jovens ou mesmo nos efeitos que a tecnologia poderia ter nas suas vidas. Como não havia um acontecimento histórico que marcasse o seu crescimento, como uma grande guerra ou conflito, os jovens portugueses pareciam estar bem.
A professora da Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa destaca os últimos 15 anos e o boom de avanços tecnológicos que trouxe desafios acrescidos, como a “dependência das tecnologias pelos problemas que daí podem advir de estreitamento de interesses e afetos” e eventuais hábitos compulsivos. Ao mesmo tempo, os portugueses passaram por uma recessão económica, e agora a pandemia. “Os jovens tendencialmente serão mais flexíveis e com hábitos menos enraizados, mas na verdade não terão alicerces tão sólidos numa situação menos incerta”, analisa. É por isso que considera essencial que se repense a percepção de bem-estar para além de questões económicas e que se aprenda a ser flexível.
“Muitos jovens desta geração tentam encontrar outros modelos de vida pessoal, familiar e social mais ajustados a si e a uma melhor perceção de qualidade de vida”, diz Margarida Gaspar de Matos, que relembra ainda que, na verdade, o mesmo acontece com todas as gerações. O que parece diferente nesta, para Vitor Sérgio Ferreira, é a consciência da sua subrepresentatividade nos processos de tomadas de decisão. Há cada vez mais organizações dedicadas à juventude, mas a quantidade de jovens em cargos de destaque não acompanha esse aumento. “O mundo é, em grande medida, tomado por pessoas mais velhas que se movem por outro tipo de interesses, nomeadamente interesses muito mais imediatos”, nota o sociólogo.
Hoje, os jovens têm mais plataformas para se fazerem ouvir. Com a democratização do acesso ao ensino, há cada vez mais adolescentes com outras preocupações. Se em tempos as greves estudantis eram feitas por um grupo privilegiado de pessoas que tinham acesso à escola ou à universidade, hoje os grupos são mais diversos, com pessoas provenientes de diversos contextos. As redes sociais são um megafone para grupos de jovens que não querem ter de depender de adultos para sensibilizar outras pessoas para os assuntos que consideram importantes. Foram, aliás, as redes sociais que ajudaram na mobilização das greves climáticas, bem como noutras manifestações sociais.
Querem com isso dizer que não basta publicar uma fotografia com um quadrado negro para automaticamente apoiar o movimento Black Lives Matter, ou partilhar uma fotografia sobre “O que podemos fazer para ajudar a Síria” na stories. A circulação de informação é benéfica no sentido em que chega mais rapidamente a mais pessoas, mas não é necessariamente efetiva — um post anti-racista não torna uma pessoa anti-racista. Outro desafio é levar essas preocupações para a agenda política, que por norma tem “alguma resistência”, diz Vítor Sérgio Ferreira.
Andreia Galvão não vê as preocupações dos jovens, nomeadamente no que às alterações climáticas diz respeito, como um conflito geracional. Muito pelo contrário. A estudante de jornalismo diz que existe, sim, “um conflito entre valores, entre modelos de sociedade”. “Sempre que há jovens a falar — se forem raparigas jovens mais, se forem jovens negras ainda mais — há uma facilidade maior em não credibilizar ou achar que as pessoas agora são jovens e são diferentes, e que ‘no meu tempo não era assim’”, explica. Para combater essa descredibilização, Andreia apresenta mais factos, mais argumentos, mais certezas — mas “sempre com a capacidade de reconhecer que podemos não estar sempre certos e aprender com outras pessoas”.
“Estamos muito mais exigentes face a todas as formas de violência e descriminação”. Quem o diz é Margarida Gaspar de Matos, que acaba por corroborar os jovens do Liceu Camões que dizem que hoje é muito mais condenável ser bully do que sofrer de bullying. São séculos de História na evolução das relações interpessoais que foram fazendo com que “as pessoas já não sejam ‘donas’ umas das outras”: “os ricos não ‘possuem’ escravos, os maridos não ‘possuem’ as esposas, os pais não ‘possuem’ os filhos”. Isto não significa que não exista ainda um caminho pela frente e muito por mudar.
vê-las”. O que a professora catedrática na Universidade de Lisboa acha importante ressalvar é que quando falamos das implicações da pandemia nos jovens, nomeadamente devido à exposição excessiva aos ecrãs, “estamos a ver o mundo do ponto de vista do europeu, escolarizado, branco, género masculino e classe média”. E essa não é a única visão do mundo.
Há outros jovens, da mesma geração, que sempre viveram “com medo, com incerteza, sem horizontes claros, com dificuldade em concretizar sonhos, com dificuldades em se livrar de uma vida de pesadelo”. Às vezes noutro continente, outras vezes na mesma cidade.
Na mesma escola, dois jovens podem ter um acesso diferente a dispositivos eletrónicos e à internet. Isso pode fazer com que o acesso ao conhecimento, bem como a construção da identidade, dos dois seja diferente também. Se em tempos as culturas de rua — como os punks, skaters ou góticos — estavam, como o próprio nome indica, na rua, hoje a cultura de pares migrou em grande medida para a internet. Ainda assim, o acesso territorial à cultura queer, por exemplo, “por jovens que estão em Freixo de Espada à Cinta não é o mesmo de jovens que estão em Lisboa, não é o mesmo de jovens que estão em Londres”, diz o professor da Universidade de Lisboa.
Explica o investigador. Mas ao mesmo tempo que o discurso progressista encontra espaço na internet, surgem também tiradas retrógradas e que o pretendem descredibilizar.
Estes espaços de manifestação ou diálogo acompanham os jovens para onde quer que vão. Os seus telemóveis vão consigo para os cafés, para as discotecas, para a escola, para o seu quarto. O telemóvel “passa a ter quase o dom da ubiquidade: estão em vários espaços ao mesmo tempo a fazer coisas”. Enquanto conversam com familiares, trocam mensagens sobre outros assuntos com amigos e publicam fotografias nas redes sociais. É complexo.
Um dos obstáculos que Vítor Sérgio Ferreira encontra para esta geração é o prolongamento da juventude — ou a “reestruturação da ideia de idade adulta” a que temos vindo a assistir. Há Millennials a quererem ter um emprego, sair de casa dos pais, ter filhos, e que lhes deixem de chamar jovens. São jovens até aos 30 ou 40 anos, fazem estágios durante décadas. E se por um lado há quem diga que “os jovens são a força da mudança”, depois “não se deixa mudar nada”.
“Cada vez há mais obstáculos para dar o salto para a idade adulta. Quando parece que as pessoas estão na idade adulta, não conseguem dar esse salto,e estão a viver uma idade adulta que acaba por ser muito diferente da dos seus pais, porque há um conjunto de decisões que não conseguem ser tomadas. E desse ponto de vista, esta sim é uma grande transformação silenciosa e que muitos teóricos das gerações diziam: só existe mudança geracional quando, ao deixar de ser jovens, os jovens passam a ter uma vida qualitativamente diferente daquela que tinham com os seus pais”, explica. A vida adulta é “constantemente desqualificada ao ser juvenilizada”.
É a ideia de que outro mundo é possível que motiva Andreia Galvão. “É preciso imaginar como seriam novos modelos, novos valores e colocar o ónus da responsabilidade nas pessoas que foram eleitas, que nós validamos com os nossos votos. Os governos têm a responsabilidade social, moral, de garantir pelo menos a vida humana; não o garantir é um atentado contra a humanidade”, diz. O que é preciso é saber que é possível mudar, ainda é possível fazer alguma coisa. Para si, ter esta informação não é conciliável com ficar em casa, sentada no sofá, e não estar na rua a fazer a diferença.


Margarida Gaspar de Matos, psicóloga clínica e da saúde, especializada em jovens, e professora catedrática na Universidade de Lisboa


Vitor Sérgio Ferreira, sociólogo e investigador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

