Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

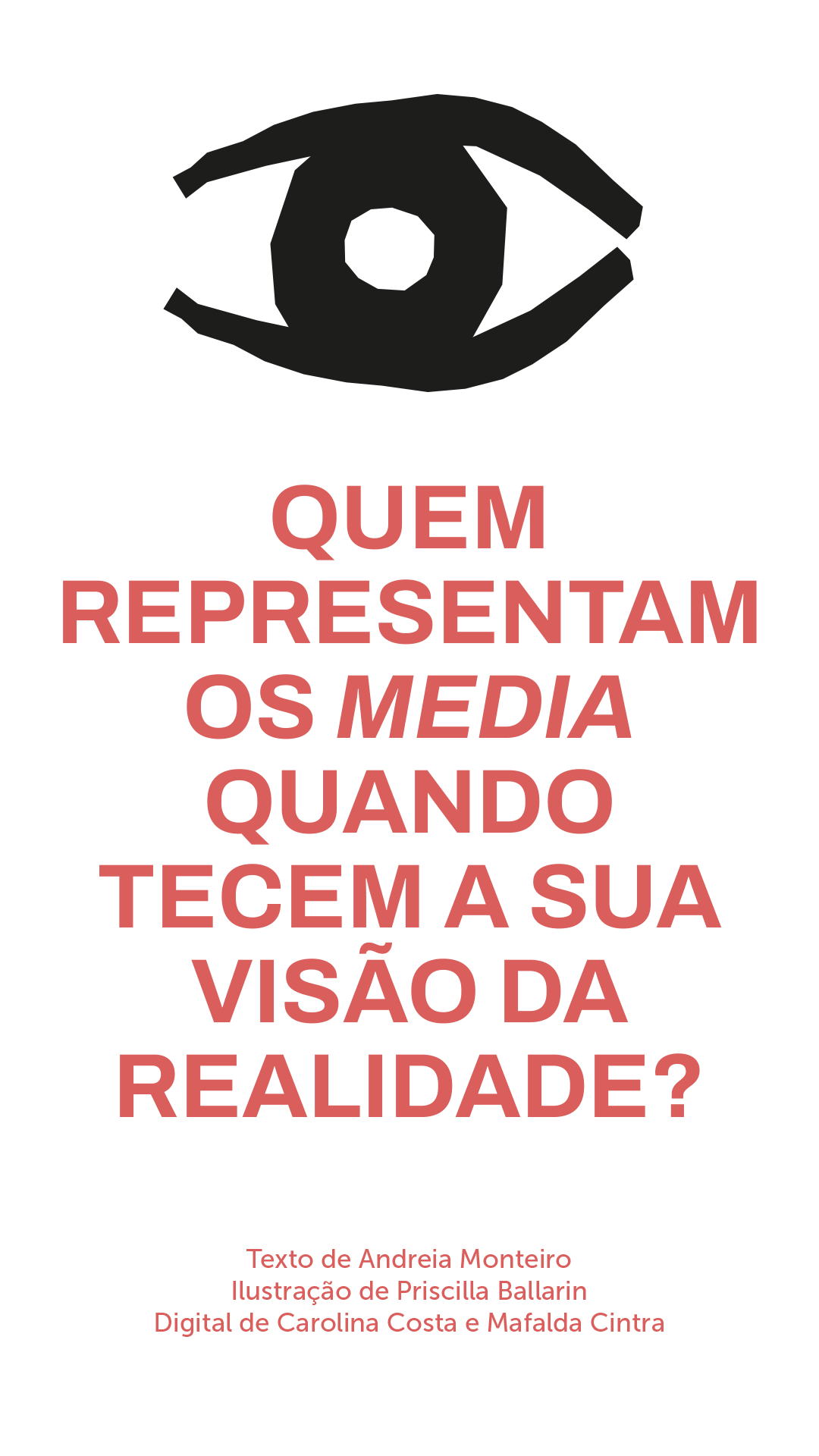
O termo token [proveniente do inglês, que significa símbolo] foi usado pela primeira vez, nos Estados Unidos, por Martin Luther King, num artigo publicado em 1962. Durante esse período marcado pela luta em defesa dos direitos civis das pessoas afro-americanas, King critica o tokenismo, uma vez que o mesmo servia para conferir uma imagem progressista a organizações ou projetos que integrassem um número mínimo de pessoas que se pudessem incluir em grupos minoritários, criando uma falsa sensação de diversidade e igualdade, o que não se traduzia num esforço real por incluir estas ditas minorias e dar-lhes os mesmos direitos e poderes do grupo tido como socialmente dominante.
Blas Radi, ativista e professor de filosofia, num artigo para a revista Anfibia, define tokenismo como «a inclusão simbólica que consiste em fazer pequenas concessões superficiais em favor de grupos minoritários para evitar acusações de prejuízo ou discriminação. […] é uma tática desenhada para dificultar esse processo de justiça social». Neste sentido, Michael Hogg e Graham Vaughan, autores do livro Psicologia Social, definem o tokenismo como uma forma de discriminação.
Ademais, Rosabeth Kanter, professora na Escola de Negócios de Harvard, explica que «o tokenismo transforma as pessoas em ícones representativos, apagando a sua individualidade e perpetuando o statu quo», de acordo com a plataforma Politize!. Como tal, a autora identifica três consequências principais deste processo: a visibilidade distorcida sobre a minoria representada pelo token; a polarização no grupo; e a assimilação de determinados traços que geram estereótipos.
Tendo, os meios de comunicação, a capacidade de influenciar a projeção dos acontecimentos no espaço público, concedendo-lhes existência pública e, consequentemente, a possibilidade de criar imaginários tidos como consensuais acerca daquilo que é a realidade e as identidades que a compõem, é de extrema importância olhar criticamente para o contexto mediático. Será que os media refletem a diversidade de pessoas que formam a sociedade portuguesa? A quem é dado espaço para falar, quando e com que objetivo? Encontramos representatividade ou tokenismo nos media portugueses?
Martin Luther King, 1962
O poder do/a jornalista reside na construção social que espelha no seu trabalho, através da hierarquização temática, do acesso a fontes ou da intervenção na perceção que se tem sobre o mundo que nos rodeia, os papéis sociais, as funções que cada indivíduo desempenha e a linha de ação que tomamos como norma no dia a dia.
Por isso, os media podem também contribuir para a propagação de construções sociais discriminatórias: «Os media tendem a reproduzir a visão dominante sobre os grupos étnicos fomentando os estereótipos e a selecionar acontecimentos que irrompem a fronteira do consenso, com base em valores-notícia ancorados em estórias esquisitas, extraordinárias, dramáticas, morais, humorísticas ou violentas», esclarece Isabel Ferin em Imagens da diferença: prostituição e realojamento na televisão.
No estudo de Soraia Correia, Discriminação nos media em Portugal. Uma análise da noticiabilidade na imprensa escrita portuguesa (2013), que recorreu, inclusive, à análise de exemplos presentes em vários números do Boletim Informativo Temático publicados no âmbito do Projeto In Other Words, percebemos que «os media tendem a reforçar estereótipos em relação a questões de género, ciganofobia, homofobia, xenofobia e deficiência». A estes temas, achámos pertinente juntar a cobertura de zonas do interior, por ser tantas vezes escassa ou estereotipada nos órgãos de comunicação tradicionais.

Ana Sofia Paiva reconhece existir uma cobertura nos media, dividida em dois conceitos geográficos: litoral e interior. Por outro lado, nota que «falta igualdade de representação, porque o interior só é representado em alturas sazonais – no inverno, quando neva na Serra da Estrela; ou no verão, quando se fala das praias fluviais e sobre incêndios. Acho que deveria haver uma maior representatividade e igualdade em termos de histórias, porque não são só os grandes centros que têm histórias para contar», defende.
A título ilustrativo, destaca alguns dos preconceitos associados às pessoas do interior: «as mulheres do interior têm de ter bigode, ou têm de ser mais gordinhas, ou ter o cabelo preto. Ou, então, o preconceito de que vens da terrinha, onde passeias com as cabrinhas e as vacas ao teu lado. Isto é uma imagem completamente descontextualizada daquilo que, hoje em dia, temos. Infelizmente, parte desta imagem, talvez ainda remetendo à altura do Estado Novo, é o que passa, ainda hoje, para os media», assevera.







Amina vive em Portugal há cinco anos e reconhece que já vê «outras formas de falar doutras nacionalidades». No entanto, não nega a existência de xenofobia, principalmente na sociedade portuguesa, mas também em algumas notícias. «Quando a xenofobia está presente nas notícias, há uma suposta representatividade, porque vejo ali outra nacionalidade, mas o que está associado a ela é negativo, ou um caso de preconceito. Ainda vejo isso, mas noto também um cuidado em fazer um texto diferente.» Embora note diferenças na linguagem mediática aquando da referência ao imigrante brasileiro, não vê «que haja um caminho contra os preconceitos, nos media».
Para si, «ainda é difícil dizer como o brasileiro é representado em Portugal, porque tem muitas nuances». Afinal, «o lugar do brasileiro é muito complexo, porque existem realidades muito diferentes dentro do Brasil». Porém, reconhece que os maiores estereótipos associados aos brasileiros são a alegria, o samba, música de festa e a língua/sotaque.
Defende ainda que «os países precisam de respeitar os seus imigrantes e os contributos que dão para um país». «Como é que, economicamente, nós alterámos Lisboa, por exemplo? Acho que brasileiros, cabo-verdianos e angolanos deram uma reviravolta na cidade», reconhece. No entanto, atenta na insistência mediática em designar de imigrante qualquer pessoa que não tenha nascido em Portugal. «Tenho amigos brasileiros que estão há 30 anos em Portugal, são mais portugueses do que brasileiros, passaram a maior parte da sua vida em Portugal e ainda são vistos como imigrantes. Isso não faz sentido», defende. Desta forma, sublinha que «a palavra tem muito poder». «E a palavra imigrante é muito dura; a atenção que se dá a ela coloca um afastamento para sempre de ‘você nunca será pertencente’. Então, é difícil aceder a outros lugares com esse título de imigrante».
Por reconhecer, juntamente com Lúcia Alves, que «nunca é o brasileiro falando sobre o Brasil», e numa altura marcada por um confinamento e pela situação política que se vive no seu país de origem, criaram a revista Brasil Mood. «O projeto fala de um Brasil estético, que as pessoas usam como referência. É como se fosse um respiro dentro do caos. A ideia era trazer pílulas de alegria com pessoas muito boas que estão no nosso país; mostrar que existem coisas para além daquilo que os media falam do Brasil. Existe muita coisa linda e boa, pessoas interessantes, cabeças pensantes e espaços que as pessoas ignoram.» Assim, apela para que os media «chamem as pessoas que estão a ser retratadas para falarem, não é só os que estão de fora».







Paula Cardoso começa por destacar a tendência para «equivaler aquilo que vemos nos media ao espelho da realidade», quando, «na prática, os media também constroem realidades». «Infelizmente, sempre vi pessoas como eu serem retratadas de forma pejorativa.». «No que diz respeito à questão de quem aparece e como aparece, tem muito que ver com o facto de pessoas negras aparecerem, durante toda a minha trajetória de acompanhar os media em Portugal, ou num processo de exclusão – ligados à criminalidade ou aos bairros ditos problemáticos, que também é uma terminologia bastante pejorativa – ou, então, têm de ser excecionais. Onde estão as histórias comuns? Onde está o direito a ser um cidadão anónimo, digamos, e aparecer nos programas da tarde, da manhã, porque todos nós temos uma história, uma vivência, que, depois, não é acolhida?», questiona.
Chama ainda à atenção para o facto de que, «quando vemos uma pessoa negra na televisão a ocupar o espaço mediático é, quase de certeza, para falar sobre racismo, sobre questões que têm que ver com a sua identidade, com a sua presença étnico-racial», o que «retira a comunidade negra desse lugar de cidadania que devia estar disponível para todos», garante.
Paula destaca também uma terminologia que vingou – «o imigrante de segunda geração». «Quem é? Não há imigrantes de segunda geração, somos portugueses», defende. «Há uma série de terminologias que surgem para criar esse fator de não pertença e todo o caminho que é feito ao nível das redes sociais permite fazer esse resgate de algumas dimensões que foram esquecidas», explica.







Passados vários anos desde a Revolução de Abril, Pedro Carreira observa que «a igualdade ainda não está consumada». «Ainda há muita invisibilidade de minorias que não têm a própria voz nos meios de comunicação e que não estão devidamente representadas. Sofremos algum tipo de estereótipo em relação às nossas identidades e, no fundo, a representatividade é ir além disso, é mostrar que somos mais do que um estereótipo, mais do que um preconceito», explica.
«Os órgãos de comunicação trazem muitos dos preconceitos com que nascemos, influenciados pela sociedade, pela cultura que consumimos», admite, defendendo que «a dúvida é uma coisa válida». No entanto, é preciso ir à procura do conhecimento quando ele não existe, assim como «perceber que a maior parte dos nossos desafios diários são partilhados com a maior parte das pessoas. Trata-se de existências comuns, não de vidas estrambólicas. As diferenças não são assim tantas, mas também é importante não as anular por uma questão de liberdade pessoal e identitária», alerta.
Em relação a exemplos de discriminação nos media, Pedro recorda um coming out político, em 2021, «em que vimos os media a falarem em opção sexual, preferência sexual, quando estamos, há várias décadas, a tentar fazer entender que – até a Organização Mundial da Saúde já o afirmou – se diz orientação sexual». «As palavras importam. Não tem nada que ver com escolha, porque isso pressupõe que se pode mudar. No entanto, ainda ouvimos profissionais, que chegam a milhões de pessoas, a insistir nesses termos que são ofensivos», denuncia. «Depois, a maior parte das pessoas comentadoras são homens cis, heterossexuais, a falar sobre o que uma pessoa, neste caso um homem gay, deve ou não dizer, como se deve comportar», observa. Por outro lado, reconhece que, «quando muito, convidam pessoas LGBT para comentar quando há uma polémica. No resto do ano, essas fontes ficam na gaveta à espera da próxima». «Noventa por cento das outras experiências também contam, são válidas, têm mérito», garante.
Pedro encontrou na Internet e redes sociais a possibilidade de procurar informação e de entrar em contacto com pessoas semelhantes. «Foi através dessas plataformas que tive o primeiro contacto com uma pessoa trans. Não conhecia ninguém e tinha muitas dúvidas, muitas questões, então queria perceber melhor. Tive uma daquelas noitadas no YouTube e no Tumblr a ouvir pessoas a falar das suas próprias vivências. Aí percebi, foi imediato», conta. «Encontrar essas pessoas, essas histórias, e dar-lhes uma plataforma em que as mesmas falem sobre o que vivem, das suas ambições, felicidades e conquistas, acaba por diminuir a distância entre pessoas. Por isso, quando ouvimos pessoas LGBT a falar das suas vidas, do seu dia a dia, numa reportagem, a distância fica um pouco mais curta», reflete.







«Acho que os media contribuem há muito tempo [para a estigmatização de pessoas com deficiência], embora já tenham alguma consciência de que é preciso mudar esse paradigma», defende Ana Catarina Correia. Associa, aos media, duas narrativas principais: «a pessoa com deficiência é vista como inspiração, um caso de sucesso (o chamado inspiration porn); ou a pessoa com deficiência é vista como tirana, muito ligada à doença mental na perspetiva negativa de quem causa medo a quem está à volta». «Depois, retrata, também, nem sempre da melhor forma, os crimes de ódio contra as pessoas com deficiência, que podem ser relações de violência em que a pessoa com deficiência é escravizada, em que são negligenciadas ao nível dos cuidados mais básicos, inclusive em lares. É um tema pouco falado», acrescenta.
Ademais, considera que a deficiência ser encarada como um problema do outro «é a base do que as pessoas com deficiência sofrem». «O problema não sou eu, o meu corpo ou característica. O problema é o meio que não responde àquilo que sou enquanto pessoa.» «A maioria das pessoas com deficiência que conheço dizem que não têm problema nenhum, que se adaptaram, é uma questão de identidade, mas o meio continua a insistir que isso é um problema», assegura. Assim, «não sou uma pessoa deficiente, sou uma pessoa deficientizada, porque o meio não me permite [ter as condições para levar uma vida dita normal]».
Destaca ainda a prevalência da «leitura médica sobre o que é a deficiência, em que se diz existir uma incapacidade, que é um problema, e que se deve tentar corrigir. Anda muito na lógica da cura, da correção, de tentar resolver o problema. E não conseguimos ver além desse quadro, que é muito limitador», explica, o que poderá ser problemático quando «são eles que falam por nós, a voz dominante».
Também no caso das «organizações que se dizem de pessoas com deficiência» é importante notar que «não o são». «São organizações para pessoas com deficiência. São pessoas sem deficiência, que não ouvem as pessoas com deficiência, que tomam decisões. Então, é muito importante também questionarmos se são as pessoas com deficiência que estão a dizer determinada coisa ou se há em curso outro mecanismo de representação», alerta.
Nos media, reconhece três temas principais como estando sub-representados. «Falta uma noção de globalidade da deficiência, algo que é estrutural e, depois, reflete-se a nível mediático». «Outra questão é a dos direitos em termos globais. A grande parte dos media, quando fala em deficiência, fala logo, por exemplo, das acessibilidades arquitetónicas, que são, de facto, um problema gigantesco, mas não é num problema que a questão se esgota, vai muito além disso. Tem que ver com questões de pobreza, de oportunidades, de acesso ao espaço público, aos transportes, tem que ver com todas as dimensões da vida.» «Depois, há uma ideia de que quem representa as pessoas com deficiência são as organizações e, então, tudo o que aquela organização disser, alinhas como discurso dominante e é o que vai ser mediático sobre aquele tema. E, muitas vezes, não é isso que as pessoas com deficiência acham ou sentem, apesar de aquela organização as representar.»







A resposta das nossas entrevistadas e entrevistado a esta questão são unânimes: não. Nesse sentido, Amina destaca a importância de se passar a incluir informação acerca da etnia nos censos. «Preciso de dados para dizer concretamente que esse grupo que está nos media não representa a população.» Até ser possível ter acesso a esses números, vamos notando que os media, na sua maioria, apresentam uma supremacia de notícias sobre Lisboa, dando maioritariamente voz a homens brancos, cis-hetero normativos e de nacionalidade portuguesa. «O universal é a perspetiva do homem branco, cis, sem qualquer consciência de que os outros têm um lugar, existem e merecem e devem ser ouvidos numa sociedade democrática», defende Vanessa Augusto.
Um(a) jornalista é subjetivo/a no sentido em que tem a sua própria forma de interpretar o mundo de acordo com a sua experiência e conhecimento, deixando, muitas vezes, transparecer os próprios estereótipos de que é refém. Porém, é da sua responsabilidade encontrar ferramentas que lhe permitam contornar essa situação.
«Antes de mais, é preciso investir na formação. Se não sabemos, temos de perguntar, pesquisar. Tem de se perceber que existem várias vozes que devem ser acolhidas em todos os trabalhos. Ou seja, não é só quando se fala de racismo que se vai integrar pessoas de outras minorias étnicas. Não é só quando se fala de questões LGBTQI que se vai contactar a ILGA ou outras associações», defende Paula.
«Depois, tem de haver a abertura das redações a pessoas diversas. Não basta formar os que já estão, mas também é preciso abrir espaço para que entrem outros profissionais, reconhecendo que essa abertura exige alguma flexibilização de alguns critérios», continua. Vanessa Lopes completa esta ideia afirmando que «os órgãos de comunicação social, se realmente querem ter uma diversidade de conhecimento, devem procurar ter pessoas de outras minorias».
Por outro lado, Amina defende que a «política pública é que faz a diferença. Mas acho que também é muito importante a troca, é muito importante ouvir. Desde pequenos, temos de mudar os manuais escolares, que histórias é que contam?».
Destaca também a procura de dados como um elemento primordial. «Acredito que os dados, pesquisa, apoios de institutos e associações fazem muita diferença para que o jornalista defenda aquele tema.» Quando tal não existe, aconselha «chamar especialistas e apresentar, pelo menos, duas fontes que estudam o tema». A isto, Vanessa Lopes acrescenta que «o jornalista deve sempre fazer o trabalho de terreno e perceber as coisas. Não ficar apenas no seu escritório a falar sobre a situação.»
Enquanto se procura esse conhecimento e medidas que nos permitam investir num caminho que privilegie a representatividade, nos media, não nos podemos esquecer de que há lugares de cidadania que precisam de ser expandidos.



