Acesso Rápido
Jornalismo
Temas
Formatos
Programas
Conteúdos
Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
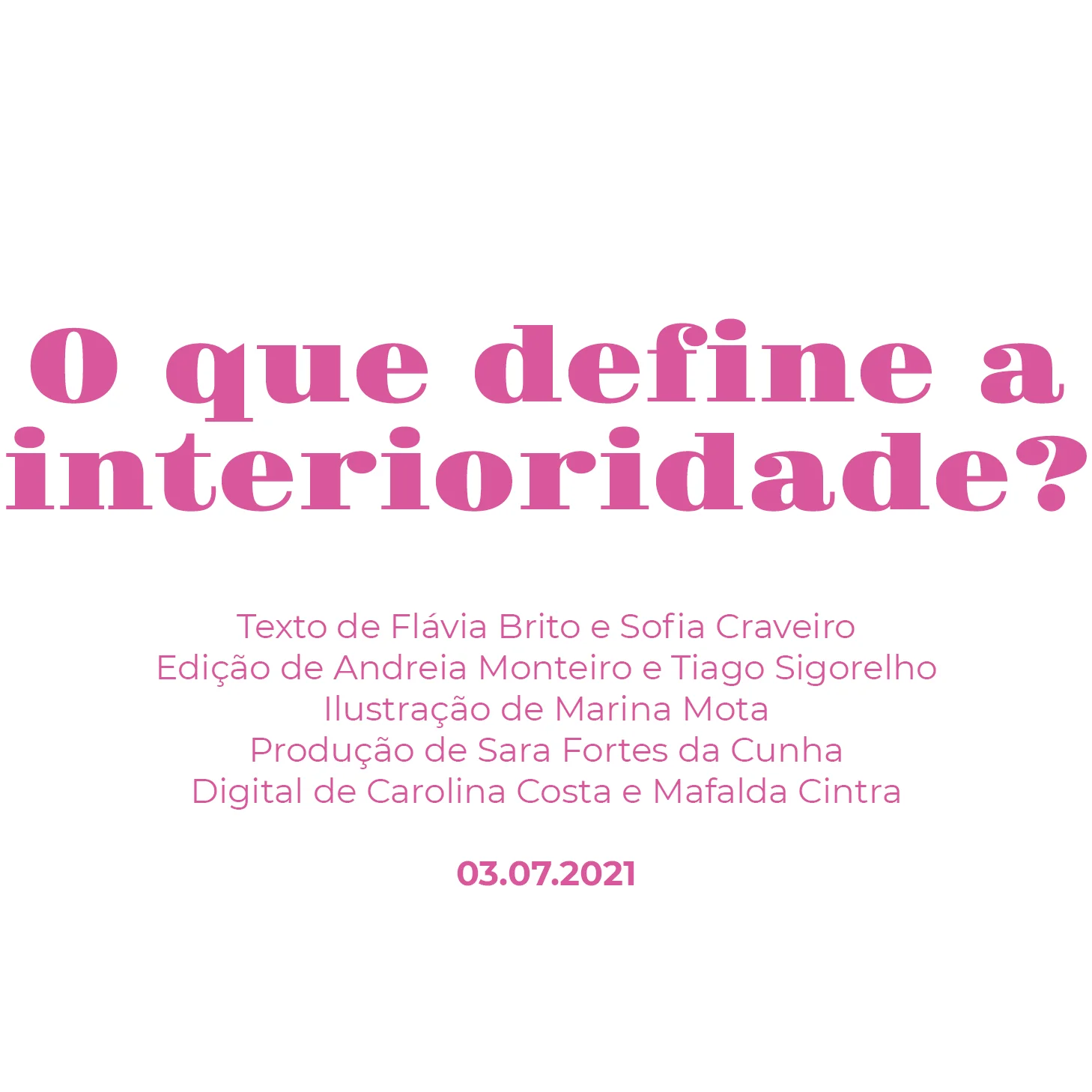
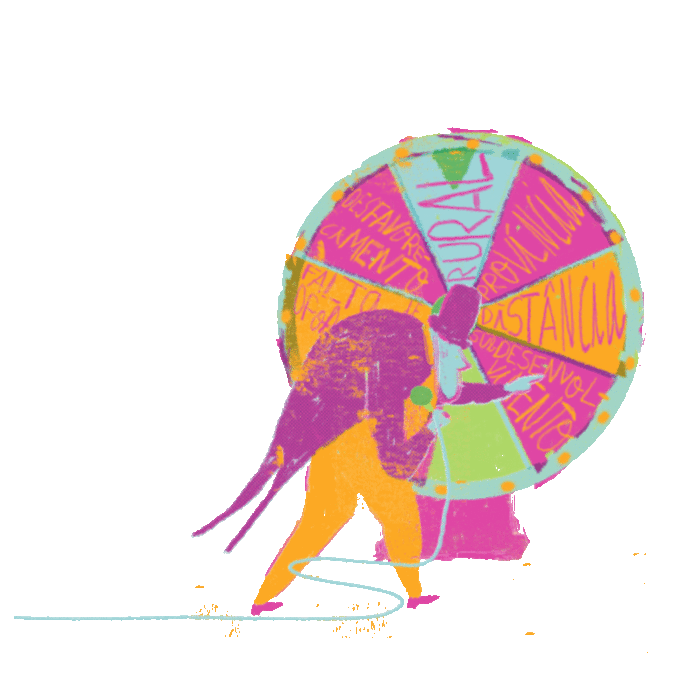
Os dados preliminares dos Censos 2021 não deixam dúvidas. A tendência acentuou-se novamente na última década: o vasto território do interior continua a perder população, e a «linha» que o delimita do litoral é cada vez mais evidente. Mas, nesta matéria, não nos deixemos enganar por noções geográficas ou territoriais. O interior de Portugal, segundo os critérios oficiais, vai de Bragança à serra algarvia, inclui territórios raianos, mas também a quase totalidade da costa vicentina. De Serpa a Paredes de Coura, passando por Lamego e Vila do Bispo, bem no extremo sudoeste do território continental.
Por estes territórios, percorremos planícies, vales e montanhas. Avistamos Espanha, mas também o oceano Atlântico. Ao todo são 165 concelhos e 73 freguesias de norte a sul do país, tão diversificados quanto as caraterísticas da área geográfica onde se encontram, mas próximos no seu caráter demográfico e socioeconómico. No interior, faltam pessoas. Mas também diversidade de atividades económicas e emprego. A população é envelhecida, e faltam meios e infraestruturas. Mas, para além destes aspetos técnicos, será que há algo mais que defina a interioridade?
O Mapa dos Territórios do Interior, que resulta de uma proposta da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), cuja portaria foi lançada no ano de 2017, serviu para delimitar os territórios beneficiados pelo Programa Nacional para a Coesão Territorial – o qual viria a ser substituído pelo Programa de Valorização do Interior, aprovado pelo Governo, um ano mais tarde.
Para delimitação desse mapa foram tidos em conta seis indicadores. O mais importante é o que se relaciona com a densidade populacional, que pesou 50 %. Depois, com um peso relativo de 10 %, foram considerados outros cinco aspetos: um territorial, que analisa questões como o uso do solo; outro demográfico, que atende a fatores como a variação populacional, ou a relação entre idosos e jovens na pirâmide demográfica; o perfil de povoamento, que observa as percentagens da população rural e urbana; uma vertente socioeconómica, que atende a critérios como o rendimento médio mensal ou o peso da população com o terceiro ciclo do ensino básico; e ainda o perfil de acessibilidade, que tem em conta as condições de acesso à sede do concelho, à capital do distrito ou à capital regional.
O «país dual», que o sociólogo Adérito Sedas Nunes identificou nos anos 70, no texto «Portugal: sociedade dualista em desenvolvimento», passou então a ter um rosto oficial, delimitando a faixa do território nacional afetada pelo despovoamento, desertificação, envelhecimento e falta de dinâmica económica. Porém, para o sociólogo António Barreto, nos dias de hoje, já não é verdade aquela realidade descrita de «uma desigualdade profunda», onde «uma sociedade moderna, em vias de desenvolvimento» e «em crescimento rápido» se evidenciava numa faixa litoral do país, «que começava em Setúbal, vinha a Lisboa, Coimbra, Aveiro e terminava no Porto e em Braga», enquanto o interior «definhava» e «as pessoas não tinham os mesmos direitos de acesso à escola, à saúde, à segurança social». Até porque é nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, entre o Restelo, Cascais e a Jamaica ou Odivelas», que o investigador vê hoje as «mais berrantes desigualdades em Portugal» e, por isso, no que toca ao litoral-interior prefere falar de «desequilíbrios». «O desequilíbrio com o interior é muito menos marcante. Já não é uma questão verdadeiramente de direitos, como era há 50 ou 60 anos», explica.
Apesar disso, as assimetrias existem e, como tal, reconhecer que «há territórios frágeis que precisam de ter um tratamento real pelos decisores políticos» foi o principal objetivo que levou à adoção do Mapa dos Territórios do Interior, garante a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. «Isso significa que nos vamos focar de forma especial naqueles territórios, nos seus recursos, nas suas empresas e desenhar medidas públicas à sua medida», referiu, ao Gerador. Todavia, se, na altura, também se pretendia clarificar a noção de «territórios do interior», esta continuou a baralhar muitos portugueses e a não ser consensual – há por isso quem prefira referir-se a eles como «territórios de baixa densidade».
Mas, sobre essa questão, Ana Abrunhosa é perentória:

A governante fala, inclusive, numa já necessária revisão do atual mapa, «com os vários interiores, ou com aquele que é o interior mais frágil», que permita «tomar medidas diferenciadoras», com uma definição mais clara e pormenorizada dos territórios. Essa necessidade – identificada desde o primeiro momento pelo Ministério da Coesão Territorial – ainda não avançou, contudo, devido à precocidade do atual mapa em vigor (aprovado por 90 % dos municípios da ANMP). Porém, «sob pena de este mapa, no fundo, esconder o que são realidades mais frágeis, realidades de maior interioridade socioeconómica», a intenção assumida do ministério é voltar ao tema com a ANMP, após as eleições autárquicas – e não é por haver «outros atores no terreno», antecipa Ana Abrunhosa.
Carlos Chaves Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Guarda, concorda que «os problemas de interioridade não são, na essência, geográficos», nem se resolvem garantidamente com uma maior proximidade ao litoral, ou mesmo às grandes áreas metropolitanas. «Como escreveu o enviado do jornal espanhol El País, em 2001, quando caiu a ponte em Entre-os-Rios, aquele local era «o terceiro mundo a 40 quilómetros do Porto», recorda.
Apesar de a intenção ser «discriminar positivamente esses 165 municípios», Jorge Rosa, presidente da autarquia de Mértola e da Comunidade Intermunicipal (CIM) Baixo Alentejo, diz que quando se fala de interior, «há sempre uma ideia discriminatória e negativa». «Perpetuamos uma diferença», garante, por sua vez, Luís André Sá, fundador e diretor artístico do Festival Planalto.
Já André Barata, professor da Universidade da Beira Interior (UBI), observa que esta dicotomia faz passar por territorial «uma desigualdade» que é da «ordem do social» e «do político», neutralizando-a. «Toma como natural que haja dois territórios que têm uma relação desigual entre eles», alerta.

Para Alcides Monteiro, sociólogo da Universidade da Beira Interior, a «dualidade» litoral-interior existe. Mas «temos vários interiores e não só um», nota.
Por outro lado, Luís André Sá afirma a necessidade de olhar para o país como um todo e só depois para os vários territórios e as suas especificidades. «Enquanto planeamento, enquanto pensamento, vejo o país como uma tábua rasa, no sentido de igualdade.» Não obstante, defende que é preciso ter em conta as características de cada território:
«Praticamente nada» une realidades tão distintas quanto as do Minho, Trás-os-Montes, o Alto Douro Vinhateiro, o Dão, o Alentejo de Montado, «a não ser estarem longe do litoral portuense e do litoral lisboeta», considera António Barreto, que acredita que a conceção de «interior», «em certo sentido, é uma criação de Lisboa». O sociólogo propõe o exercício de levantar a questão em perspetiva: «Visto de Berlim, Bragança é litoral. Se olhar para a Europa, para o Ocidente, de São Petersburgo, a Covilhã é litoral, é quase praia. Não é interior. Quando estamos a falar do interior parece que é algo que é visto a partir do litoral para a Europa e não uma visão externa.»
Se, por um lado, António Covas, professor catedrático da Universidade do Algarve, menciona que «pensar num bloco é pensar num quisto, num sindicato e em fazer render um capital de queixa», por outro, alia que a dualidade litoral-interior ganha sentido numa perspetiva de reivindicação por melhores condições de vida. «Acho que esta questão interior-litoral tem aparecido cada vez mais à medida que vai havendo massa crítica no interior com essa capacidade de reivindicar. Porque há um facto que é real e está presente todos os dias nas nossas vidas que é: há uma grande diferença no que é viver em meios pequenos», assevera o último.
No que toca ao sentimento experienciado pelas populações, também a noção de «interior» parece refletir-se muito mais nas expectativas socioeconómicas e de desenvolvimento das pessoas do que em questões de geografia e tão pouco de sentimentos de pertença.
«Uma pessoa do interior, da zona de onde sou originário [de Figueiró dos Vinhos], é diferente de uma pessoa do interior de Miranda, de Bragança, ou de uma pessoa que está em Portalegre», aclara Sérgio Godinho, responsável pelo projeto Interiorizar. Apesar de todos estes municípios caberem sob a mesma alçada, o jovem argumenta que são realidades «muito distintas» e que têm os «seus desafios próprios».
A esse respeito, Luís André Sá garante que seria outra pessoa, com uma forma diferente de estar na vida, se tivesse nascido noutro contexto e passado por outras experiências. «Nascer no interior do país atribuí-nos – na minha perspetiva, e sem querer romantizar – lógicas de civilização, de humanização, de resiliência, de resistência, de sermos mais combativos e fortes pelas lutas, por aquilo que são as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos objetivos de vida, e isso advém daquilo que não temos.» E, apesar de avaliar que as experiências vividas no interior «não são melhores, nem piores, mas são diferentes» das do litoral, considera que essa diferença é também a sua «identidade» e «construção, enquanto ser humano».
Mas, quando lhe perguntam de onde é, responde sem dúvidas: «Sou de Moimenta da Beira. Não digo que sou beirão, mas, se me tiver de nomear sou da Beira, não sou nortenho, não sou do centro, não sou algarvio, não sou alentejano, sou beirão.» Já Celso Reis Lopes, doutorando em Desenvolvimento Territorial Sustentável, diz-se de Louriçal do Campo. «Depois, como normalmente não sabem onde é, digo que sou de Castelo Branco, que fica na Beira Baixa, etc.», acrescenta. «Quanto nos fazem uma pergunta direta à nossa raiz, vamos à raiz, não vamos à superficialidade. Quando percebemos que não percebem a raiz é que vamos desflorando para uma escala maior», remata Luís.
As identidades regionais e geográficas parecem assim prevalecer sobre as noções socioeconómicas que possam caracterizar aqueles territórios. Por isso, defende Luís, a nova divisão administrativa do território (NUT) – ainda desconhecida para grande parte da população portuguesa – foi «um erro». «Por exemplo, Moimenta da Beira que sempre foi Beira Alta, agora pertence ao Douro. Não vemos o rio Douro. Estamos aqui mesmo ao lado dele, é verdade, a meia hora, ou se calhar até menos, mas efetivamente, fomos alencados.»
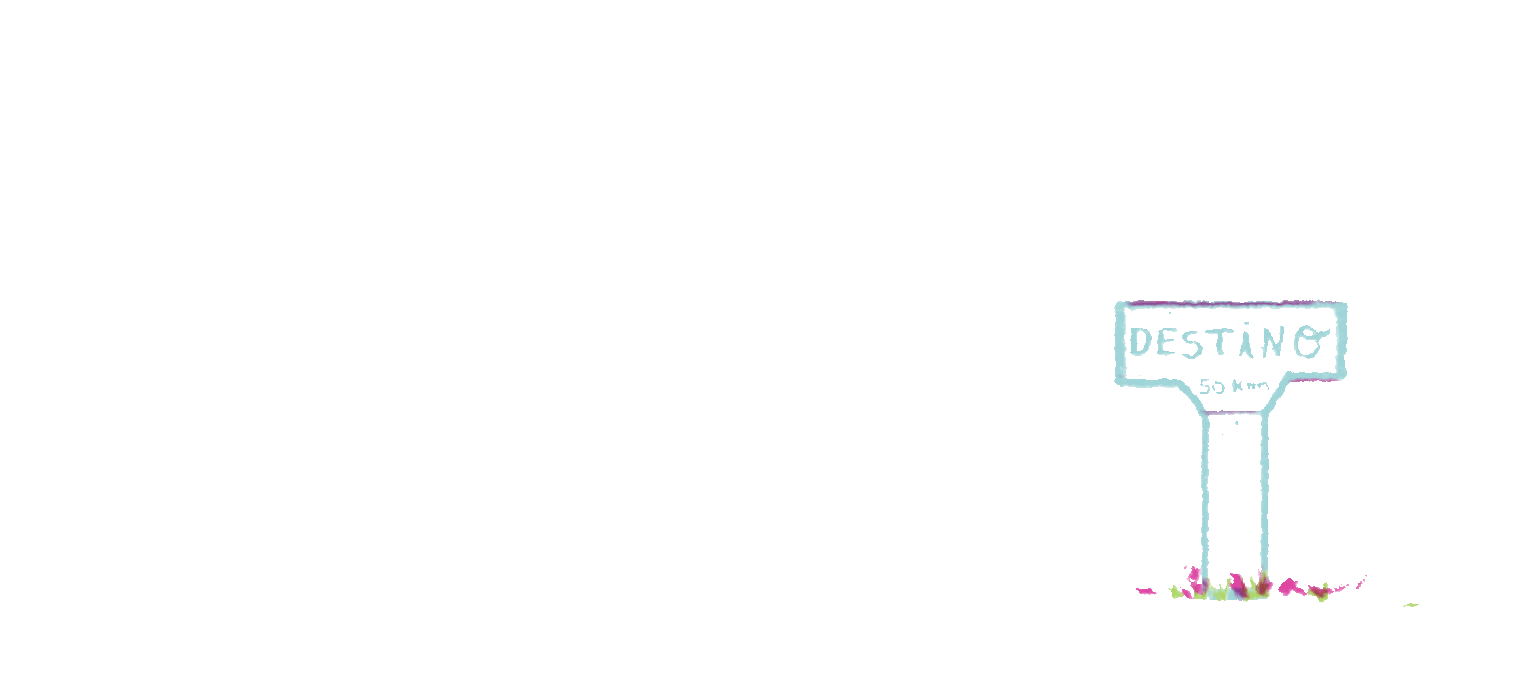
Sendo mais ou menos evidente, é consensual, para os entrevistados, que ainda existe um estigma associado à ideia de interioridade. «Quando falamos em «interior», inconscientemente, já está um lado negativo. Menos capaz de responder, com mais dificuldades de resposta, com mais necessidades, com mais pobreza», interpreta Luís André Sá.
Já na opinião do autarca Jorge Rosa, esse estigma tem vindo a reduzir-se substancialmente, graças às políticas de valorização daqueles territórios, mas também a «alguma filosofia que há, neste momento, no país, de querer aproximar as zonas do país mais despovoadas, de menor investimento e importância daquelas que o têm».
Sobre esta tónica, Helena Freitas é bastante direta: «O estigma existe.» Para a professora catedrática da Universidade de Coimbra, «não há dúvida de que há um estigma associado àquilo que temos ainda como território rural», porém, relembra que, apesar de hoje esses territórios não existirem tal como antigamente, «na nossa cabeça eles permanecem».
Será que a revitalização dos territórios do interior passa pelo redesenhar de um conceito profundamente enraizado no imaginário português? Celso Reis Lopes acredita que sim e que muitos portugueses, nomeadamente, aqueles que fizeram parte da grande vaga de emigração na segunda metade do século xxi, continuam a imaginar a vida numa aldeia e nos meios mais rurais como ela era quando partiram, há várias décadas. «Digo imaginar, porque é mesmo uma imaginação, porque isso já não existe. […] Temporalmente [essas pessoas] ficaram paradas ali», critica o doutorando em Desenvolvimento Territorial Sustentável. «Não podemos pensar nas ideias com base naquilo que já vivemos, porque tudo muda e as aldeias também mudam e reconstroem-se. […] Por mais que venham quinze dias por ano [nas férias], o que vêm viver não é a vida da aldeia que existe atualmente.»

«Grande parte do mito do interior deriva da falta de conhecimento de uma parte importante da população concentrada no litoral», menciona Emídio Gomes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, referindo-se ao «estigma da ignorância.» E a esse respeito relembra uma experiência vivida na primeira pessoa: «Trabalhei alguns anos, poucos, em Lisboa. A primeira coisa que aprendi foi que deixei de ser do Porto, passei a ser do Norte, e, para o cidadão médio em Lisboa, o queijo da Serra da Estrela é um queijo que se produz no Norte de Portugal. Isto em termos de conhecimento não diz tudo, mas simboliza bem a forma como se olha para o país.»
Esse «interior», assim designado, é hoje tema de debates, conferências e reportagens. Mas a palavra, que hoje muitos consideramos suportar um significado menos positivo, carrega também consigo uma herança histórico-cultural de um outro termo, usual na altura do Estado Novo: a província. E isso leva-nos a questionar: qual o peso das palavras no desenvolvimento regional e perceção do mesmo?
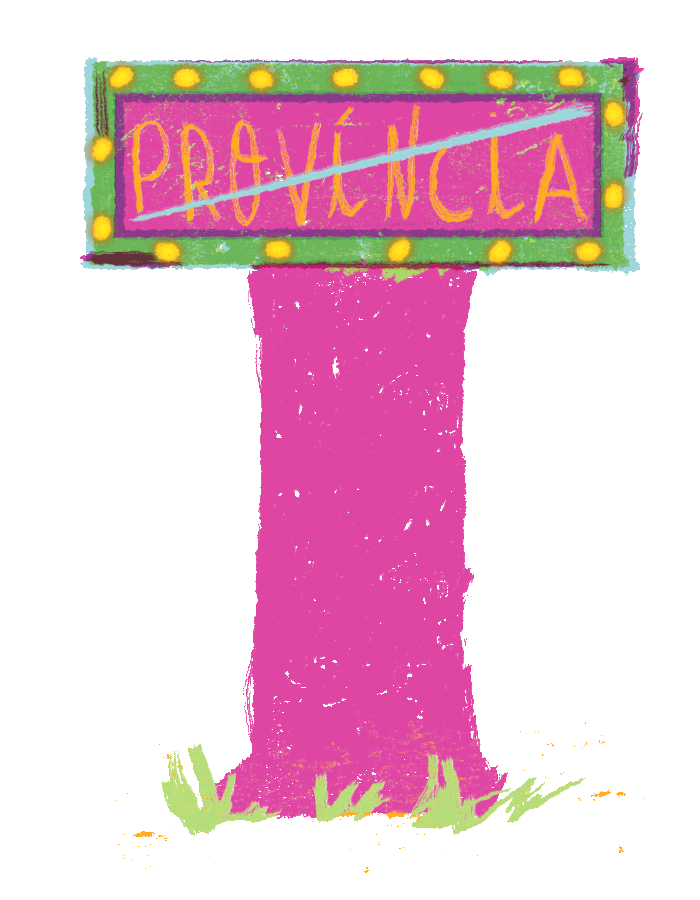
«Há Lisboa e há a província», lembra. «Percebeu-se que ser provinciano é o mesmo que dizer que é rústico, que é das berças e, então, o termo “fino” é interior, mas, nesse sentido, acho que tem um toque pejorativo. […] Também tem um toque tecnocrata para os poderes políticos.»
Mais do que província – que, num sentido literal, foi uma antiga divisão administrativa do território nacional por regiões –, «berças» é hoje um termo que caiu em desuso, principalmente nas camadas mais jovens. No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, podemos encontrar para esta palavra o significado depreciativo «Terra ou terras da província ou do interior rural. = parvónia». Já «provinciano», de acordo com a mesma fonte, encerra a definição, em sentido figurado, de «Acanhado, ridículo, aldeão».
«Há sempre um tom de desprezo», «de ter pena» ou um «sentido de compaixão», quando lhe dizem, em Lisboa, que é provinciano ou do Norte, conta o sociólogo, que nasceu no Porto, mas viveu em Vila Real, considerando-se «transmontano, para todos os efeitos.» «A palavra interior não encerra nada de bom. É como a palavra provinciano», determina António Barreto. «Provinciano, muitas vezes, quer dizer parolo, rústico e só não se diz saloio, porque saloio é uma região aqui muito perto de Lisboa. Mas quando se diz, está-se a pensar no país inteiro também. Menos Lisboa, com certeza», ironiza.
Também Luís e Celso recordam o termo e a conotação a ele associado. «Era o termo que se usava na altura do Estado Novo, que eram as zonas mesmo de pessoas iletradas, analfabetas, pobres, que passavam fome…», relembra Celso, que, contudo, não revê na expressão «interior» esse sentido tão depreciativo.
«Interior» é uma palavra, «na verdade, muito mais poética», entende Luís André Sá. «Se formos analisar a etimologia da palavra, estamos a falar de dentro, o que é a tua constituição, do que vem de dentro, da tua força, da tua energia. E, se pensarmos que o interior do país é o pulsar do país, é daqui que sai a identidade – toda, ou grande parte dela –, então isso é muito bonito realmente.» Para o diretor artístico, o problema não está nas palavras que vão definir aqueles territórios, mas a nossa perceção daquilo que efetivamente eles são e do que está na sua génese.
«As palavras são o que fazemos delas», refere André Barata, segundo quem «podemos fazer um uso positivo» e «mesmo muito forte de “interior”». Mas para o docente da UBI, o uso que é feito atualmente, no âmbito da decisão política e da definição de políticas públicas, é estigmatizador.

Por isso, o investigador acredita «que uma grande parte do que se tem de fazer é, justamente, revitalizar uma semântica do interior e que permita opor uma narrativa positiva àquela narrativa que, no fundo, é de dominação.»
Ainda sobre este tema, Alcides Monteiro realça que hoje esse «estigma» não é necessariamente vivido da mesma forma por toda a gente. «Há quem viva no interior – e incluo-me nessas pessoas – que o faz por opção e não sentindo-o como estigma. É uma forma diferente de estar neste Portugal do século xxi e não tem necessariamente de ser carregado de negativismo.»

As representações culturais e a abordagem mediática acabam por contribuir para a perpetuação deste estigma. Esta é a opinião de alguns académicos e jornalistas questionados pelo Gerador, que reconhecem a existência de uma falsa perceção de distância, o que contribui para o «isolamento» das regiões do interior.
Esta distância está, muitas vezes, patente na representação que é feita de um interior longínquo, o que, segundo André Barata, não se justifica, tendo em conta a dimensão do país. O professor universitário diz que essa ideia de longinquidade é, sobretudo, uma narrativa construída e não uma realidade territorial, já que os bons acessos permitem deslocações céleres entre regiões.
Além disso, acredita haver uma representação cultural de «menorização», não sustentada em factos, que gera, à partida, baixas expetativas em relação àqueles territórios. «É claro que a coisa funciona um bocadinho de forma circular, porque, se a representação for muito negativa, depois as oportunidades são menores», explica o docente da UBI. «É uma espécie de profecia autopreenchida. Portanto, é preciso também atacar forte as representações e, para isso, é voltar ao princípio, é dizer: o interior é um conceito territorial inadequado.»
As representações que André Barata indica prendem-se também com a narrativa mediática. A abordagem jornalística tende a diferir consoante a região, acabando por ser um espelho das desigualdades.
Vítor Fernandes, administrador e diretor de informação da Rádio Regional – cadeia de rádios que abrange Vila Real, Mirandela, Bragança e Chaves –, aponta que o problema está, em grande parte, no facto de continuarem a ser feitas reportagens em torno do «negócio da saudade», que evocam práticas tradicionais antigas e já em desuso. «Enquanto tivermos esta ideia, penso que se está a criar um rótulo quase de uma zona toda parada no tempo. Eu discordo disso.»
O responsável refere que «toda a vida que conhecemos nas grandes cidades também existe no interior», ainda que em menor escala, motivo pelo qual deveriam ser mais ponderadas as representações que são transmitidas pela comunicação social. Vítor Fernandes afirma compreender a tentativa de valorização cultural que é feita, nomeadamente, para promover o turismo, mas esclarece que isso não pode significar que se façam apenas reportagens sobre «cavalos, burrinhos e Caretos [de Podence]». E dá ainda outro exemplo: «Quando foi feita uma manifestação LGBT em Bragança… Meu Deus! Aquilo foi um escândalo nacional, quando em todas as cidades do país, há [manifestações] LGBT. Enquanto continuarmos a tratar as zonas do interior como quase medievais também isso será prejudicial.»
Salvo algumas exceções, esta situação acontece devido à «falta de vivência direta» dos profissionais dos meios de comunicação nacionais, conforme explica Alcides Monteiro. O sociólogo da UBI comenta que a observação dos acontecimentos, por parte dos media nacionais, «não é [feita] de lupa, mas é de telescópio», por ser muitas vezes alienada dos territórios. «Se queremos ter um desenvolvimento diferente, temos de também vislumbrar uma imagem diferente daquilo que é o Portugal do século xxi», atenta.
Outra questão, mencionada por Vítor Fernandes, é a projeção que obtêm as notícias da capital e a supremacia destas em relação a temas de outras regiões.
Esta igualdade de tratamento é, também, uma aspiração de Ana Rodrigues, em especial no que respeita à sua profissão. Ana é, há mais de uma década, jornalista da agência Lusa e do jornal Notícias da Covilhã. Enquanto profissional a residir na Beira Interior, diz não gostar da perspetiva fatalista a partir da qual são retratadas as regiões de baixa densidade e sublinha que, nos órgãos para os quais trabalha, «há sempre muitos aspetos a explorar que contrariam essa espécie de estigma, que alguns OCS [órgãos de comunicação social], ou jornalistas, insistem em perpetuar». Esse reforço da diferença a que a jornalista alude dá-se «quando só noticiam o que se passa na região na dita época de incêndios, quando há tragédias, quando acompanham governantes de visita à região, para os questionar sobre a polémica do dia, sem olharem ao redor», ou ainda quando «só se faz a cobertura do evento, feirinha ou acontecimento de agenda “de bem”, promovidos pelas autarquias e afins».
«Já basta existir ficção vista por milhões de portugueses que reforça um imaginário coletivo muito distante da realidade quotidiana da região. Não precisamos de gente, comprometida com o código de conduta da profissão, que também se preste a esse papel tão redutor», acrescenta.
Se a dualidade litoral-interior é, em grande medida, perpetuada pela perceção que é mantida, em relação aos territórios, a verdade é que existem também fatores de ordem política, social e até administrativa que acabam por dificultar a resolução do problema demográfico. Entre os vários especialistas, responsáveis políticos e cidadãos ouvidos pelo Gerador, é consensual a ideia de que o desequilíbrio deve ser combatido através de políticas públicas específicas, embora haja discordâncias quanto à solução mais adequada, ou ao problema mais premente. De facto, as opiniões dividem-se logo na base: o que significa, afinal, esta ideia de coesão?
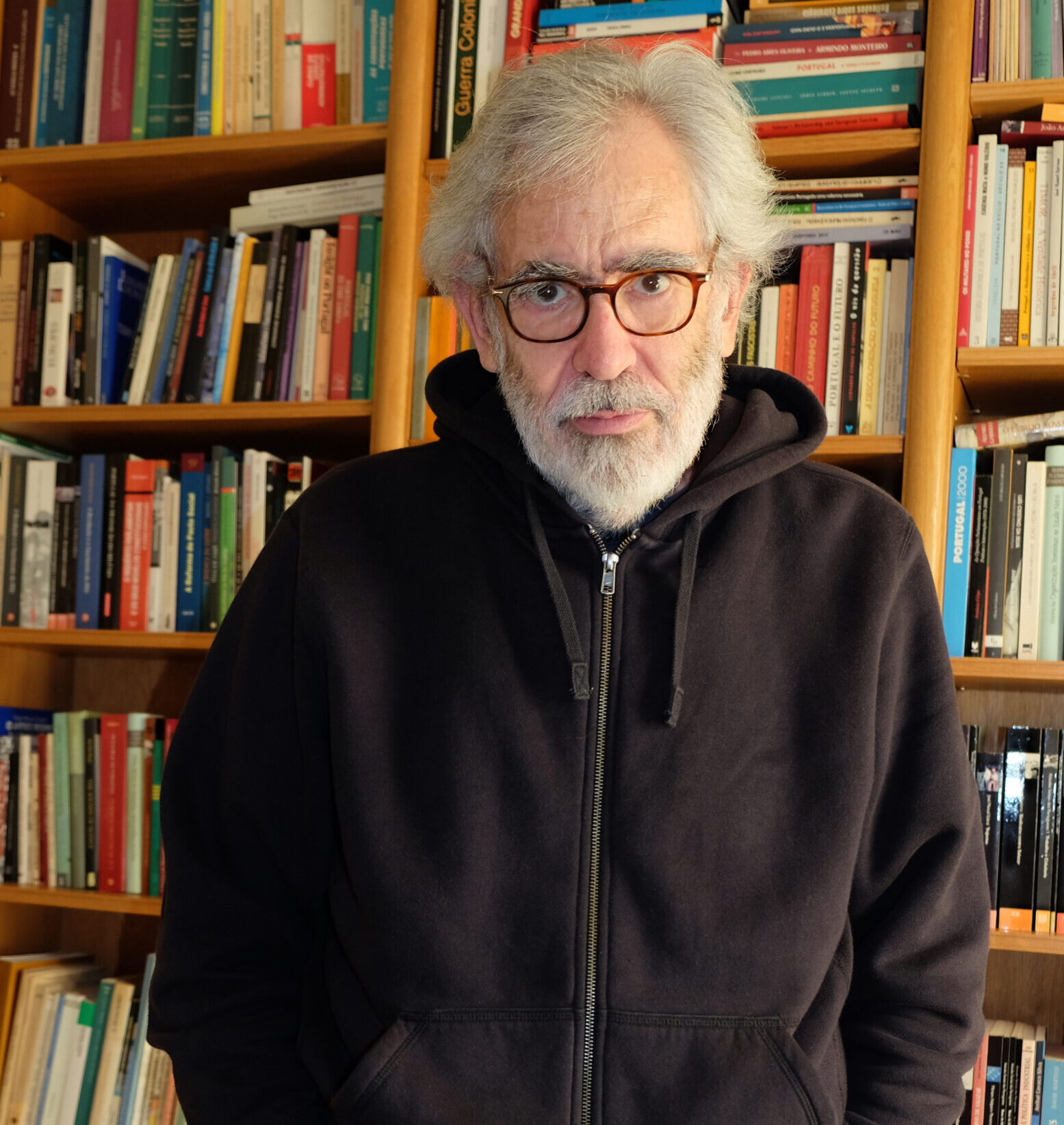
Esta visão não significa que o investigador desconsidere a desigualdade existente entre as várias regiões do país, já que, segundo refere, esta é «inerente ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento das populações, ao crescimento do capitalismo e de outras formas de economia». Desta forma, ressalva que «o sonho do desenvolvimento de um país absolutamente igual na riqueza, nas pessoas, nos desejos, nos projetos é uma fantasia terrível porque é totalitária». Ao invés, defende que a nossa obrigação enquanto sociedade é «encontrar soluções que permitam às pessoas nas situações mais difíceis fazer escolhas, encontrar e ter acesso às facilidades, ao conhecimento, aos bens», independentemente do local de residência.
Por seu turno, Alda Azevedo, demógrafa e investigadora no Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Lisboa, acredita que a coesão se prende com a mitigação de desigualdades – nomeadamente a nível social e no acesso a serviços – e não tanto com a densidade populacional das regiões. «Precisamos de mudar o paradigma na forma como olhamos para o litoral e para o interior», nota.
A questão que se levanta é saber «quais são as assimetrias que queremos combater» e focarmo-nos nas mesmas, segundo Helena Freitas. A ex-coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior considera que a solução «passa pelas políticas de educação, de saúde e de segurança», que vão possibilitar a qualquer cidadão ter acesso ao que necessita «independentemente da escolha que ele faz para viver».
Mas se a solução passa pelas políticas públicas, como devem estas ser definidas? A resposta mais direta – e que resume as opiniões ouvidas pelo Gerador – é «territorialmente». De facto, a adequação das políticas às especificidades de cada concelho, distrito ou região é apontada como a chave para se conseguir um desenvolvimento sustentável. De tal forma que esta foi mesmo a «principal preocupação» do Ministério da Coesão Territorial, quando lançou as primeiras medidas de estímulo para os territórios, segundo Ana Abrunhosa.
A ministra elucida que as medidas desenhadas sob a sua alçada foram desenvolvidas «com o território» e, por isso, eram aquelas que as localidades e instituições necessitavam. «O Ministério definiu as linhas de apoio gerais, mas depois foi o território, agregado nas NUT III (Unidades intermunicipais), que escolheu quais as áreas das economias locais e regionais que eram mais importantes de estimular», afirma. «Portanto, isto é coesão territorial. É definir um programa nacional, mas depois dar flexibilidade e abertura» para que, na concretização da medida, o território possa intervir.
Apesar do esforço assumido pela governante, a centralidade e distância das decisões é, ainda assim, criticada e apontada como um problema no combate ao desequilíbrio demográfico do país – a par com a falta de eficácia das medidas. Alcides Monteiro, sociólogo e docente da UBI diz que «falta um método e parece-me que este passará por um sistema de governança, a par de um sistema de governo, que seja capaz de aproximar os atores e os agentes de cada território da decisão».
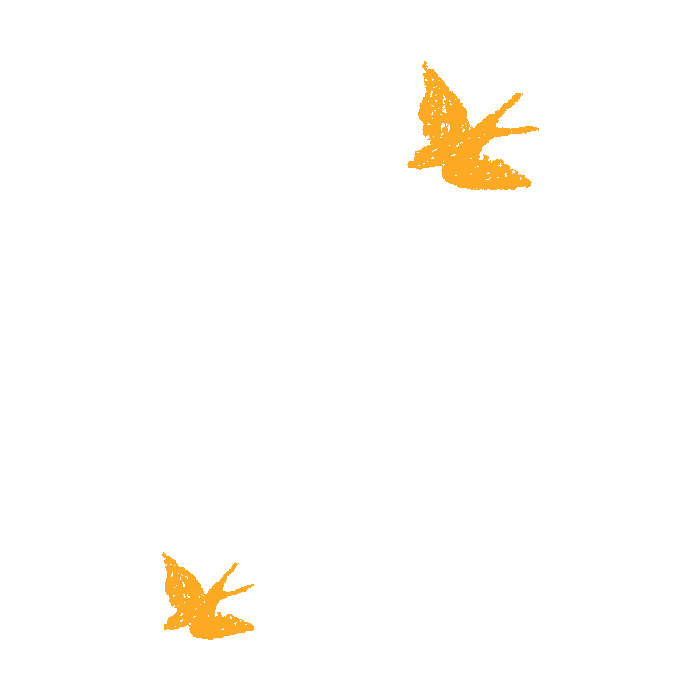
Para muitos, esta proximidade seria mais facilmente alcançada através de uma reforma administrativa, nomeadamente, da regionalização. Mas esta é uma questão que, há décadas, fratura a sociedade portuguesa. Prevista na Constituição da República de 1976, a definição de regiões administrativas que fariam a intermediação entre o Estado central e as autarquias esteve descrita em vários programas de Governo, mas foi sucessivamente adiada. A revisão constitucional de 1997 fez a decisão depender de referendo e, no ano seguinte, o país votou a possibilidade de dividir Portugal continental por regiões, tendo o «Não» vencido com maioria absoluta (63,52 %). Desde essa altura, a possibilidade de voltar a questionar os cidadãos sobre a regionalização tem sido frequentemente reivindicada.
Em setembro de 2019, uma sondagem da Pitagórica para o Jornal de Notícias revelava que a maioria dos portugueses era favorável à regionalização, com 51 % a afirmar que votaria «Sim», caso o referendo avançasse. Na informação divulgada salientava-se ainda o facto de a região de Lisboa ser a única do país onde o «Não» era vencedor, com 48 % dos votos.
No mesmo ano foi realizado um outro inquérito intitulado «Organização do Estado e as competências dos municípios». Este estudo, realizado pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, mostrava que 77 % dos autarcas queria a criação de regiões administrativas no curto prazo e 84 % destes defendiam mesmo regiões administrativas com órgãos próprios eleitos diretamente.
O que está em causa, para muitos destes autarcas, é que «as prioridades que são traçadas a nível central, muitas vezes, não as mesmas que precisamos ao nível das regiões», sublinha Jorge Rosa. O presidente da CIM Baixo Alentejo faz parte da lista de personalidades que apoia a regionalização, pois crê nos benefícios que esta reorganização traria às localidades do interior.
Neste ponto, Ana Abrunhosa não discorda. A ministra da Coesão Territorial afirma-se uma «regionalista convicta» e é perentória ao avaliar que «a forma de desenhar e implementar políticas públicas, em Portugal, continua a ser muito centralizada no Governo». A regionalização deve, por isso, «ser sinónimo de maior responsabilização dos eleitos, de maior proximidade aos eleitores, mas também de melhor gestão dos recursos e dos resultados no terreno», assegura.
A responsável explica também que a pandemia «sublinhou» a necessidade de um Estado «mais bem organizado, mais bem coordenado em cada região» e aponta como caminho a desconcentração de serviços para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que diz ainda não disporem de poder suficiente.
«Temos uma terrível falta de governadores civis nos territórios. A pandemia também nos mostrou isso. Temos é de agora, na minha perspetiva, [fazer com] que os próprios presidentes das CCDR possam vir a ser governadores civis regionais».
Por outro lado, há quem pense, como António Barreto, que a regionalização não traria grandes benefícios. «Eu não sou favorável à regionalização, no sentido em que não acho que seja necessário uma reorganização do poder político em pequenos parlamentos e pequenos governos regionais, mas sou muito favorável à descentralização de muitas competências que ainda hoje estão no Estado Central e que, há muito, deviam estar nos sítios, nas escolas, nos hospitais, nas autarquias, que deviam ter muitíssimo mais poder, mais meios», afirma.
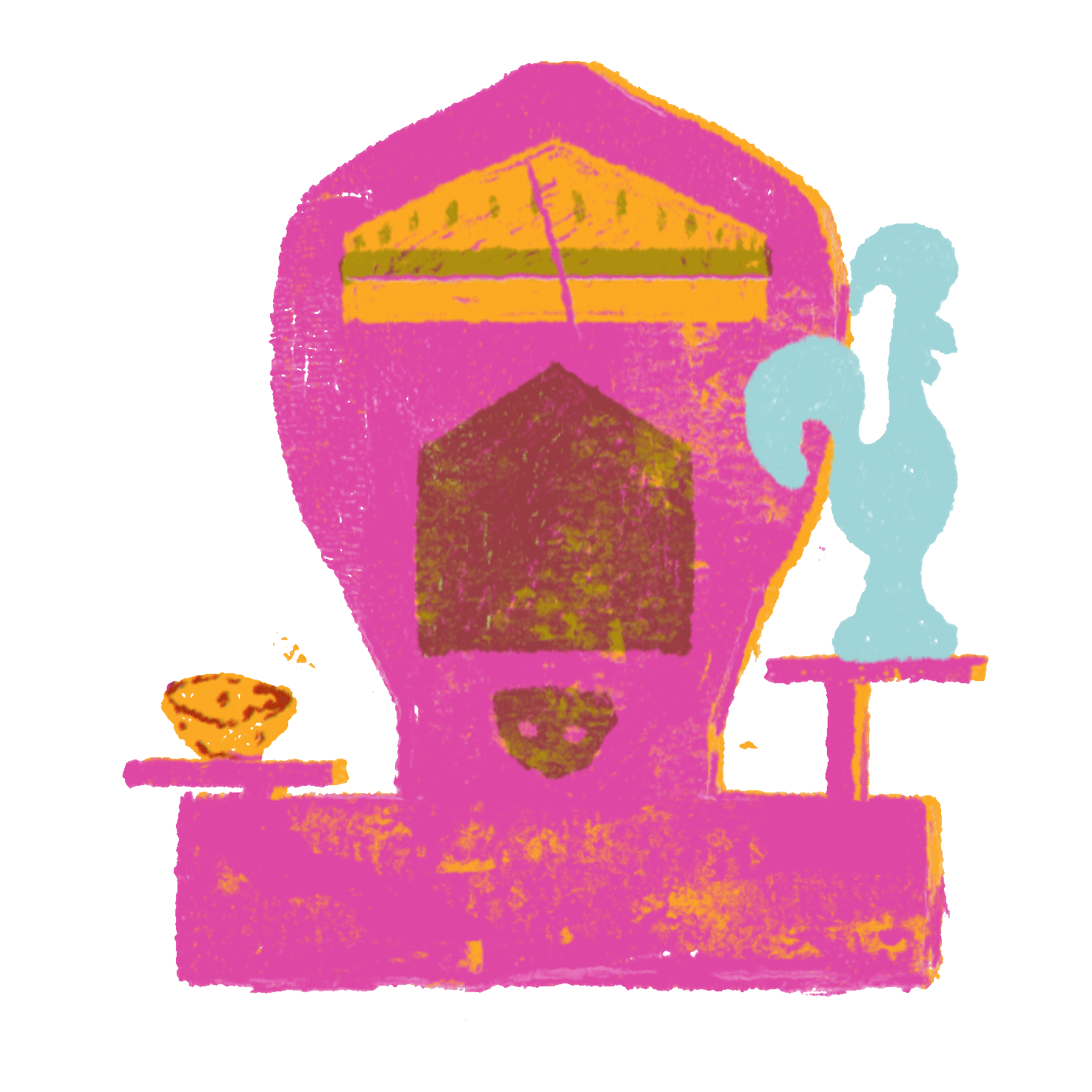
O sociólogo diz que o grande problema de Portugal é, de facto, o centralismo do poder, mas este não deve ser combatido através da criação de regiões administrativas, pois a pequena dimensão do país não a justifica. Defende, antes, que a lógica de fiscalidade portuguesa deveria ser repensada: ao invés de pagar impostos ao Estado central e este os redistribuir pelos municípios, a cobrança seria feita localmente, invertendo a lógica atual. «Pagamos impostos à nossa comunidade e a nossa comunidade é que vai retirar uma parte para pagar aos níveis superiores, porque é preciso financiar os níveis superiores de decisão», sugere.
Estando a representatividade dos cidadãos portugueses ligada ao seu local de residência, o problema do desequilíbrio demográfico afeta, em última instância, a própria democracia do país. Com o sistema eleitoral assente no Método de Hondt, a falta de coesão no território fica refletida na composição parlamentar, onde os distritos mais populosos elegem um maior número de deputados.
Os Censos 2021 revelaram um aumento da litoralização do país nos últimos dez anos. Os resultados preliminares, divulgados em agosto pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), indicam que cerca de 50 % da população residente se concentra em apenas 31 dos 308 municípios, estando aqueles localizados maioritariamente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.
A partir da análise por concelho, o INE concluiu também que «os territórios localizados no interior do país perdem população» e os municípios que assistiram a um crescimento populacional se situam predominantemente no litoral, «com uma clara concentração em torno da capital do país e na região do Algarve».
De acordo com este recenseamento geral, a Área Metropolitana de Lisboa tem mais 49 257 habitantes do que há dez anos, um aumento de 1,7 %. Em contrapartida, distritos como Portalegre perderam cerca de 12 mil habitantes, no mesmo período de tempo.
Portalegre já era, nas últimas eleições legislativas, o distrito que menos deputados conseguia eleger, com apenas um par de mandatos na Assembleia da República. Estando o número de residentes ligado ao número de eleitos, a região – que já teve, no passado, direito a quatro deputados – pode ver a sua situação agravar-se, já que a sangria de residentes tem sido contínua.
São casos como este que levam Helena Freitas a considerar que «estamos um pouco prisioneiros dessa lógica do sistema eleitoral». A investigadora refere que este sistema beneficia as forças políticas de maior dimensão e afirma mesmo que os partidos «configuraram as suas redes em cima da própria organização do Estado», o que acaba por «condenar o país». «Não é possível uma democracia viver assim, temos de mudar isso.»
O que aqui está em causa é o agravamento cíclico desta situação, uma espécie de «efeito bola de neve» que tende a piorar cada vez mais, como clarifica Alda Azevedo: «O que acaba por acontecer é depois uma orientação política muito forte para aquilo que são medidas que possam ser populares no litoral do país, que respondam às necessidades prementes dos territórios onde se concentra a maior parte da população.»
A investigadora, que se dedica ao estudo da demografia da habitação e do envelhecimento demográfico, diz que esta assimetria na distribuição da população resulta num «duplo reforço», que prejudica o interior de duas formas distintas: «há um reforço do poder de atração do litoral e um reforço simultâneo do poder de repulsão da população do interior. Portanto, agudização das desigualdades territoriais, que, por sua vez, comportam desigualdades sociais».
O facto de as populações estarem menos representadas na Assembleia da República tem impacto na sua «voz» reivindicativa, o que pode culminar num «ciclo vicioso muito difícil de sair», sublinha também Miguel Poiares Maduro.

O ex-ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional afiança que a sub-representação das populações residentes em zonas de baixa densidade «é um dos aspetos que devíamos corrigir» para poder corrigir as assimetrias territoriais, ainda que chame a atenção para o facto de não ser o único. «Devíamos ter capacidade de, independentemente disso, tentar construir alguns compromissos enquanto sociedade», considera.