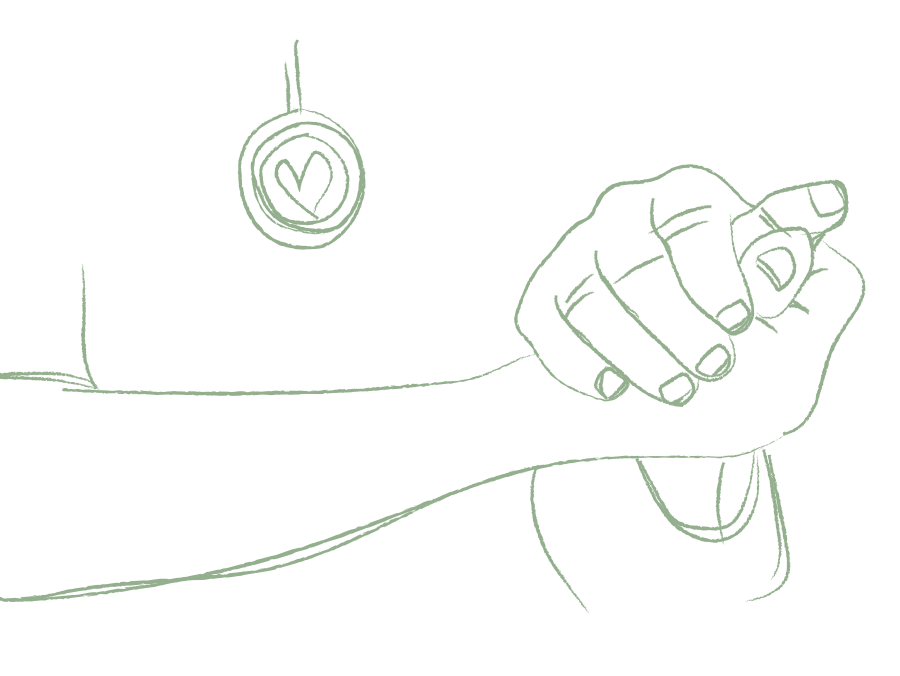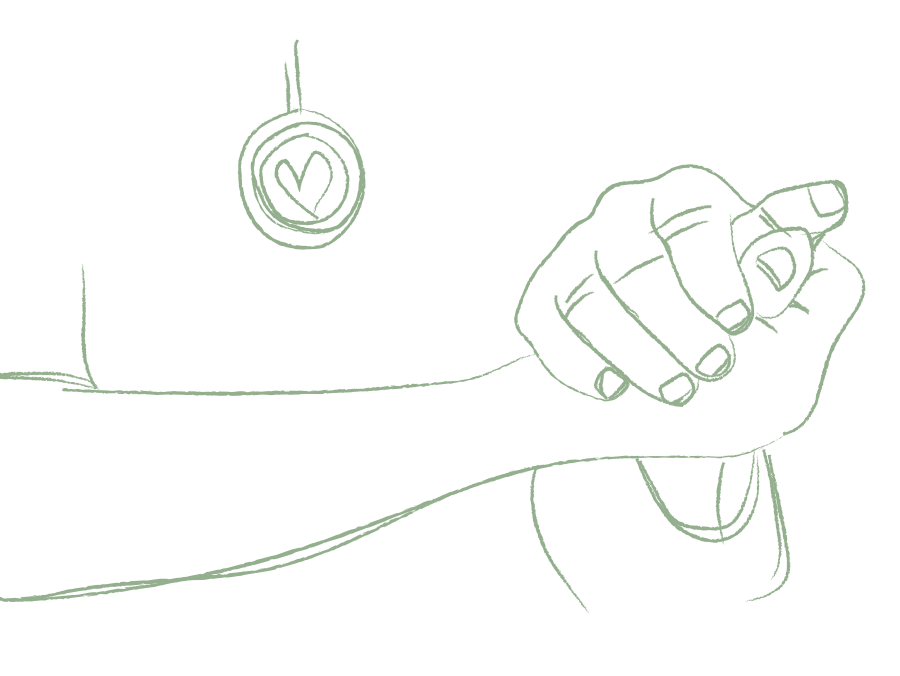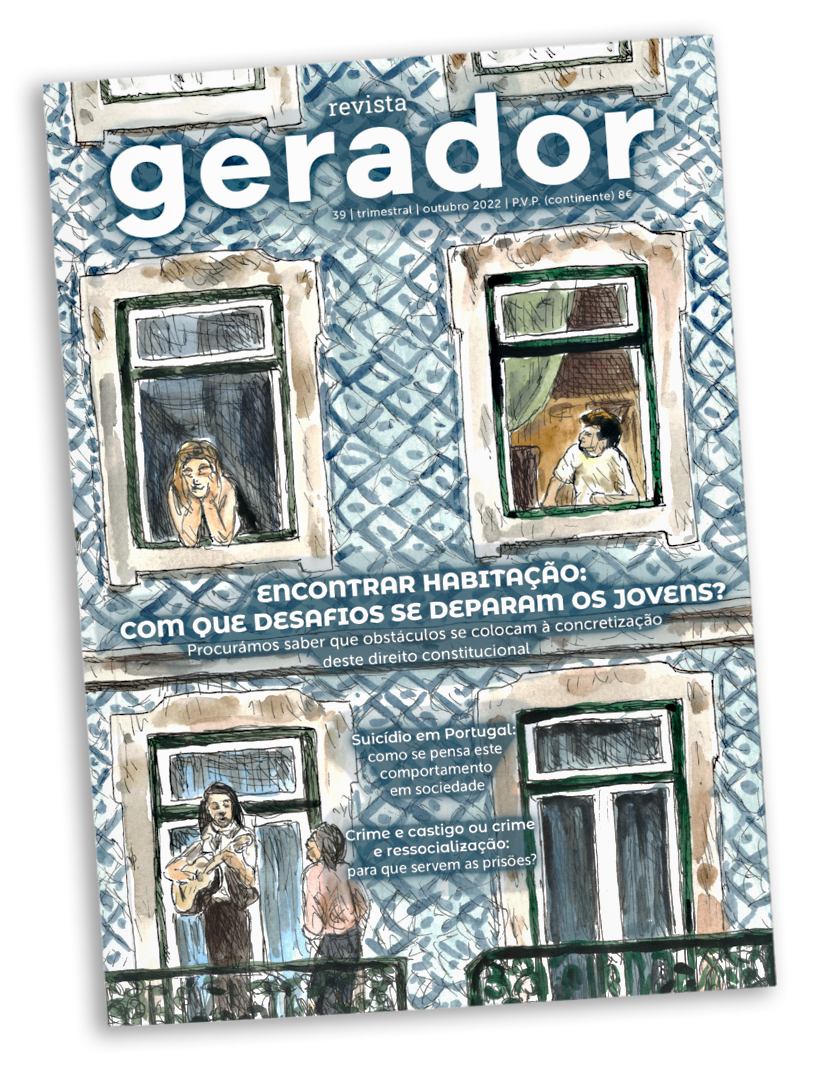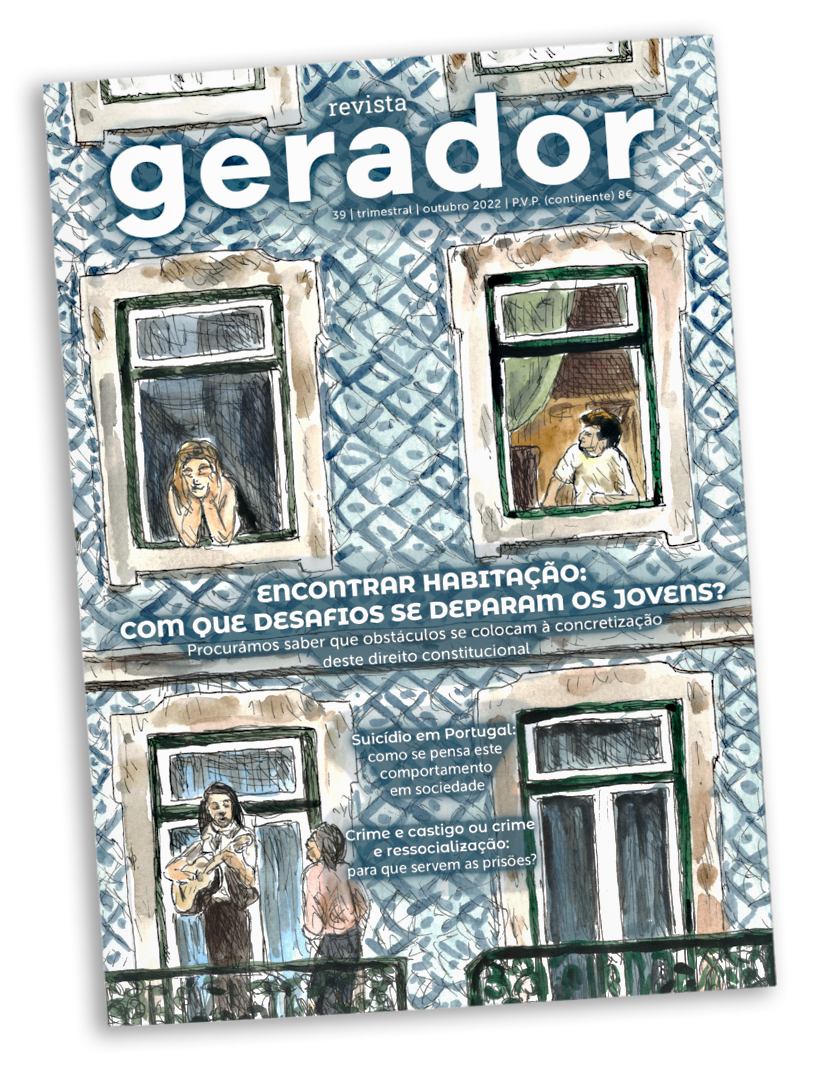Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
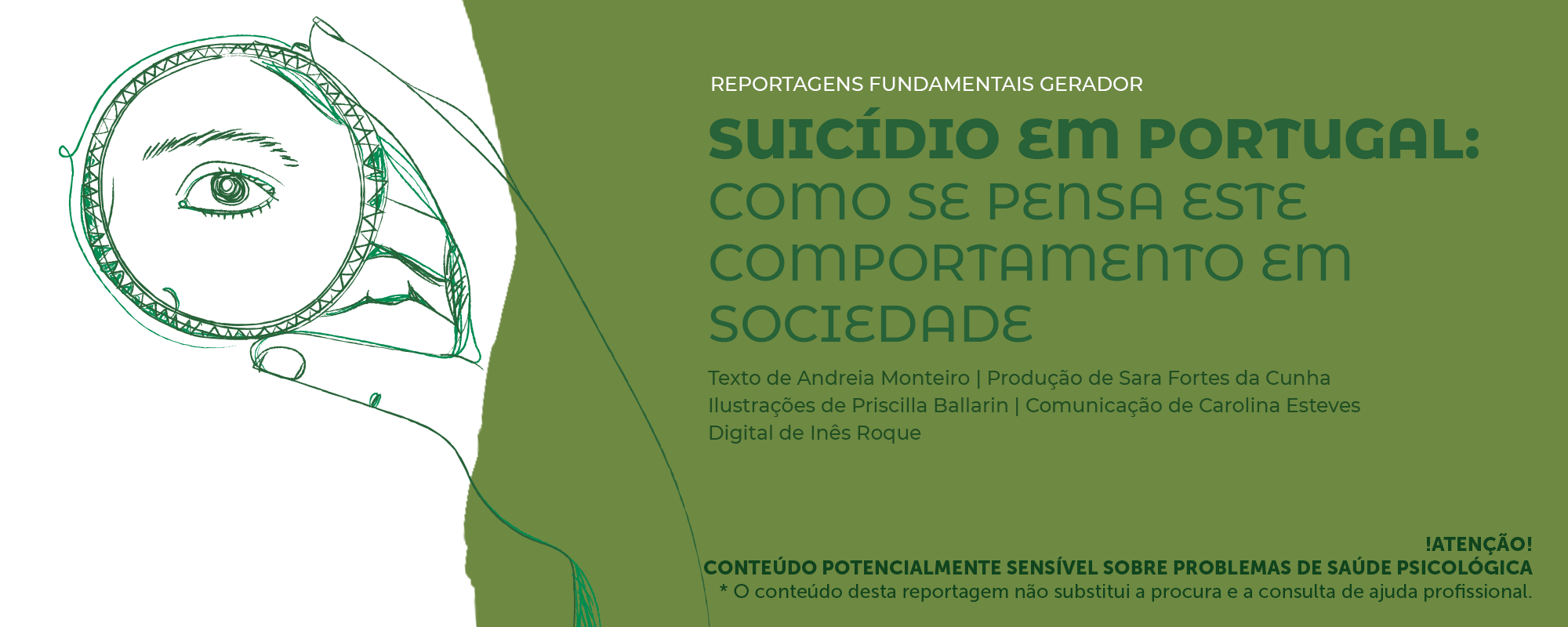

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), através de um texto publicado pelo departamento do Mediterrâneo Oriental, o suicídio define-se como “o ato deliberado de alguém retirar a própria vida”. No entanto, o entendimento deste comportamento não foi linear ao longo da história, podendo ser analisado sobre diversas perspetivas, em diferentes épocas, recorrendo, por exemplo, à Psicologia, Sociologia ou à Teologia.
Etimologicamente, a palavra suicídio deriva do latim, suicaedes, e significa sui ‘si mesmo’ e caedes ‘ação de matar’, ou seja, a “morte de si mesmo”. Só em meados de 1700 surge o termo “suicídio”, que vem substituir essa expressão. “Essa alteração de terminologia representa a evolução de pensamento a partir do fim do período medieval”, lemos em “Considerações acerca do suicídio no período medieval sob a lente da história da educação”, de Juliana Calabresi Voss Duarte e Terezinha Oliveira, artigo publicado no Bralizian Journal of Development (2022).
Muitas vezes visto, já no período moderno, como “um assunto controverso para a sociedade e para a religião, por esta considerar o suicídio uma ofensa contra Deus (um pecado)”, ao longo dos anos tem-se, também, visto surgir a hipótese de a “insanidade substitui[r] o pecado”, explica Cristiano Batista no artigo “O Suicídio na Europa da Época Moderna: perspetivas cruzadas”, In Omni Tempore: atas dos Encontros da Primavera (2018, Porto).
Durante o Antigo Regime, vigorava o domínio da Teologia na forma de pensar e interpretar o suicídio, em que se observava a atribuição de “possessões demoníacas a serem dirigidas aos suicidas”. No século XVII, observa-se uma repressão do suicídio por parte das autoridades civis e religiosas: “preocupados com a filosofia estoica, e com medo de que essas ideias conduzissem a mais incidentes, o clero condenou, com uma linguagem forte, o suicídio, dizendo que a saída fácil apenas levaria a um pior sofrimento no Inferno”, destaca Cristiano.
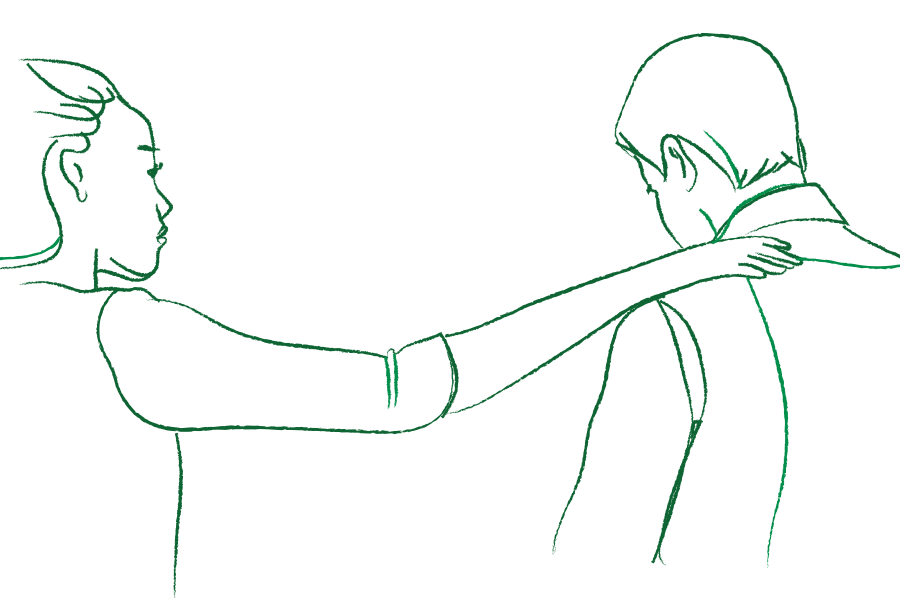
Também na Idade Média, a área do Direito apresenta processos em casos de suicídios, como é o caso dos processos do King’s Bench (um tribunal de direito comum no sistema jurídico inglês), entre 1530 e 1680, em que as leis contra o suicídio eram “rigorosamente aplicadas”, embora nem todos os suicídios fossem tratados judicialmente por alguns casos serem “dissimulados como mortes naturais, estes quase sempre ligados à nobreza e ao clero”, como explanado na obra Les procès à cadavre des suicidés à la fin de l’Ancien Régime, de Marc Ortolani. Esta visão, com o passar dos séculos, foi sendo substituída por argumentos filosóficos e médicos.
Através da análise de obras como tratados, textos dramáticos ou romances, conseguimos, de facto, identificar algumas propostas de reflexão sobre o suicídio ao longo dos séculos. A título ilustrativo, no século XVII, Shakespeare promove o debate sobre o enterramento cristão em caso de suicídio, com a obra Hamlet, neste caso através da personagem Ofélia. Em 1608, John Donne redige um tratado, Biathanatos, que é o “primeiro inteiramente consagrado ao suicídio”, aponta Cristiano, em que refutava o discurso clerical que via todos os casos de suicídio como resultado de “cobardia ou desespero”, dando “um grande passo ao colocar-se para lá daquilo que a sua época poderia entender”, pois a simples não condenação do suicídio já apresentava uma rutura com o pensamento dominante da época.
No século XVIII, inicia-se um debate sobre o suicídio por parte de vários filósofos como Kant, Hume, Montesquieu, d’Holbach, Rosseau, Diderot ou Jean Dumas, de quem se estaca a obra Traité du suicide ou du meurtre volontaire de soi-même (1773, Amesterdão). “A filosofia iluminista e a secularização das elites europeias levaram os escritores da época a considerar o suicídio como consequência de uma doença mental ou de uma escolha racional, verificando-se assim a progressiva passagem do suicídio do campo da moral para o da medicina”, aponta Cristiano no mesmo estudo.
Porém, ainda neste século, as “penas infligidas contra os cadáveres, mais até do que os catecismos, mostram ao público como o suicídio é um crime”, embora os filósofos da época atacassem “vigorosamente o direito da sua época”, do qual Cristiano destaca o exemplo do Barão d’Holbach que apelidava “de inconsequentes as leis contra o suicídio”, de acordo com Le suicide et la morale, de Albert Bayet (1922, Paris).
A partir de metade do século XVIII, começou a observar-se, em alguns países europeus, o aparecimento de “programas de salvamento suicidas”, assim como a “atribuição de prémios e as discussões mediáticas sobre o salvamento”, dirigidas particularmente às elites. A partir daqui “a sociedade ilustrada adotava uma atitude geralmente tolerante e mesmo sentimental em relação ao suicídio”, elenca Cristiano, dando o exemplo da Gentleman’s Magazine que, depois de 1745, apresentava uma maioria de comentários que revelavam compaixão para com as vítimas e as suas famílias. Já o suicídio do poeta Thomas Chatterton (1770) “inspirou uma efusão de lamentações românticas”.

É no final deste mesmo século que, com a personagem Werther, de Goethe, do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther (1774), que alcançou projeção por toda a Europa, “ganha fama” a ideia do “suicídio romântico”. O autor, à data com 25 anos, inspirou-se no suicídio de um jovem motivado por uma rejeição romântica, o que levou ao temor de que este romance pudesse “induzir a juventude à imitação” do comportamento desta personagem. De facto, o romance “haveria de ser censurado em várias regiões do continente europeu devido ao aumento das mortes por suicídio que imitavam a forma de morrer do personagem. Notavelmente, o aumento dos suicídios foi observado nos jovens fidalgos que se reviam nas características e vivências do protagonista do livro e que adotaram o mesmo comportamento quando enfrentaram problemas semelhantes aos do jovem Werther”, de acordo com Prevenção do Suicídio – Manual para Jornalistas. Ainda hoje, esta personagem é lembrada naquilo a que se chamou Efeito Werther, um fenómeno consensual na comunidade científica, e que diz respeito ao risco de imitação por pessoas em risco, algo que deve ser tido em conta quando se fala sobre o suicídio e, principalmente, na forma como se aborda publicamente este comportamento.
Hoje, entendemos que “o suicídio é um problema multifacetado, envolvendo fatores de risco individuais, familiares, comunitários e sociais. Os seus determinantes são de natureza antropológica, psicológica, biológica e social, e atuam muitas vezes simultaneamente”, escreve Miguel Xavier, coordenador da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, em Prevenção do Suicídio – Manual para Jornalistas. Assim, o suicídio não é uma doença, mas sim um comportamento, embora este último possa, ou não, surgir associado a uma doença, nomeadamente do foro mental.
No manual Vamos Falar sobre o Suicídio, produzido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, lemos: “O suicídio e as tentativas de suicídio resultam e são sinais de grande sofrimento emocional e representam um desafio de Saúde Pública em todo o mundo, com impactos nas pessoas, mas também nas suas famílias, na sua comunidade e na sociedade.”
Miguel Xavier
Ana Matos Pires, psiquiatra e elemento da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, explica que “o suicídio é um problema de saúde pública, não tanto pelo número porque, felizmente, é um fenómeno raro, mas porque é um fenómeno sem retorno em que acaba uma vida”. “A sua importância em termos de saúde pública é o não retorno, a letalidade do acontecimento, e as implicações que tem num conjunto de pessoas à sua volta, os chamados sobreviventes”, aclara.
Ana Matos Pires
“As pessoas têm o direito de se matar?” é o título de um artigo publicado no site da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Como resposta, escrevem: “Sim, e deverá ser uma escolha da sua responsabilidade. No entanto, ajudar alguém a lidar melhor com os problemas, ver as opções com maior clareza, ajudá-las a fazerem a melhor escolha evitando algo que lamentariam, reforça os direitos de alguém, não lhos retirando.” No mesmo artigo, realça-se ainda que o suicídio constitui “uma solução permanente para um problema temporário”, pelo que se deve lembrar a pessoa com ideações suicidas que existe ajuda e que os seus problemas e a sua dor têm a hipótese de melhorar.
Nesse sentido, Sofia Santos Nunes, psicóloga e presidente da Associação Sobre Viver depois do Suicídio, esclarece que, embora o suicídio seja uma escolha, não é uma escolha livre. Para o explicar, dá o exemplo do alzheimer, em que, “numa fase mais tardia da doença, não culpamos a pessoa por fazer coisas em que não a reconhecemos. Chegamos a um ponto em que percebemos que aquele cérebro deixou de funcionar da maneira como funcionava”. “Nos casos de depressão é exatamente igual”, defende, explicando que “a depressão tem alterações neurobiológicas, nas estruturas cerebrais, no seu funcionamento, tal como acontece na adição (toxicodependência)”.
Nesse sentido, Sofia Santos Nunes, psicóloga e presidente da Associação Sobre Viver depois do Suicídio, esclarece que, embora o suicídio seja uma escolha, não é uma escolha livre. Para o explicar, dá o exemplo do alzheimer, em que, “numa fase mais tardia da doença, não culpamos a pessoa por fazer coisas em que não a reconhecemos. Chegamos a um ponto em que percebemos que aquele cérebro deixou de funcionar da maneira como funcionava”. “Nos casos de depressão é exatamente igual”, defende, explicando que “a depressão tem alterações neurobiológicas, nas estruturas cerebrais, no seu funcionamento, tal como acontece na adição (toxicodependência)”.
Embora, “no suicídio, haja o mito de que a pessoa escolheu livremente porque estava a sofrer muito e, por isso, no pleno das suas faculdades, escolheu pôr termo à própria vida, essa não é a realidade”, pois “há estudos científicos que comprovam que um cérebro com depressão não funciona, não se ativa, da mesma maneira do que um cérebro saudável”, aponta. “Isto é fundamental para percebermos o suicídio, porque, se é um comportamento que advém duma doença mental, que por sua vez advém de alterações no cérebro, porque culpamos e achamos que é uma escolha?”, questiona, para responder, de seguida: “Não é uma escolha livre, no pleno das suas capacidades e é um comportamento que pode ser consequência desta alteração neurobiológica, quando não é tratada e quando chega a alterações muito profundas, sendo capaz de mudar toda a personalidade daquela pessoa.”
Por outro lado, Natacha Torres da Silva , psicóloga clínica e da saúde, e membro da coordenação nacional do programa Cuida-te +, lembra ainda que “a maior parte das pessoas que se suicida não quer necessariamente morrer. O seu objetivo não é morrer, mas sim fugir ao sofrimento, àquilo que está a sentir” – fenómeno também conhecido como parassuicídio.
Em relação aos 10 % de casos de suicídios que ocorrem em pessoas que não tinham uma doença do foro mental, Sofia explica que essa é a minoria que “a comunidade científica não consegue explicar”. “Aqui, é um saco sem fundo – temos os suicídios chamados hiper-racionais que advêm doutro tipo de cultura, por exemplo. No entanto, deixa a ressalva de que isto “não quer dizer que esses 10 % sejam relativos a pessoas saudáveis que escolhem livremente fazê-lo, quer dizer que, com os métodos que hoje utilizamos, não conseguimos [perceber o fenómeno nesses 10 %] e somos humildes para assumir que não temos uma explicação lógica.”
Natacha Torres da Silva
Seguindo esta linha de raciocínio, em Portugal, a tentativa de suicídio não é considerada um crime, “mas pune o incitamento ou ajuda ao suicídio”. “Nos termos do artigo 135.º do Código Penal, o tipo criminal em questão envolve a conduta de incitar outra pessoa a suicidar-se ou lhe prestar ajuda para esse fim. Se o suicídio vier efetivamente a ser tentado ou a consumar-se, a pena para o incitador pode ir até três anos de prisão. No entanto, se o incitado ou ajudada for menor de 16 anos ou tiver a sua capacidade de valoração ou de determinação sensivelmente diminuída, a pena agrava-se para até 5 anos de prisão”, lê-se no Diário da República eletrónico. Por outro lado, no artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 48/95, relativo à propaganda do suicídio, lemos: “Quem, por qualquer modo, fizer propaganda ou publicidade de produto, objeto ou método preconizado como meio para produzir a morte, de forma adequada a provocar suicídio, é punido com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias.”
Embora Portugal não criminalize a tentativa de suicídio, de acordo com o relatório da United for Global Mental Health (UGMH), “Decriminalising Suicide: saving lives, reducing stigma”, relativo a 2021, existem ainda, pelo menos, 20 países que a condenam como um crime, nenhum dos quais europeu: Bahamas, Bangladesh, Brunei Darussalam, Ghana, Guyana, Kenya, Malawi, Malaysia, Myanmar, Nigeraia, Pakistan, Papua New Guinea, Qatar, Saint Lucia, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tonga e Uganda. O mesmo relatório aponta que, fora estes, existem outros 20 países que punem o suicídio ao abrigo da Sharia (sistema jurídico do Islã). A este propósito, Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, defende que “criminalizar um comportamento que resulta de um sofrimento emocional intenso não traz benefícios para ninguém”, salientando ainda o perigo de promover a escolha de métodos com um maior grau de letalidade de forma a garantir o fim da vida para não sofrer nenhuma sanção por uma tentativa, posteriormente. Também Sarah Kline, dirigente da UGMH, esclarece que “a criminalização do suicídio é contraprodutiva: não impede as pessoas de tirarem as suas vidas. Ao invés, aumenta o estigma, faz com que as pessoas não procurem ajuda quando estão num momento de crise grave e desencoraja as comunidades de oferecer apoio à saúde mental que poderia salvar vidas”.
Quando falamos de suicídio e na forma como a sociedade o entende, é relevante salientar os estigmas associados ao mesmo e às doenças de foro mental. “Em algumas culturas, o suicídio é visto como vergonhoso, um pecado, sinal de fraqueza, ato egoísta, forma de manipulação ou até como um ato de honra”, avança o manual Prevenção do Suicídio, porém, “estes estereótipos e preconceitos negativos, difundidos na sociedade, promovem o silêncio e dificultam o pedido de ajuda por parte de quem precisa”. Renata Benavente continua “a avaliar o suicídio como sendo um assunto tabu”, no entanto, admite que, sendo psicóloga desde 1997, tem observado “uma evolução exponencial na forma como as pessoas encaram os problemas de saúde psicológica”.
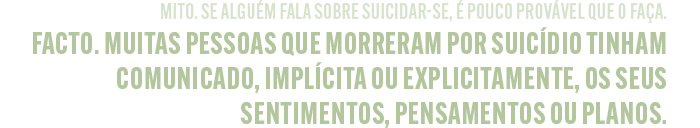
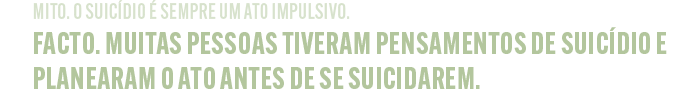
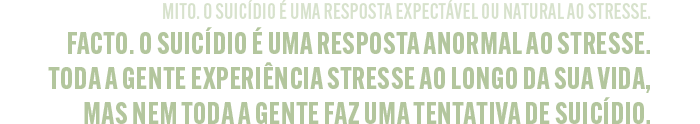
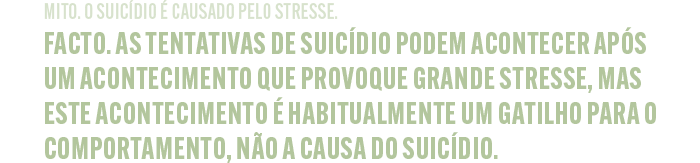
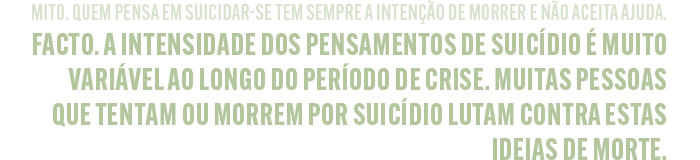
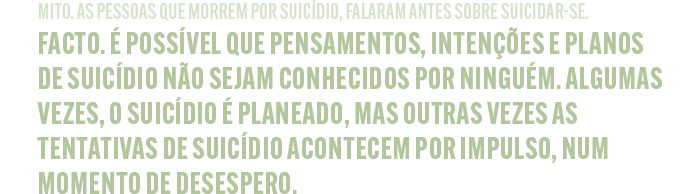

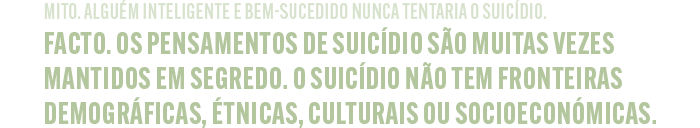
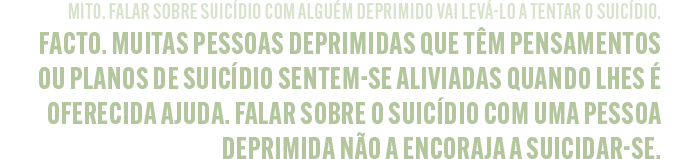
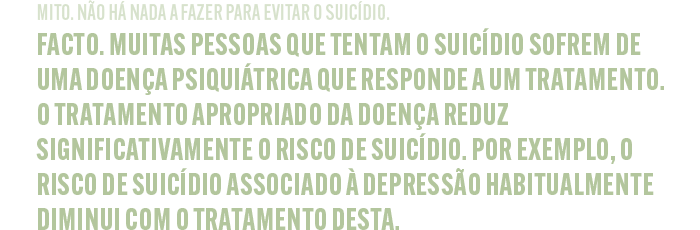
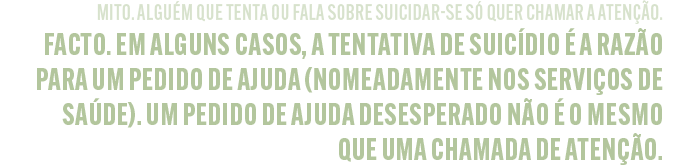
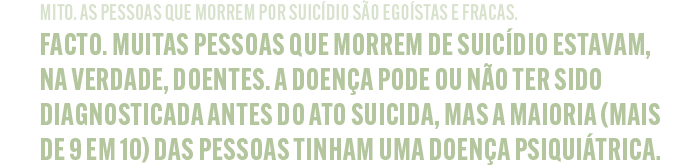
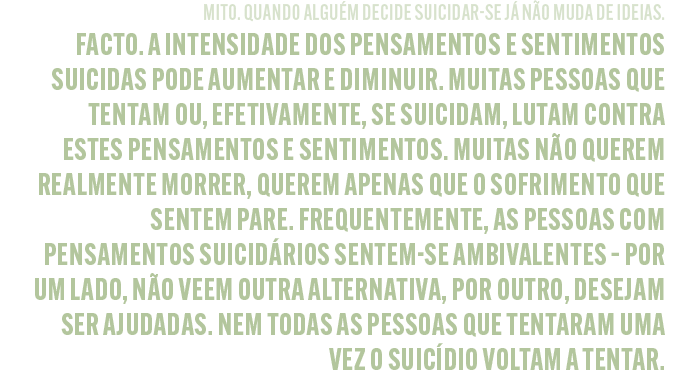
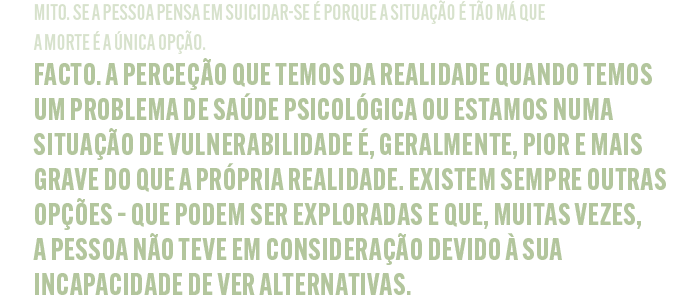
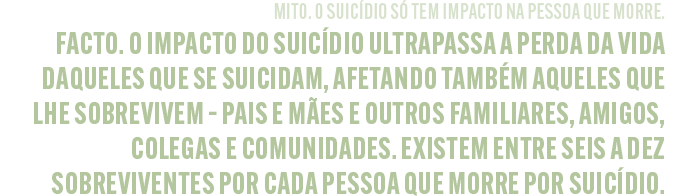
Existem vários fatores que são considerados como protetores para o suicídio, no sentido em que podem reduzir o risco de este acontecer, tais como o acesso a serviços de saúde, o apoio de familiares, amigos, colegas de trabalho e outras pessoas significativas, a capacidade de resolver problemas e adaptar-se à mudança, ou a autoestima e planos para o futuro e satisfação com a vida. Outro fator apontado como protetor é as crenças religiosas, culturais ou morais que desencorajam o suicídio. No caso das crenças religiosas, se existem relatos de desencorajamento no que diz respeito à efetivação deste comportamento, também há relatos de pessoas que não deixam de ter ideações e sentem receio de pedir ajuda, ou até casos em que, após um suicídio, se sente o estigma promovido por essas mesmas crenças, podendo levar a sentimentos de vergonha ou culpa que, em algumas famílias, encoraja o encobrimento destas vivências.
Sendo Portugal o país da Europa ocidental em que existe uma maior percentagem da população que se identifica como cristã (83 %), segundo o estudo “Ser cristão na Europa Ocidental”, do Pew Research Center, que envolveu mais de 24 mil entrevistas telefónicas em 15 países da Europa ocidental, entre abril e agosto de 2017, a religião continua ser um fator importante a considerar no entendimento social do suicídio, em Portugal. Ademais, embora Portugal seja um estado laico, nota-se ainda uma proeminência do pensamento associado à religião católica, por exemplo através da celebração nacional de feriados religiosos, nomeadamente o domingo, ou até a ideia, por vezes, generalizada de que esta é a religião oficial do país, como explanado na reportagem “ Estado laico, mas pouco” (2005), no Diário de Notícias.
De acordo com o artigo “O suicídio é pecado?”, publicado pela Sociedade Portuguesa de Suicidologia, “para o Direito Canónico e para o Novo Catecismo [o suicídio] é pecado”, pois os mesmos consideram que “somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou; não podemos dispor dela” (parágrafo 2280 do Catecismo da Igreja Católica).
Fazendo uma breve resenha histórica podemos perceber como a religião católica tem evoluído em relação ao entendimento deste comportamento. Em 452, o Concílio de Arles considerava o “suicídio como o maior dos pecados”; em 533, o Concílio de Orleães instituiu a “proibição de funeral religioso para os suicidas”; em 561, o Concílio de Braga promulgava a “ausência de ritos funerários se o suicida [estivesse] na posse de si mesmo”; em 693, no Concílio de Todelo, defendeu-se a “excomunhão de suicida frustrado”; em 1284, o Sínodo de Nimes recorreu ao “reforço das restrições nos funerais de suicidas”; e, por fim, em 1918, o papa Bento XV permitiu os “ritos funerários se suicidas loucos ou arrependidos à hora da morte”.
Assim, percebemos que, até ao século XX, não se celebravam as exéquias (cerimónias religiosas fúnebres) para o cristão que morria por suicídio. O que alterou este paradigma foi a consciencialização, acompanhada pela evolução do conhecimento científico da psicologia, de que o suicídio é um comportamento mais complexo do que se entendia e que este pode não ser um ato com base numa escolha livre. Nesse sentido, o catecismo da Igreja Católica continua a defender que “o suicídio é contrário ao amor do Deus vivo” (parágrafo 2281), mas já contempla que “perturbações psíquicas graves, a angústia ou o temor grave duma provação, dum sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida”(parágrafo 2282). Aponta ainda, no parágrafo 2283, que “não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida”.
No entanto, este princípio continua a não ser aplicado em todos os casos em que é solicitado pelas famílias, sendo ainda possível um padre rejeitar-se a celebrar a cerimónia religiosa fúnebre de uma pessoa que tenha morrido por suicídio. A título ilustrativo, Sofia Nunes, que perdeu o seu pai para o suicídio em 2018, conta-nos que “o padre da sua aldeia se recusou a fazer a missa”. “Não sou crente, mas a minha mãe é, e estas coisas acontecerem nas aldeias, havendo este estigma que é colocado pela Igreja Católica, acaba por aumentar o sofrimento psicológico, sendo quase uma humilhação social desta família perante a sua comunidade”, relata. “Portanto, não foi uma escolha minha, foi mesmo o padre que se recusou naquela altura, o que me chocou imenso e que, infelizmente, ainda acontece, ainda que não maioritariamente. Oficialmente, a Igreja Católica já permite dar missas, mas foi algo que aumentou o estigma da comunidade e da própria pessoa perante si mesma e de toda a situação”, remata.
Romeu e Julieta, peça escrita por William Shakespeare em 1594/1595, é um exemplo de tragédia romântica, muitas vezes caracterizada por falar de um amor arrebatador, que se tornou, ao longo dos séculos, numa ideia de amor ideal a alcançar. A tragédia que gira em torno de dois jovens amantes que lutam para viver o seu amor, apesar da rivalidade das suas famílias, termina com a morte dos mesmos. Mas quantas vezes, ao lermos/ouvirmos/vermos esta história, reconhecemos que a mesma termina com um suicídio duplo? De facto, estes jovens não morrem por amor, morrem para o suicídio, e a narrativa romantizada de que, sem a pessoa amada, não vale a pena viver, merece ser revisitada.
Natacha Torres da Silva considera que entender o “suicídio enquanto uma solução nobre” é algo “que faz parte da nossa sociedade”, ou seja, nota a existência da romantização deste comportamento quando se o interpreta como “uma solução bonita para resolver um problema grave, uma resposta nobre para resolver um dilema pessoal”. A psicóloga reconhece que esta romantização “tem muito que ver com a maneira como a sociedade – nos média, filmes e redes sociais – conta as histórias ligadas a estes episódios”, pois “ser exposto ao suicídio, quer seja real, quer através de uma notícia, aumenta a probabilidade de haver comportamentos de imitação, sobretudo se forem divulgados com pormenores, e ainda mais se se tratar de suicídios de figuras públicas”.
De facto, o efeito Werther, ou seja, o fenómeno que nos alerta para o risco “de aumento da mortalidade por suicídio” devido à “mimetização das circunstâncias de um suicídio descritas pelos meios de comunicação social por parte de quem acede à notícia”, torna-se ainda mais evidente quando se fala na morte por suicídio de figuras públicas.
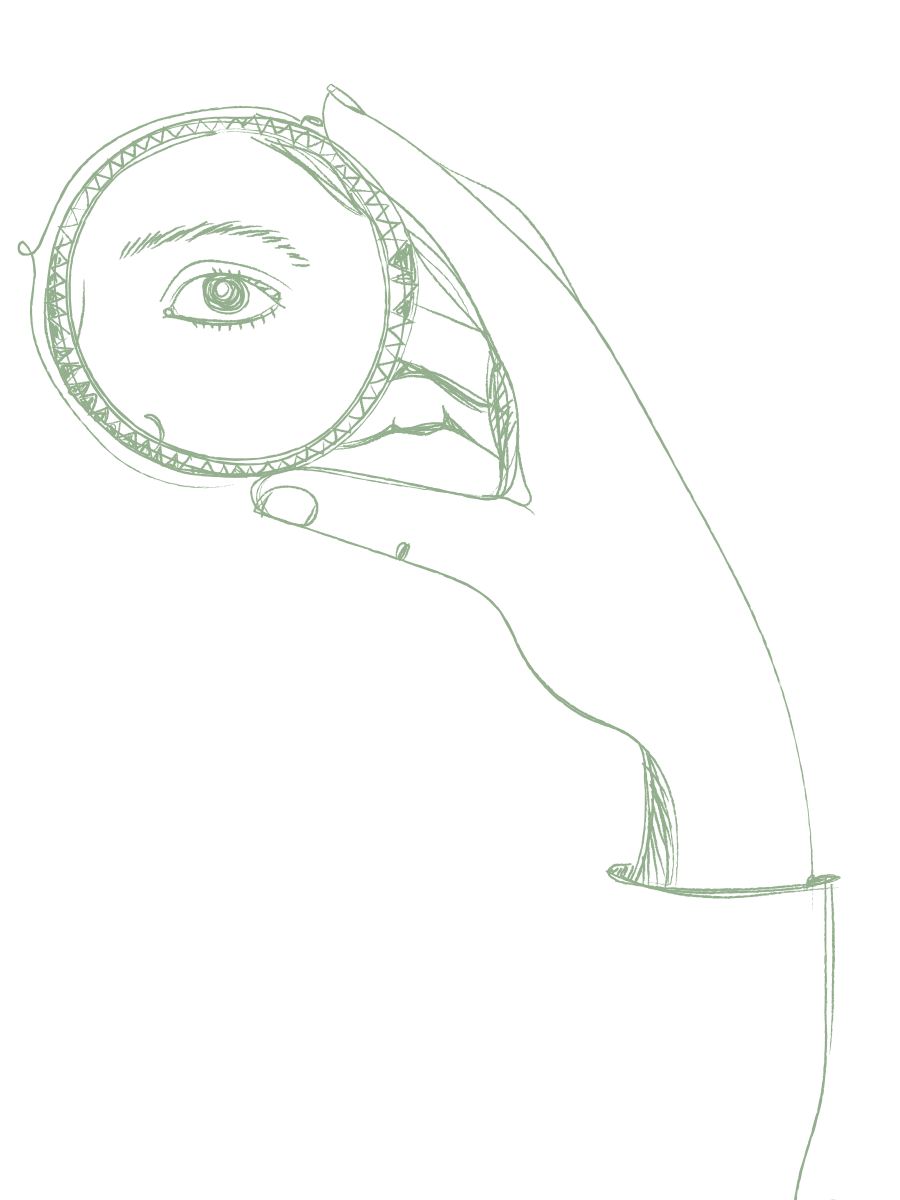
Um exemplo destacado em Prevenção do Suicídio – Manual para Jornalistas é o da morte de Kurt Cobain, em 1993, uma vez que a sua morte foi relatada “intensiva e detalhadamente nos média […] com vívidas descrições do método e a reprodução da carta de suicídio”. Uma vez que “os meios de comunicação social são muito mais do que um canal estéril que transmite informação” – “eles redefinem as histórias, filtram, estruturam, enquadram, destacam ou subtraem perspetivas e, assim, modelam o relato da circunstância e do comportamento que chega ao público em geral”, e que têm “um poder de influência […] muito mais abrangente do que a comunicação direta e interpessoal”, estes tornam-se no “meio mais potente para um comportamento suicidário se tornar reconhecido na comunidade e se transformar em modelo, quer pelo número de abrangidos, quer pelo teor do discurso”. Assim, o mesmo manual explica que “embora não se possa dizer que haja uma intervenção direta no comportamento explícito do indivíduo, existe uma tendência para influenciar o que é para este o comportamento suicida e o seu significado social”, sendo “a possibilidade de contágio maior quanto mais específica e gráfica for a descrição dos métodos de suicídio e quanto mais pormenorizada e sensacionalista for a narrativa”.
A título ilustrativo, em Portugal, a morte de Pedro Lima, em 2020, foi também um acontecimento amplamente noticiado. “Rapidamente foi tornado público que o ator morreu por suicídio, acabando o caso por figurar nas capas de vários jornais nacionais. As notícias faziam referência à causa e local de morte, ao método utilizado, assim como a informações pessoais sobre o ator e a família, tudo isto em conflito com as guidelines internacionais e deste manual de como reportar um suicídio”, lemos em Prevenção do Suicídio – Manual para Jornalistas.
Assim, a mesma fonte denuncia que “as narrativas de suicídio nos meios de comunicação social são muitas vezes omissas quanto aos fatores de risco ou causas mais comummente associadas ao suicídio”. “As doenças mentais são geralmente alvo de uma flagrante omissão, pelo preconceito social que contamina os média. Ao serem tantas vezes subvalorizadas pelos meios de comunicação social, é travado um caminho possível para a autoidentificação com um diagnóstico – este sim, passível de tratamento nos doentes em risco – e, consequentemente, para uma solução que não passe pela morte”, alerta.
Esta tese é suportada por um conceito desenvolvido em oposição ao Efeito de Werther. “Em 2010, um grupo de investigadores austríacos propuseram o Efeito Papageno, cujo nome deriva da personagem da Flauta Mágica, de Mozart, que encontra uma alternativa ao suicídio através do aconselhamento de outras personagens da obra”, concluindo que “duas estratégias contribuem significativamente para a prevenção do suicídio: a publicação de artigos sobre indivíduos que, em situação de crise, adotaram estratégias alternativas ao comportamento suicidário e a disponibilização de informação sobre a ajuda disponível. Estes investigadores austríacos acrescentaram que o enfoque nas ideias de suicídio (e não nos comportamentos) são o conteúdo que mais contribui para a diminuição das taxas de suicídio”.
Por outro lado, João Adolfo, psicólogo em Odemira, diz acreditar que vários programas presentes nos média não contribuem para a saúde mental da população, embora permaneçam nas grelhas “porque trazem muitas audiências”. “Há muitas coisas que passam em horário nobre, e que têm muitas audiências, que levam a que as pessoas tenham cada vez menos saúde mental e fiquem cada vez mais robotizadas e mais distantes dos seus próprios sentimentos, daquilo que estão a sentir realmente, de o que se está a passar na vida delas”, aponta. Contrariamente ao que vemos nos média nestes horários, João acredita que “promovermos uma maior conexão emocional da pessoa consigo própria seja algo que faz com que as pessoas tenham mais saúde mental, necessariamente”.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 800 000 suicídios por ano, no mundo, o que equivale a uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Porém, o número de tentativas de suicídio poderá ser até 30 vezes superior a este número. A mesma entidade explica que, “todos os anos, morrem mais pessoas por suicídio do que por HIV, malária, cancro da mama, ou na guerra e por homicídio”.
Em Portugal, estima-se que, por dia, em média, três pessoas morrem por suicídio, número presente no documento “Vamos falar sobre suicídio?”, desenvolvido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses
Ana Matos Pires frisa que o suicídio é, de facto, um problema de saúde pública, desde logo “porque, sendo um comportamento humano, rigorosamente todos nós estamos em risco, em última análise”. Ademais, como aponta Natacha Torres da Silva, “a investigação demostra que as pessoas que têm vontade de se suicidar em determinado momento da vida, ou vários momentos da vida, podem, hoje, ser pessoas realizadas e podem estar satisfeitas com a vida. É uma coisa transitória, não é algo que dure para sempre”.




Sabendo que o suicídio é multideterminado e que não existe uma só causa para o mesmo, podemos, no entanto, identificar grupos de pessoas que estão mais suscetíveis ao suicídio: adolescentes; pessoas mais velhas; sobreviventes (ou seja, amigos e familiares de pessoas que tenham morrido por suicídio); pessoas com doenças crónicas; pessoas trabalhadoras do sexo; a população prisional, em situação de sem-abrigo; membros das comunidades LGBTQIA+; pessoas com deficiência intelectual; pessoas com perturbações psiquiátricas graves; os profissionais das forças de segurança; profissionais de saúde; agricultores; e ainda pessoas que sofreram traumas, que podem vir a desenvolver uma doença mental.
Renata Benavente explica que “fenómenos de exclusão social são fatores de risco para a depressão”. Por outro lado, no que diz respeito à inclusão de determinadas profissões como grupos de risco, a psicóloga esclarece que “a atividade profissional e o contexto de trabalho pode ser um fator sério de desgaste, burnout, depressão, entrando como fator de risco”. “Há profissões que são mais exigentes do ponto de vista emocional, em que a sobrecarga de trabalho é muito intensa, o nível de responsabilidade e de compromisso são muito grandes também, sendo fatores de risco para o suicídio”, acrescenta, salientando que “quando falamos de grupos profissionais tendo este conhecimento, pensamos numa lógica de prevenção, alertando estes próprios profissionais e as organizações que os integram para estes riscos de forma a arranjarmos mecanismos protetores”.
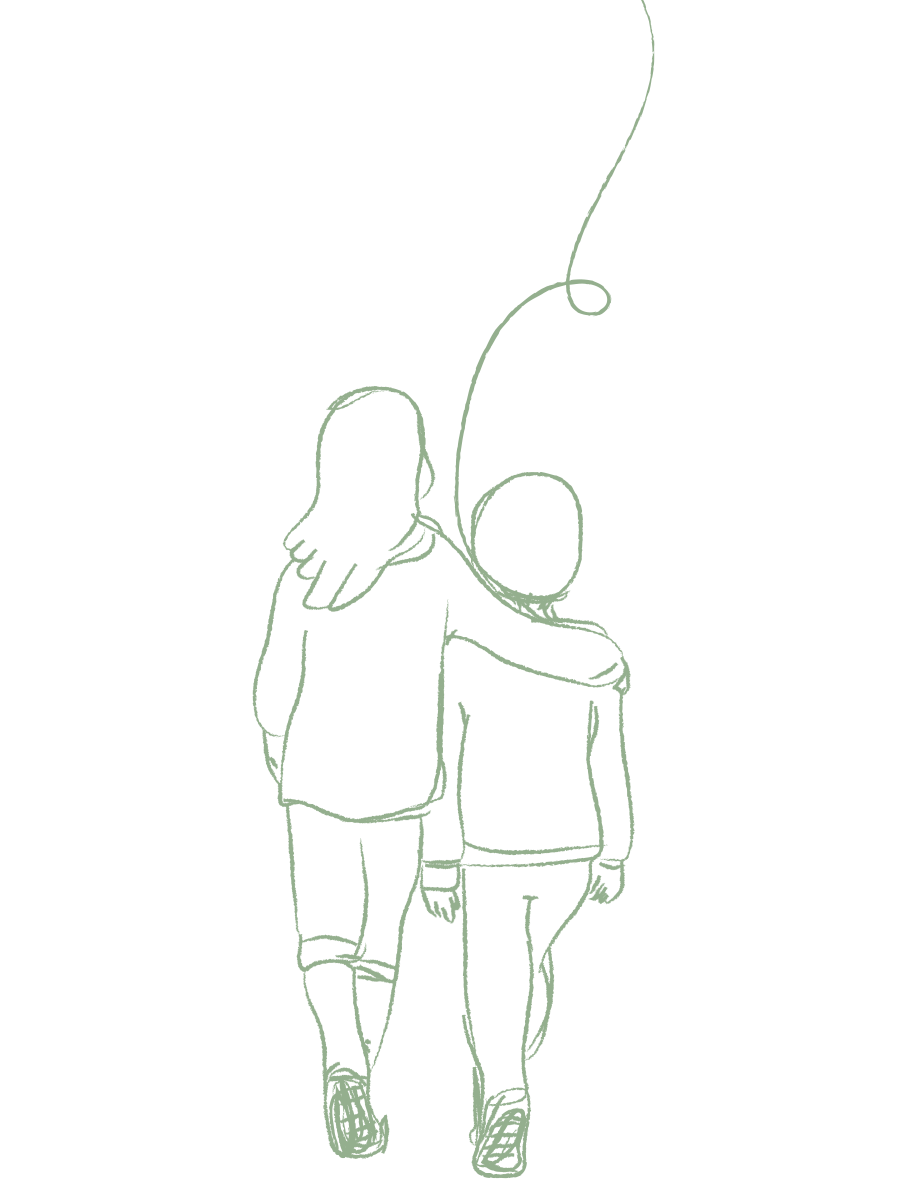
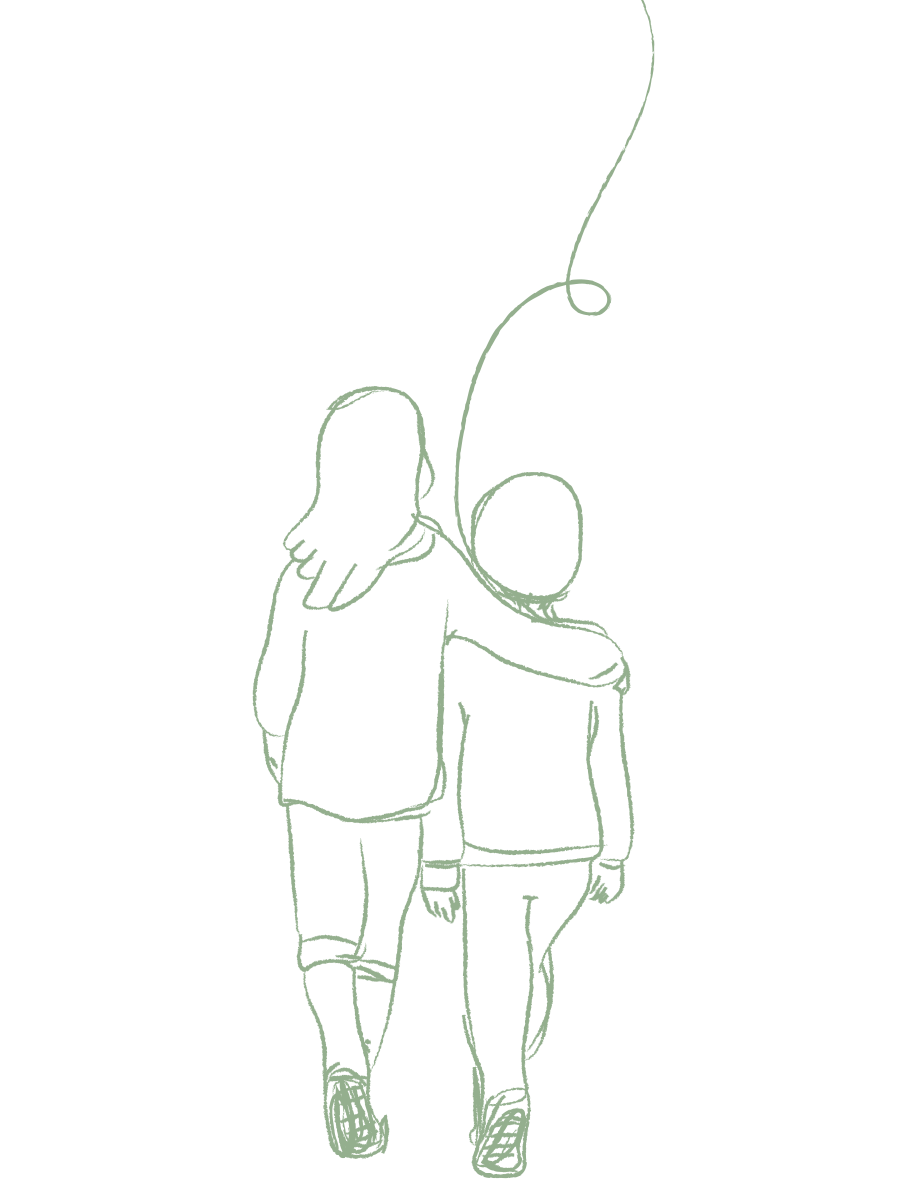
Atualmente, Ana Matos Pires partilha que o grupo de risco mais significativo, em Portugal, “são os homens idosos residentes em zonas rurais do interior do país” e que, embora “o Alentejo tenha tipicamente uma taxa de suicídio duas a três vezes superior ao resto do país”, nos últimos meses os “números estão a crescer para o norte e do litoral para o interior”.
No entanto, Natacha Torres da Silva alerta que mais do que falar de algumas profissões, zonas geográficas ou questões de género, por exemplo, será importante elencar “estilos de vida”, pois “se formos apressados a tipificar em grandes categorias de risco, podemos estar a contribuir para o preconceito”. “Tem esta dupla vertente: ao tipificar podemos estar a dar informação e prevenir, mas também podemos estar a estigmatizar, e nem sempre é fácil ver a diferença.”
Sara Malcato, psicóloga e coordenadora do Serviço de Apoio Psicológico (SAP) da ILGA [Associação ILGA Portugal – Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo], frisa que, no caso das pessoas LGBTQIA+, estas são consideradas um grupo de risco pelo estigma e discriminação a que são sujeitas na sociedade. “Não é pelo facto de a pessoa ser lésbica, gay ou bissexual que tem mais questões de saúde mental. É a homofobia social que faz com que ela tenha questões de saúde mental. É a discriminação”, garante. Nesse sentido, a divulgação nos média da morte por suicídio de uma pessoa LGBTQIA+ deverá ser cuidada pelo risco de promover uma “desesperança coletiva de que ser-se LGBTQIA+ termina em desgraça”. Assim, mais do que noticiar a sua morte, Sara considera que os média “têm um papel anterior que é a questão da representatividade digna das pessoas LGBTQIA+ quando estão vivas”.
Pensando na discriminação que muitas destas pessoas sofrem, a ILGA disponibiliza um serviço de apoio psicológico, que providencia consultas de psicologia e de psiquiatria que podem ser gratuitas para as pessoas que não consigam suportar essa despesa.
“O suicídio de alguém afeta uma rede de pessoas que incluem pais, irmãos, amigos, conhecidos, vizinhos, colegas da pessoa que morreu e profissionais de saúde. Cada suicídio pode deixar entre 6 a 10 pessoas sobreviventes.”
Ordem dos Psicólogos Portugueses (2022). Prevenir o Suicídio – O Papel dos Psicólogos e Psicólogas
João Francisco Lima, que perdeu o pai para o suicídio em 2020, recorreu a apoio psicológico, assim como a sua família, através do sistema privado. Relativamente à perceção que teve do que estava por detrás da perda do seu pai, que tinha uma depressão diagnosticada, relata que “nunca foi difícil compreender que uma consequência última de perturbações mentais que não são tratadas ou atacadas de forma eficaz pode ser o suicídio”. No entanto, não tendo, à data, os conhecimentos sobre saúde mental que tem hoje, a morte do seu pai por suicídio não deixou de ser uma surpresa. [Uma morte por suicídio] “é tão surpreendente quanto quão pouco educados somos sobre o assunto. Se soubéssemos, de facto, o que são as perturbações mentais, o que elas implicam e quais podem ser as consequências da falta de ação sobre as mesmas, ninguém se surpreendia, porque os sinais estão lá. Acho que as pessoas se surpreendem porque não sabem melhor”, acredita.
Conta-nos ainda que, três a quatro meses após a sua perda, começou a sentir vontade de “ser uma voz ativa na temática da saúde mental”. Por se ver “com uma capacidade de reflexão, interpretação e de lidar com a situação, no geral, diferente da maioria das pessoas” que o rodeavam, pois conseguia “desconstruir e falar sobre este acontecimento com alguma facilidade”, considerou que podia “tentar ajudar pessoas em situações similares”. Ao começar a usar a sua página de Instagram para partilhar as suas ideias e perspetiva pessoal acerca da sua realidade, avança que tinha o objetivo de ajudar, pelo menos, uma pessoa e confidencia que não só já conseguiu alcançar esse objetivo como superá-lo.
Sendo também preciso cuidar de quem fica, João Francisco acredita que a melhor forma de ajudar uma pessoa sobrevivente é “estar presente”. “A maior parte das pessoas só precisa de colo, de alguém que se importe genuinamente. Acho que é a melhor forma de te preocupares sem rotulares as pessoas. Estar presente sem estar em cima, ou seja, a pessoa tem de sentir que, se quiser, és uma pessoa que está ali a ouvir. [Devemos] mostrar a possibilidade ou abertura para prestar auxílio, não procurar auxiliar” sem que esse pedido nos tenha chegado, explica.
Já Ricardo Belo de Morais, para além de ter sobrevivido a três tentativas de suicídio próprias, sobreviveu também à morte de várias pessoas para o suicídio, das quais destaca a perda da sua melhor amiga, Sofia, que descreve como sendo a sua alma-gémea, há cerca de 20 anos. “Passei anos com raiva dela, mas muito séria – como é que teve a lata e coragem de nos fazer isto?”, questiona. “A minha tentativa de sublimação passou também por isto – a raiva, o ódio, a ponto do nojo. [Pensei que] ela não tinha tido sequer um pensamento para com as pessoas que ficaram cá e que sofreram horrores, como eu. Sofremos por acharmos que ela tinha de ter tido mais força. Hoje, sabemos que não é assim.” Porém, este episódio serviu para o investigador perceber que não queria “ser responsável por infligir esta dor, martírio e estigma à sua família nuclear e alargada e aos seus amigos mais próximos”. “Havia, em mim, um sentimento de revolta e um travão por perceber que quem cá fica e gosta de nós fica marcado para sempre.”
Do seu luto pela perda da Sofia para o suicídio, Ricardo recorda-se de um “torturar diário de pensar no que podia ter feito”. “Fiquei mais de 10 anos torturado com isto, com as imagens. Depois, esta ideia de que – será que fiz tudo o que podia? Será que não estive com ela o [tempo] que devia? Falhei? Terei sido eu? Haverá uma quota parte de responsabilidade minha? O que havia de errado no núcleo dela para que não lhe tivéssemos feito as perguntas certas? Para que ela não desabafasse connosco sobre as coisas estarem mais complicadas? Vi-me confrontado com estes receios”, conta. Hoje, Ricardo consegue entender o comportamento da sua amiga com outros olhos. Diz tê-la desculpado, “mas nunca fui capaz de a perdoar”.
André ViaMonte, musicoterapeuta e músico, diz-nos que, enquanto sobrevivente, sente que essa experiência o mudou “enquanto pessoa e artista” e que estes acontecimentos nos “englobam em rede”, afinal “vivemos todos em sociedade e o impacto é mais do que evidente”. Para o suicídio, perdeu a avó, que não chegou a conhecer, o tio e o avô paterno e sente que “como artista e compositor consegue ver a dor que eles tiveram”. “Obviamente, são pessoas que sofreram horrores e que se sentiam num beco sem saída para tirarem a sua própria viva”, entende. Ser sobrevivente muda a “consciencialização sobre saúde mental, ou seja, tanto a minha mãe como o meu pai começaram a vê-la com outro tipo de perspetiva”. “É necessária a sensibilização para esse assunto, fazer checkups, perceber se as pessoas dormiram bem ou se sentem algum cansaço”, destaca.
Enquanto crescia, lembra-se de ser apontado como o sobrinho daquela pessoa que se suicidou, «quando há outras formas de relembrar a pessoa, por quem ela era». «Sou sobrinho daquele senhor que era incrivelmente inteligente, que era resiliente em tudo», recorda. Hoje é músico e nota a existência de reminiscências das suas aprendizagens enquanto sobrevivente nas suas composições e não esquece ainda o seu trabalho como musicoterapeuta em que continuamente descobre, na arte, uma forma de sarar feridas.
Sofia Santos Nunes, psicóloga clínica que trabalhava com pessoas com ideações suicidas, em 2018, perdeu o seu pai para o suicídio, “que tinha uma depressão bastante grave”. “Foi aí que vi o outro lado da moeda, em que, de repente, perdemos a batalha e o que fazemos?”, questionou-se. Nessa altura, e tendo perdido a sua avó há um ano por um AVC, deparou-se com algumas diferenças na forma como a comunidade à sua volta endereçava ambas as perdas. “Notei que, quando perdi a minha avó, por causas naturais, ninguém se centrava no AVC, mas sim na vida dela antes de tudo isto. No ano seguinte, quando perdi o meu pai, ninguém falava sobre ele, porque não sabiam como reagir. E, se falavam, faziam-no com esta perspetiva de pena. Vivi muito estigma, e ninguém me contactou”, conta.
Para reestruturar a sua identidade depois desta perda, um processo comum nos sobreviventes, Sofia teve “acompanhamento psicoterapêutico” que diz tê-la “ajudado imenso” e fez algumas “viagens mais espirituais”. Foi no seu regresso que decidiu criar a associação Sobre Viver Depois do Suicídio, inspirada na sua própria vivência: “os momentos em que me sentia mais leve era quando partilhava, não só o que tinha acontecido, mas também a vida do meu pai antes de tudo isto”, assevera. Para si, foi importante perceber que era “possível voltar a viver”. “Fica uma cicatriz muito grande que vai estar sempre presente, mas, felizmente, não fica sempre uma angústia. [Percebi] que o meu pai vive em mim e que não há mais obstáculos entre mim e o amor que sinto por ele, porque já não há essa angústia que me bloqueava, paralisava, asfixiava. O que me motivou foi passar por experiências em que recebi muito amor, estar na natureza e sentir-me conectada. [Não quis] que este acontecimento me definisse”, partilha.
Assim, a associação, que começou a ganhar forma em 2020, “nasceu, para o público, no verão de 2021 e tem sido uma viagem muito gratificante”. Hoje, a associação trabalha a partir de três linhas principais: apoio direto, formação e investigação. Em termos de apoio direto, tentam arranjar o tipo de apoio solicitado por qualquer sobrevivente que entre em contacto com a associação. Existem círculos de palavra, que são “grupos de partilha informais guiados por um psicólogo e um sobrevivente com algum tipo de formação adicional”, e apoio “de um para um” para quem não se sinta confortável em estar inserido num pequeno grupo, casos em que a pessoa sobrevivente é posta “em contacto com alguém que tenha passado pelo mesmo e que dê um apoio mais informal, normalmente dado por um voluntário”. Carlos Geada, cuja história ficamos a conhecer nesta reportagem, é um dos voluntários da Associação. Na área da formação, através de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, procuram dar bolsas para formação específica nesta área para profissionais de saúde. Por fim, desenvolvem trabalhos “em parceria com a Universidade de Évora, em que tentamos organizar eventos que promovam o networking a propósito da investigação, e o contacto entre os sobreviventes e as universidades”. Transversalmente a todo este trabalho, criam “campanhas de sensibilização para a comunidade em geral”.
Sofia Santos Nunes conta-nos que, de acordo com a realidade da associação Sobre Viver Depois do Suicídio, nota que “o estigma causa este aumento de risco”. “Estando numa sociedade que não entende o suicídio como uma consequência duma doença do foro mental ou como algo que aconteceu à pessoa e não algo que a pessoa escolheu fazer [livremente], [a pessoa sobrevivente] acaba por não saber como reagir. Ou seja, não fala sobre a pessoa [que perdeu], porque, por vezes, há certos comentários na comunidade. Então, esta pessoa sobrevivente que está no meio da comunidade acaba por se desconectar, por cair em isolamento social, por não querer falar com as pessoas porque elas não a entendem e sente-se muito vítima deste estigma”, explica. Por isso, “pode desenvolver um luto patológico que dê origem a uma depressão, ansiedade ou stress pós-traumático – porque, muitas das vezes, são estes sobreviventes que encontram a pessoa [que se suicidou]”, esclarece.
Neste sentido, Sofia aconselha que se abra “um espaço para falar das pessoas antes deste fim”. “Normalmente, as pessoas que morrem para o suicídio são muito catalogadas pelo seu fim, mesmo na conversa com os sobreviventes, e esquece-se de que a pessoa teve um percurso de vida e que vale a pena recordar os bons momentos. Portanto, é fundamental abrir a conversa com o sobrevivente para a história do seu ente querido antes deste final propriamente dito. Depois, ao falar, é tentar entender e abrir espaço para as emoções e normalizar qualquer tipo de emoção, seja ela raiva, alívio, tristeza, alegria. Não julgar”, aconselha.
A presidente atesta que, embora as fases de luto sejam praticamente as mesmas do que as que são provocadas por outras causas de morte, num luto por suicídio “a diferença é a intensidade com que se vive cada uma das fases”. “O luto por suicídio é muito marcado pela culpa e vergonha social, assim como o isolamento social por sentirem que não os percebem, devido ao estigma muito grande que acaba por ser muito pesado para estas pessoas. Daí haver o risco deste luto se tornar patológico quando comparado com outros tipos de luto.”
Por isso, fala-se em posvenção, sendo “uma parte da prevenção, mas ocorre após uma morte por suicídio, trabalhando o luto, a reestruturação da identidade”, explica Sofia. Nesta área, e pensando nas campanhas de prevenção do suicídio que se têm feito, a presidente revela que “uma coisa importantíssima e que ainda não se faz é chamar sobreviventes para as [campanhas de prevenção]. Não é usual chamar sobreviventes para a definição destas campanhas”. Sofia explica que o contributo destas pessoas seria uma mais-valia para se saber “como ressoa aquela mensagem, porque se se chegar ao pé dum sobrevivente e se disser que o suicídio é evitável, mesmo que o possa ser em muitos dos casos, faz com que seja uma mensagem simplista também. E faz com que até possa aumentar o sentimento de culpa daquela pessoa, porque se é tão fácil evitar e basta ligar o 112 e já está… é preciso ter cuidado com as palavras”, explica. “Temos de ser humildes a passar esta mensagem e, mais do que dizer que é possível evitá-lo, é preciso dizer que é complicado. Que se a pessoa pedir ajuda, a probabilidade de ela morrer para o suicídio decresce muitíssimo, mas também é importante lembrar a percentagem dos casos em que é mesmo complicado. Há casos de pessoas que eram acompanhadas ao nível da psiquiatria, da psicologia, e nós simplesmente não conseguimos explicar como aquilo aconteceu. Às vezes, sair destas situações não é simples, mas é sempre necessário tentar”, assevera.
Da mesma forma, defende que seja criado um protocolo de posvenção em que os sobreviventes tenham acesso “nem que seja a um folheto que lhes permita saber que não são um caso único” e a que apoios podem recorrer se sentirem essa necessidade.
Lembrando ainda o procedimento da autópsia psicológica (ver capítulo IV, “Suicídio em números”), Sofia frisa que esta não só é “fundamental para percebermos os fatores psicológicos da pessoa que partiu”, como é “fundamental para reorganizar e reestruturar os sobreviventes”. “Portanto, é importantíssimo, quando estas situações acontecem, o SNS [Sistema Nacional de Saúde] mobilizar-se e oferecer todo o tipo de recursos, apoio e acompanhamento a estas pessoas”, defende, “e isto, infelizmente, não é feito”, denuncia. “Acho que a investigação é importantíssima e que se devia investigar de uma perspetiva multidisciplinar, muito mais, este tipo de casos – seja os sobreviventes, seja a pessoa que partiu. Em Portugal, há muito poucos estudos e centros de investigação sobre isto e acho que devia ser muito mais investido”, remata Sofia.


Renato Oliveira e Souza, chefe da unidade de saúde mental da Organização de Saúde Pan-Americana (PAHO), defende que o “suicídio é um problema de saúde pública urgente e a sua prevenção deve ser uma prioridade nacional”. Como tal, “precisamos de ações concretas por parte de todos os elementos da sociedade para pôr um fim a estas mortes, e para os governos criarem e investirem numa estratégia nacional compreensiva para melhorar a prevenção e cuidados nos casos de suicídio”, continua.
De facto, “o suicídio deve ser encarado como prevenível e, para isso, é necessário estar sensibilizado para este problema, reconhecendo atempadamente pessoas em risco e intervindo”, lemos em Prevenção do Suicídio – Manual para Jornalistas. Para além disso, a mesma fonte indica que “a prevenção do suicídio deve ser um esforço coletivo de todos os indivíduos da comunidade, envolvendo famílias, amigos, colegas de trabalho, professores, líderes religiosos, profissionais de saúde, e decisores políticos no sentido de se desenvolverem estratégias multidisciplinares eficazes”.
Sendo o suicídio um problema de saúde pública, pela “brutalidade do acontecimento, em que, depois da morte, não há mais nada a fazer, a identificação de fatores de risco e de todas as estratégias de prevenção é o único caminho que temos para o prevenir e isso é o que a saúde pública tem a obrigação de fazer”, esclarece Ana Matos Pires. A psiquiatra alerta ainda que “a prevenção do suicídio não é um papel só da saúde, que é a ponta do iceberg”. “Se melhorar as condições sociais, se tiver mais atenta e tiver literacia em saúde para perceber que uma pessoa perto de mim está com comportamentos estranhos e [ser capaz de a] abordar sobre [a possibilidade de estar com] pensamentos suicidas”, tudo isso contribui para a prevenção deste comportamento.
Nesse sentido, é importante conhecer alguns fatores que aumentam o risco de suicídio, tais como: ter pensamentos ou planos de suicídio ou ter tentado o suicídio anteriormente; ter acesso facilitado a meios para se magoar; ter doença mental; ter consumos ativos de álcool e/ou drogas; ter uma doença grave e limitante; ter familiares com doença mental ou que morreram por suicídio; conhecer alguém que se tenha suicidado recentemente (sobreviventes); não ter esperança no futuro; ser impulsivo; estar isolado, não ter uma rede de suporte sociofamiliar; sofrer uma perda marcante recente ou ser homem, ter mais de 45 anos e ser viúvo, divorciado ou solteiro (por ser este o tipo de contexto em que se verifica uma maior percentagem de suicídios).
Ana Matos Pires não deixa de apontar que o número de suicídios “nunca vai ser igual a zero”. “O que podemos ter é fatores de risco ou fatores protetores; fatores desencadeantes, mas nunca fatores causais. Não estamos a tratar da prevenção duma doença, estamos a tratar da prevenção dum comportamento e sabemos que a maioria desse comportamento tem na sua base uma doença mental grave, como quadros depressivos graves, perturbações esquizofrénicas, entre outros”. Por isso, Ana quer trabalhar no sentido de “prevenir o comportamento suicida naquilo que é prevenível”. “Sei que se diagnosticar precocemente uma depressão, se a tratar como deve de ser, se o acesso aos serviços especializados de saúde mental (consultas psiquiátricas, psicológicas, apoios sociais) [for célere], se puser em massa os mecanismos protetores, consigo diminuir o risco deste comportamento”, afirma.
Ana Matos Pires explica-nos que até dezembro de 2021 “existia uma estrutura chamada Programa Nacional para a Saúde Mental”, do qual era assessora, “que era um programa prioritário da DGS [Direção-Geral da Saúde]” e que só tinha “poderes consultivos”. Porém, “com a saída do novo Decreto-Lei n.º 113/2021, de 14 de dezembro, a organização da saúde mental do país modificou-se”, deixando de existir este Plano Nacional para se criar a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. “Esta existe na dependência direta do Ministro da Saúde (ministério da saúde) e com poderes executivos, não só consultivos, cujo coordenador é o Miguel Xavier, como foi, desde 2019 e até ao seu fim, do Programa Nacional para a Saúde Mental”, esclarece.
A psiquiatra revela que “Portugal tem um plano de prevenção nacional do suicídio que deveria estar implementado até 2017, mas que esteve na gaveta, tal como o Plano Nacional para a Saúde Mental”. “Em 2019, quando Miguel Xavier passa a coordenador do então programa, vai rebuscar o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio e fomos tentar pôr em prática aquilo que ele determinava”. Desta forma, “foi determinado que, [para começar], íamos dar particular importância à prevenção em determinados grupos de risco, à formação de profissionais, à criação duma campanha nacional de prevenção do suicídio e isso era [o previsto para] a reativação do plano”. “Em 2019, criámos a campanha e, em 2020, veio a pandemia. Portanto, a aceleração do que tinha de ser feito não se deu com a cadência que nós queríamos, mas não ficou no papel. Exemplo disso é a campanha nacional da prevenção do suicídio que tem feito o assinalar do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, a 10 de setembro, que iniciou o mês de prevenção do suicídio, em setembro, e que tem feito formação aos profissionais [de saúde] e ao nível dos porteiros sociais”, aponta, não deixando de defender que ainda há muito por fazer.
Ana destaca ainda que uma das medidas conseguidas com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “foi a formalização de 40 equipas comunitárias de saúde mental desde o ano passado até ao final do PRR”. “Cada equipa tem um psiquiatra, um psicólogo, dois enfermeiros, um técnico superior de serviço social, um terapeuta ocupacional e um assistente técnico. Na infância e adolescência, a equipa conta adicionalmente com um pedopsiquiatra, um enfermeiro especialista, dois psicólogos. Estão 10 destas equipas no terreno, iniciadas no ano passado, e espera-se que no final de setembro/início de outubro mais 10 (5 de infância e 5 de adolescência) avancem, até ao total de 40 até ao final do PRR”, equipas estas formadas por novas contratações.
A estes números, Pedro Pires César, assessor de comunicação do gabinete da ministra da saúde, acrescenta, em declarações ao Gerador: “O Governo assume a continuidade das estratégias no âmbito dos cuidados prestados em saúde mental e, neste sentido, tem vindo a reforçar as equipas do SNS, através do reforço de psiquiatras, psiquiatras da infância e da adolescência, psicólogos, psicólogos clínicos e enfermeiros na especialidade da saúde mental e psiquiátrica. Tendo como referência o ano de 2018 em que se registava um total de 2976 profissionais especializados na área da saúde mental, em julho de 2022 este número ascendeu aos 3347, representando um acréscimo de 12,4 % dos recursos humanos qualificados nesta área. Salienta-se que os psicólogos representam a classe profissional que regista o maior crescimento (39 %), sendo que, em 2022, o SNS conta com 572 profissionais”.
Ana salienta ainda que, “quando acabar o PRR, o decreto-lei é muito claro – diz que esta cadência tem de continuar com dinheiros vindos do Orçamento de Estado”.
Ricardo Belo de Morais conta-nos que pediu apoio psicológico ao SNS, pela primeira vez, em 2015/2016. Não tendo obtido uma resposta célere, viu nos amigos e pessoas próximas “o psicólogo ou psiquiatra que não foi possível ter”. Após dois anos do seu pedido inicial, foi chamado para uma consulta de psiquiatria, em que foi informado de que apenas haveria vaga para terapia de grupo. “Estive muitos anos sem apoio médico do Estado e, quando finalmente me conseguiu dar algum apoio, foi no que havia e não me servia”, recorda. Só este ano, em 2022, conseguiu ter consultas de psicologia pelo SNS, através de referenciamento da sua médica de família. “Se pensarmos que estou há cerca de 10 anos sinalizado pelo SNS, que esperei dois anos para me ser dada a oportunidade de ir para uma terapia de grupo e que só agora, em 2022, é que, no meu centro de saúde, foi criada uma estrutura de atendimento psicológico de um para um… há qualquer coisa de muito dramático”, denuncia. Porém, Ricardo reconhece que, “em anos recentíssimos, as coisas vão mudando”, acreditando que o tempo de resposta do SNS para questões relacionadas com saúde mental seja menor.
Quando falamos em tempos de espera, referimo-nos ao tempo médio de resposta à primeira consulta hospitalar por especialidade e prioridade”, sendo que o tempo máximo de resposta garantido é de 30 dias para atendimentos muito prioritários, 60 dias para prioritários e 150 para normal. Embora a Ana Matos Pires afirme que há serviços com uma percentagem de resposta de 100 % em relação aos pedidos que são feitos”, admite que na área infantojuvenil existem problemas por haver “números mais baixos”. Assim, não tem dúvidas de que existe “deficiência de recursos humanos na saúde mental nacional” e de que “é preciso aumentar a acessibilidade” aos mesmos. No entanto, frisa que, “muitas vezes, os pedidos também não nos chegam. Porque, quando os pedidos nos chegam, as respostas são dadas, mesmo com tantas dificuldades de recursos humanos”.
De facto, consultando os tempos médios de resposta para primeiras consultas hospitalares com origem nos cuidados de saúde primários, entre maio e julho de 2022, é na psiquiatria da infância e da adolescência que verificamos tempos de espera em todos os serviços para atendimentos prioritários ou normais, destacando-se o Hospital José Joaquim Fernandes (Beja) com uma espera de 70 dias para prioritário e de 219 dias para normal (ultrapassando o tempo máximo de resposta garantido). No entanto, para todos os locais, o atendimento muito prioritário aparece como não aplicável, por não terem sido realizadas consultas neste período.
Já Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, diz que “não tem visto uma grande evolução” no acesso aos cuidados de saúde psicológica, “pelo menos não uma evolução que seja proporcional às necessidades da população”. “Temos, realmente, serviços que têm listas de espera de muito tempo e os cidadãos não estão a ter a resposta que deveriam no SNS, isso é claro. Trabalho num centro de saúde, nos cuidados de saúde primários, a fazer a consulta de avaliação inicial para perceber se as pessoas têm indicação para ficar em acompanhamento, e estou a marcar consultas para fevereiro de 2023 [note-se que esta entrevista foi feita no dia 13 de julho de 2022]”, aclara. Por outro lado, a psicóloga alerta para o “excesso de medicação” prescrita em Portugal, pois “não sendo possível dar um apoio, os médicos de família acabam por o fazer, quando, se calhar, o que as pessoas realmente precisavam era de um apoio ao nível da intervenção psicológica. Acabam por prescrever um ansiolítico, uma coisa para a pessoa ficar um pouco mais tranquila para baixar ali o nível de sintomatologia ansiosa sem tratar, de facto, daquilo que está na génese dessas dificuldades e dessas queixas”, denuncia.
Renata partilha ainda que existem 25 mil psicólogos em Portugal, “capacitados para trabalhar nestas áreas de intervenção mais clínica”, “o que não existe é abertura de concursos para integrarem os serviços” públicos. Por isso, considera que “são as pessoas mais vulneráveis [inclusive economicamente] as que são duplamente penalizadas, na sua circunstância de vida mais pragmática e, por outro lado, porque não têm acesso aos recursos de que necessitariam”.
Ana Matos Pires aponta que existe “uma urgência psiquiátrica em todos os hospitais gerais que têm serviço de psiquiatria e que temos, em Portugal, dois hospitais psiquiátricos, o Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) e o Hospital Magalhães de Lemos (Porto). O CHPL vai fazer urgência ao Hospital São José (Lisboa) todos os dias, e o Magalhães de Lemos vai fazer urgência ao Hospital São João (Porto)”.
Em 2004, foi criado o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC), por existir a “noção de que era necessário atender necessidades psicossociais, tanto da população, como dos profissionais [de saúde]”, explica-nos Margarida Mota, psicóloga do CAPIC. Atualmente, o centro é composto por 24 profissionais, distribuídos de norte a sul do país, e funciona em regime de 24 horas, sendo que o seu “papel dentro do INEM é dar resposta àquilo que são solicitações do terreno ou a nível da linha de emergência – 112 – a vários tipos de ocorrências, sejam elas comportamentos suicidários, crises de ansiedade, perdas de controlo emocional, situações de violência, como violência doméstica, situações de abuso, negligência, todo o tipo de situações em que as pessoas, no local, reportem essa necessidade”.
No que diz respeito ao acesso a cuidados preventivos de saúde psicológica para os jovens, o Cuida-te+ é um programa do IPDJ, nascido em 2008, que visa a promoção da saúde juvenil e dos estilos de vida saudável. Destina-se a jovens entre os 12 e 25 anos e o acompanhamento psicológico solicitado, que pode ser presencial ou remoto, é gratuito. O programa trabalha em quatro áreas de intervenção: a saúde sexual e reprodutiva, a saúde mental, os comportamentos aditivos e dependências e alimentação e atividade física e desportiva. “Nestas quatro áreas, o que fazemos é capacitar os jovens e dar-lhes competências ao nível do autocuidado” – afinal é preciso “passar a mensagem de que cuidar de si não é um luxo, não é um extra, é uma necessidade, uma coisa que faz parte da saúde, é como lavar os dentes” – e “competências socioemocionais para resolverem os seus problemas”, explica Natacha Torres da Silva, membro da coordenação nacional do programa.
Assim, o programa do IPDJ baseia-se num princípio fundamental: “a autodeterminação dos jovens e, em particular, em relação à sua própria saúde”. Para o concretizar, o programa permite que, “mesmo menores de idade, possam procurar e ter acesso a serviços de saúde sem necessidade de autorização dos pais, dos seus responsáveis legais”. De forma autónoma, os jovens podem recorrer aos gabinetes, telefonar para a linha de atendimento não presencial – por exemplo, o serviço da sexualidade em linha – e recorrer a uma ferramenta interativa no portal do IPDJ que permite colocar dúvidas e obter respostas.
Desde 2021, o Cuida-te+ conta com 19 psicólogos em ano profissional júnior, distribuídos pelas 18 capitais de distrito de Portugal Continental, sendo que dois se encontram em Lisboa. Natacha Torres da Silva revela que os distritos com listas de espera maiores são Lisboa, Braga e Porto, sendo que, no formato presencial de atendimento, o tempo de espera é superior. Em termos de faixas etárias que mais recorrem a este programa, a psicóloga aponta as idades compreendias entre os 17 e 25 anos. Para além de psicólogos do SNS e em ano profissional júnior, o programa conta com a contribuição de médicos de clínica geral, enfermeiros, nutricionistas e profissionais especializados em comportamentos aditivos como técnicos psicossociais, serviço social, entre outros.
Relativamente à incidência de comportamentos suicidários na zona do Alentejo, sendo também Diretora do Serviço de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, Ana Matos Silva defende que há um estudo por fazer em relação à “prevalência de depressão, ansiedade, patologia demencial no Alentejo relativamente a outros sítios”. Por outro lado, alerta que sendo o Alentejo “uma região de baixíssima densidade populacional, tem uma extensão brutal”, pelo que sabe o quão desafiante é apenas existirem três psiquiatras para todo o distrito de Portalegre. “São cento e poucas mil pessoas, mas a incidência de doença psiquiátrica é enorme, assim como do alcoolismo, o envelhecimento populacional é enorme, as distâncias são enormes, os acessos são dificílimos, os transportes públicos não existem, portanto é o conjunto de todas estas coisas que temos de ter em conta.”
João Adolfo, psicólogo em Odemira – que foi, durante alguns anos, o sítio com números mais elevados de suicídios –, conta-nos que, através da sua experiência de trabalho na zona, que dura há 10 anos, tem vindo a perceber que a forma destas pessoas lidarem com o suicídio é “diferente das outras zonas do país”. Pelo que tem observado na sua prática profissional, o suicídio, em Odemira, “não é demonizado” no sentido em que “não é uma experiência muito disruptiva da realidade, quer pela frequência com que acontece, quer pelas condições em que, normalmente, acontece, nesta zona”. Sendo este comportamento mais prevalente em pessoas do sexo masculino, a partir dos 60 anos, João identifica um padrão recorrente que se prende ao sentimento “de que eles estão a ficar menos capazes” devido à diminuição da sua capacidade física, aliada, em alguns casos, ao consumo de álcool e até ao desenvolvimento de alguma doença com ele relacionada que exija “cuidados médicos regulares e com alguma urgência”.
Também João denota problemas no funcionamento do SNS no distrito de Beja: “As pessoas têm de percorrer distâncias muito grandes para conseguir ter acesso aos cuidados de saúde, portanto têm de fazer entre 40, 50, 60 quilómetros para conseguirem chegar a um hospital ou a um centro de saúde, o que faz com que, muitas das vezes, tenham alguma relutância em se deslocarem e tratarem dos seus problemas de saúde”.
Isto, aliado a um fechamento e dificuldade em verbalizar os seus sentimentos, e, de uma forma geral, a identificação de uma menor religiosidade na zona, leva a que vários pensem: “se um homem já não está cá para trabalhar, se já está doente, se já vai ter de fazer uma data de tratamentos e o médico lhe diz que ele não pode beber, nem pode uma data de coisas que gostamos todos de fazer na vida, se calhar a solução passa por aí, por ser ele a decidir terminar a sua própria vida”, partilha o psicólogo.
O caminho faz-se à medida que cada pessoa percebe que “há uma realidade por trás de cada um de nós, que ninguém conhece a 100 %, e empatizar com esse sofrimento, reconhecendo que ele é legítimo, que não é preciso ter havido uma coisa grave na vida de alguém, um trauma importante, para a pessoa estar com este tipo de pensamentos, e que é importante lidar com isso e procurar ajuda”, declara Renata Benavente.
Ana Matos Pires ressalva ainda que “a saúde mental não se faz só com psiquiatras e psicólogos, faz-se com assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, psicomotricistas e não se faz só dentro do hospital, tal como a prevenção do suicídio não se faz só dentro da [área da] saúde, faz-se em todos os sítios, incluindo na nossa casa.”
*O conteúdo desta reportagem não substitui a procura e a consulta de ajuda profissional
Número Europeu de Emergência
112
Serviço de Aconselhamento Psicológico da Linha SNS24
808 24 24 24
SOS Voz Amiga
Lisboa, das 16h às 24h
213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660
Linha Verde gratuita
800 209 899 (entre as 21h e as 24h)
Conversa Amiga
Inatel, das 15h às 22h
808 237 327 / 210 027 159
Vozes Amigas de Esperança de Portugal
Das 16h às 22h
222 030 707
Telefone da Amizade
Porto, das 16h às 23h
228 323 535
Voz de Apoio
Porto, das 21h às 24h
225 506 070
Apoio a Sobreviventes: