Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


“Nunca quis ser mãe. Nem em criança sonhava com tal coisa”, começa por nos contar Sílvia Lopes de 46 anos. É educadora social, divorciada e vive, atualmente, em união de facto com um novo parceiro. Sílvia garante-nos que nunca quis ter filhos, apesar de ter sido “altamente pressionada” pelo ex-marido e por aqueles que a rodeavam para seguir o caminho da maternidade. Hoje, afirma ser uma mulher “realizada” e em momento algum se arrependeu da sua decisão de não ser mãe.
A maternidade configura, em Portugal, uma entre muitas possibilidades que surge ao longo do percurso de vida de uma mulher. Porém, quem opta por não seguir essa via continua a ser alvo de julgamento por parte de familiares, parceiros ou mesmo da sociedade. Sílvia explica-nos que “nunca achou piada às bonecas que lhe ofereciam quando era criança” e que, mesmo quando se casou, tinha a certeza de que a ideia de constituir família não envolveria filhos. O seu parceiro da altura aceitou esta convicção de Sílvia durante algum tempo, mas acabou por mudar de ideias e pediu-lhe para ser pai. Sílvia cedeu e confessa que deixou de tomar pílula para tentar engravidar.
“Fui altamente pressionada para ser mãe durante dois anos”, relata. “Se me faltasse a menstruação, já tinha um teste de gravidez cá em casa passados dois dias.” A educadora social nunca chegou a engravidar. “A natureza sabe bem o que faz”, justifica. Com o passar dos anos, o seu casamento foi-se deteriorando por várias razões, mas Sílvia acredita que a verdadeira causa do seu divórcio foi o facto de não querer ser mãe e de nunca ter engravidado.

“Fui a nora que ninguém queria ter”, prossegue no seu discurso, referindo-se ao facto de a família do seu ex-marido “ser muito virada para a maternidade”. Admite ter sido acusada de ser egoísta várias vezes, pois, segundo as suas palavras, “achavam que só me queria focar na carreira, que não «queria dar de mim» ou que só queria andar na borga e não ter o trabalho” de cuidar de uma criança. Mas Sílvia garante que nenhuma dessas foi a razão para não ser mãe. Na verdade, Sílvia “adora crianças”, mas caracteriza-se como uma pessoa que valoriza a sua independência e admite que sempre teve receio das mudanças corporais que uma gravidez pudesse trazer.
Margarida Barros, mestre em Estudos sobre as Mulheres pela Universidade Aberta de Lisboa, explica na sua dissertação Ser quem sou: o projeto da não-maternidade, que “a não-maternidade voluntária é um fenómeno recente das sociedades contemporâneas, que influencia diretamente a organização do projeto de vida individual e incentiva a uma procura de novos caminhos para a representação social da mulher”. Esta “procura por novos caminhos” relaciona-se com o estigma que é socialmente atribuído à ideia de feminilidade e ao facto de esta ainda se crer comprometida caso uma mulher escolha não ser mãe.
Élisabeth Badinter, filósofa e autora francesa, escreveu numerosos ensaios sobre feminismo e os papéis da mulher na sociedade. Na sua obra The Myth of Motherhood: An Historical View of the Maternal Instinct [O Mito da Maternidade: uma visão histórica do instinto maternal], Badinter refere que, às mulheres, sempre foram atribuídas características como, por exemplo, “o espírito de sacrifício, o preferir a esfera privada, o cuidar, a dependência, o abandono altruísta ou o culto da maternidade e da criança”. Estas fizeram com que todas “as instituições sociais se organizassem” de acordo com estes pressupostos.
Margarida Barros evidencia ainda, na sua dissertação, que temos, atualmente, “um apelo civilizacional que teoriza a igualdade de género e veicula mensagens de individualismo/hedonismo abertas à apropriação tanto de mulheres como homens”, mas que não deixa de existir “toda uma estrutura de comportamentos esperados, de socialização, de espaço institucional, de gestão de expectativas familiares e coletivas, que não se atualizou à velocidade da renovação ideológica”.
Já apontava a escritora italiana Chiara Saraceno em Maternity and Gender Policies (2012) que não ter filhos era, em tempos, e em alguns países da Europa, interpretado como “uma vergonha” e que “recusar-se a ter filhos era considerado crime”. Um crime “contra a raça, a moral e nação”.

Em Portugal, esta realidade atenuou-se com o surgimento dos movimentos feministas. Mas a verdade é que, seja motivada pela religião católica, seja pelos ideais machistas e patriarcais que, por vezes, gerem as nossas instituições sociais, alguns setores da sociedade ainda se regem pelo estigma de que a maternidade é um “projeto obrigatório” para a vida de uma mulher.
Vanessa Cunha, socióloga e investigadora no Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, explica em entrevista ao Gerador que “a maternidade continua a ter esta dimensão biológica que se transforma em estereótipo. Considera-se o facto de se ser mulher, que tem o bebé dentro da barriga, que dá à luz e que amamenta, um dom natural e divino. É da sua natureza biológica ter estas capacidades, portanto, quem não tem filhos, é visto como uma “não-mulher”.
Por sua vez, Alexandra Santos Silva, psicóloga clínica e psicanalista, também partilha a opinião de que, “do ponto de vista cultural e social, existe uma pressão marcadamente forte para as mulheres que decidem não ser mães. Esta pressão é uma pressão social, e não só. Também é uma pressão familiar”. Do seu ponto de vista, e apesar do desenvolvimento social, “ainda existe um estigma face à mulher que não foi mãe. Como se essa mulher ficasse num lugar de falha perante as outras mulheres que constituíram família. Creio que, cada vez mais, isto é um fenómeno que cresce pela própria transformação social, pela mudança de paradigma e do papel da mulher”.
A introdução da pílula nos anos 1960, a legalização do divórcio em 1910 ou as mudanças a nível do papel da mulher no mercado do trabalho nos anos 70, afirmaram-se como atitudes de escolha e liberdade. “Deixámos um paradigma em que a mulher era um objeto reprodutor, que tinha como função procriar e cuidar da família”, elucida Alexandra Silva.

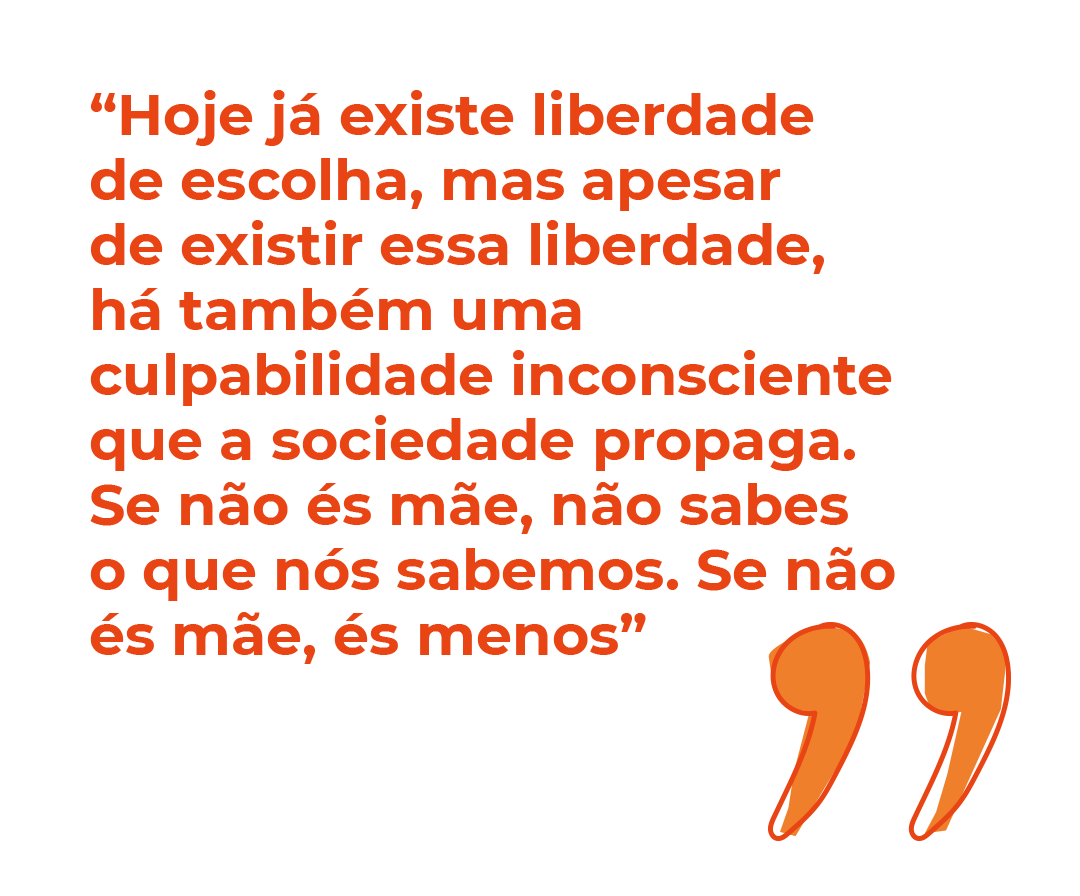
A ideia de que as mulheres têm de ser mães integra, assim, “um preconceito e uma moral preexistente”. A psicóloga relembra ainda de que “estamos a falar de uma cultura face à mulher e face ao feminino de séculos e séculos de história”. Isto é, “ainda que se assista a mudanças de paradigma com a introdução do novo, haverá sempre o passado que acompanha essa transformação”, pois nada deixa de estar “enraizado na história”.
O projeto da não-maternidade pode ser, como afirma a mestre Margarida Barros, “uma resolução tomada no início da conjugalidade ou da vida sexual ativa, durante a idade adulta ou já no fim da idade considerada ideal para uma gravidez de sucesso. Em qualquer um destes tempos, o impacto da decisão é diferente, tanto para a mulher (na sua motivação e resolução) como para todo o grupo social que a rodeia”.
A nossa entrevistada Sílvia Lopes conta que, não só sofreu pressão por parte do seu antigo companheiro e familiares, como também por parte do seu médico ginecologista que, após a diagnosticar com endometriose, terá dito que Sílvia se “iria arrepender” caso não realizasse os exames necessários para tratar do problema de saúde e não engravidasse. Esta pressão por parte do médico fê-la questionar se não queria realmente ser mãe, pois iria passar dos 40 anos, mas “não fazia sentido. Nunca quis ser mãe. Parece uma obrigação da mulher ser mãe!”.
Sílvia tem também um irmão com trissomia 21. Segundo o que nos relata, o seu pai chegou a acreditar que ela não queria ter filhos por ter um irmão com deficiência, mas a nossa entrevistada garante-nos que também não foi uma razão para a sua escolha. “O facto de a família Afonso Lopes terminar em mim também foi uma grande pressão. O meu irmão com trissomia, eu sem filhos… a geração acabou aqui”.
A socióloga Vanessa Cunha, que é também coordenadora do Observatório das Famílias e das Políticas de Família, esclarece-nos que este “medo” de que as famílias não serão fecundas relaciona-se, precisamente, com o fim da descendência. “Termina ali um ramo da família e, hoje em dia, as famílias são cada vez mais verticais. Esta é uma pressão social e familiar. É como se fosse um dever deixar descendência e as gerações reproduzirem-se. É uma obrigação dar continuidade à linhagem familiar, e isto recai, sobretudo, sobre as mulheres”.
Em conversa com o Gerador, Teresa Joaquim, antropóloga social e professora na Universidade Aberta de Lisboa (UAB), afirma que, “desde a Antiguidade, que existe uma separação entre as mulheres e os homens, sendo que as mulheres sempre estiveram mais ligadas à natureza e às funções do corpo. No fundo, é uma separação entre o inteligível e o sensível, e as mulheres acabaram por ficar do lado do sensível”. Com o surgimento dos ideais feministas, as mulheres começaram a questionar o papel que lhes foi atribuído durante séculos, e o plano de ter filhos e constituir família foi desvanecendo-se.
Mas antes não haviam muitas alternativas, pois a dependência económica das mulheres era comum. “No século XIX, dizia-se que era «casá-las ou metê-las a freiras», e isso era o destino das mulheres”, remata a antropóloga. “Elas tinham de ter alguém que se ocupasse delas. Era uma situação de dependência.” Atualmente, as mulheres procuram contruir os seus próprios projetos individuais, e sim, muitos deles não passam pela maternidade.
Teresa Joaquim considera que o significado de cuidar de uma criança e de “torná-la alguém” continua a ser desvalorizado a vários níveis sociais e políticos. “Desde a infância que há toda uma educação para as meninas serem mães, desde os brinquedos até à sua socialização que está vocacionada para o cuidado e para tratar da família”, esclarece. “A sociedade acha que a mulher pertence a um determinado lugar que está ligado à maternidade e às tarefas domésticas. É assim desde sempre”.
Por outro lado, a religião tem também um impacto importante nesta separação entre a maternidade e a não-maternidade. Teresa explica: “Ainda se crê na ideia de que existe a mulher virgem, pura, e que depois existem todas as outras mulheres. Já para não falar da nossa relação com o corpo e com a sexualidade que sempre foi muito complicada. Dito isto, as questões da família são muito importantes para uma sociedade católica e não vão deixar de ser.
É o mito da virgem mãe e o olhar sagrado que se atribui a todos os rituais de entrada numa comunidade”.
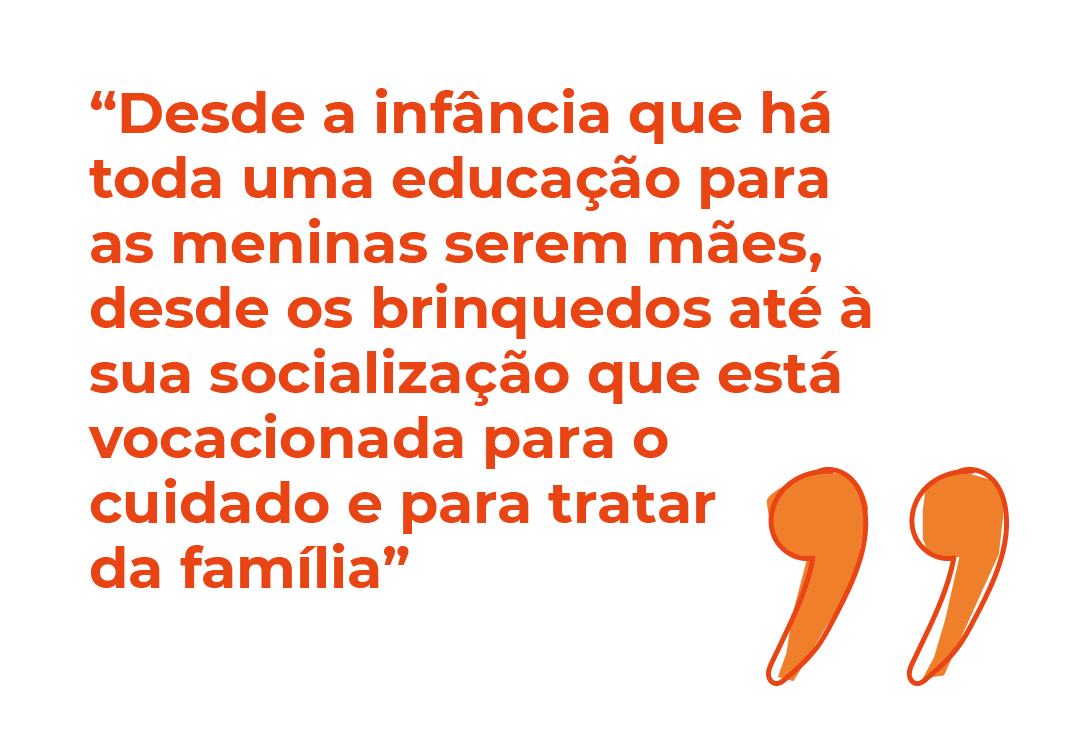
Com o planeamento familiar e com a introdução dos métodos contracetivos, a decisão de ter filhos passou a ser altamente ponderada. Vanessa Cunha, que tem vindo a analisar as mudanças na sociedade portuguesa ao nível das decisões reprodutivas desde 1999, realizou vários estudos acerca das razões que levam as famílias a adiar o nascimento do primeiro filho ou a escolher a via da não-maternidade.
Cunha salienta que uma das questões a ter em consideração é o facto de as funções dos filhos terem vindo a alterar-se com o passar dos anos. Num dos seus estudos, a socióloga concluiu que até ao final dos anos 1990, apesar de a dimensão afetiva ser transversal a todas as famílias, algumas ainda seguiam certos “modelos tradicionais relativamente às funções das crianças”, uma vez que a contribuição das mesmas passava pelo trabalho doméstico ou pelo apoio económico por via da inserção precoce dos rapazes no mercado de trabalho. Isto é, os filhos detinham, de certo modo, funções produtivas. Por um lado, eram uma fonte de recurso económico, por outro, eram vistos como “um possível retorno na velhice dos pais”.
A socióloga determinou ainda que a reprodução pode ser muito vulnerável aos ciclos económicos do país. “Na sociedade portuguesa, as famílias estão muito dependentes do mercado de trabalho e dos seus recursos económicos para sustentar os filhos”, explica-nos. “Estes custos económicos da parentalidade pesam muito nas famílias portuguesas, porque não temos um estado social muito generoso e acabamos por deixar muitas pessoas de fora. Estamos mais orientados para políticas que tentam tirar as pessoas da pobreza propriamente dita, não atingindo depois as famílias de classe média que, estando dependentes dos seus recursos económicos, têm dificuldade em fazer a transição do primeiro para o segundo filho” ou mesmo para a parentalidade.
Em suma, à medida que a sociedade portuguesa foi aumentando os seus capitais escolares e se foi tornando “mais eficiente do ponto de vista do controlo da fecundidade”, a probabilidade do aumento dos filhos únicos acabou por se concretizar.
“Carolina” [nome fictício a pedido da entrevistada] tem 29 anos e começa por dizer, em entrevista ao Gerador, que nunca idealizou ser mãe. “Para mim, ser mãe, teria de ser numa condição muito especial”, confessa. “Teria de ter estabilidade a nível financeiro e a nível emocional, porque acredito que criar um filho é um trabalho superdifícil e é para a vida toda.” Conta-nos que não foi uma gravidez desejada para a sua própria mãe e que isso a ajudou “a pôr as coisas em perspetiva e perceber que vida daria a um filho se seguisse em frente com uma gravidez”. Com base na sua infância, percebeu que a maternidade iria ser um desafio “demasiado difícil e que não queria estar a expor uma criança aos problemas que teve”.
A psicanalista Alexandra Silva explica-nos que uma má infância pode influenciar na decisão de ter ou não ter filhos e que essa influência pode ser inconsciente. “Se eu não tive a melhor mãe, e tenho alguma consciência da relação que tive com ela, eu, inconscientemente, vou ter medo de repetir comportamentos”, elucida a psicanalista. “Ou seja, não vou querer ser para o meu filho aquilo que a minha mãe foi para mim. Quando este receio é consciente, creio que não compromete tanto a maternidade, porque já existe uma noção clara de que não vou querer ser como a minha mãe foi. Claro que, se este medo for pensado, existe a possibilidade de o transformar”.
Esta identificação com a figura maternal, ou o receio da identificação como descreve Alexandra Silva, se existir de forma inconsciente, pode comprometer o desejo da maternidade. “Não é propriamente uma questão de querer ou não querer. É o desejo de ser mãe que fica comprometido.”
Acrescenta ainda que “é na infância, quando brincamos com as bonecas, que nos começamos a identificar com as nossas mães e a sentir, enquanto crianças, o desejo em ser mãe. Estamos a jogar com o simbólico”, explica. “As meninas, de um modo geral, assumem o papel de mãe e cuidam do seu boneco bebé por se identificarem com a sua mãe. Nós observamos, numas crianças mais do que noutras, a capacidade de cuidar do seu bebé e a repetição dos comportamentos da sua mãe.” Se esta relação não for boa, as crianças podem não se identificar e não vão desencadear esse desejo. “Há meninas que não fazem tanto este jogo simbólico e há outras que não o fazem de todo.”
Há cerca de um ano, “Carolina” engravidou do seu atual parceiro, sendo que, à data, namoravam há seis meses. Escolheu interromper a gravidez. “Foi muito difícil”, relata. “Estava completamente dividida. Posso dizer que o processo não foi fácil, mas senti-me grata por estar num país com acesso gratuito aos cuidados e onde pude tomar a minha decisão com toda a liberdade e com toda a segurança.”
“Carolina” esclarece que foi “a falta geral de autonomia” que a levou a interromper a gravidez e que, atualmente, não se arrepende da decisão que tomou. “Gostava de ser mãe se tivesse condições. Eu não tinha possibilidade para avançar com aquela gravidez”, prossegue. “Senti que ainda não estava numa fase em que era autónoma.”
Para além da falta de condições económicas, “Carolina” descreve ainda a dor física que sofreu na altura da gravidez e do aborto. “A própria experiência da gravidez deixou-me ainda menos confiante de que quero ser mãe. Acho que é uma coisa muito pintada de cor-de-rosa, sabes? Eu senti o meu corpo a ir abaixo de uma maneira que não parecia eu. Não controlava o meu corpo. Acrescentei quase duas horas à minha rotina para sair de casa. Acordava todos os dias enjoada, não conseguia comer, as minhas pernas pesavam uma tonelada cada uma. Não estava preparada para isto”, admite na nossa conversa.
Para a jovem, seria egoísta da sua parte “trazer uma criança ao mundo para conviver com as sua lutas”. Fisicamente, ainda sofre com algumas sequelas. “[…] As oito semanas em que estive grávida foram uma experiência corporal de rapto e rejeição”, descreve. “É preciso desmistificar todo este processo [da interrupção voluntária da gravidez]. Não é fácil, não é aquele clichê de método contracetivo alternativo. É um processo superdoloroso, tanto emocional como fisicamente”.
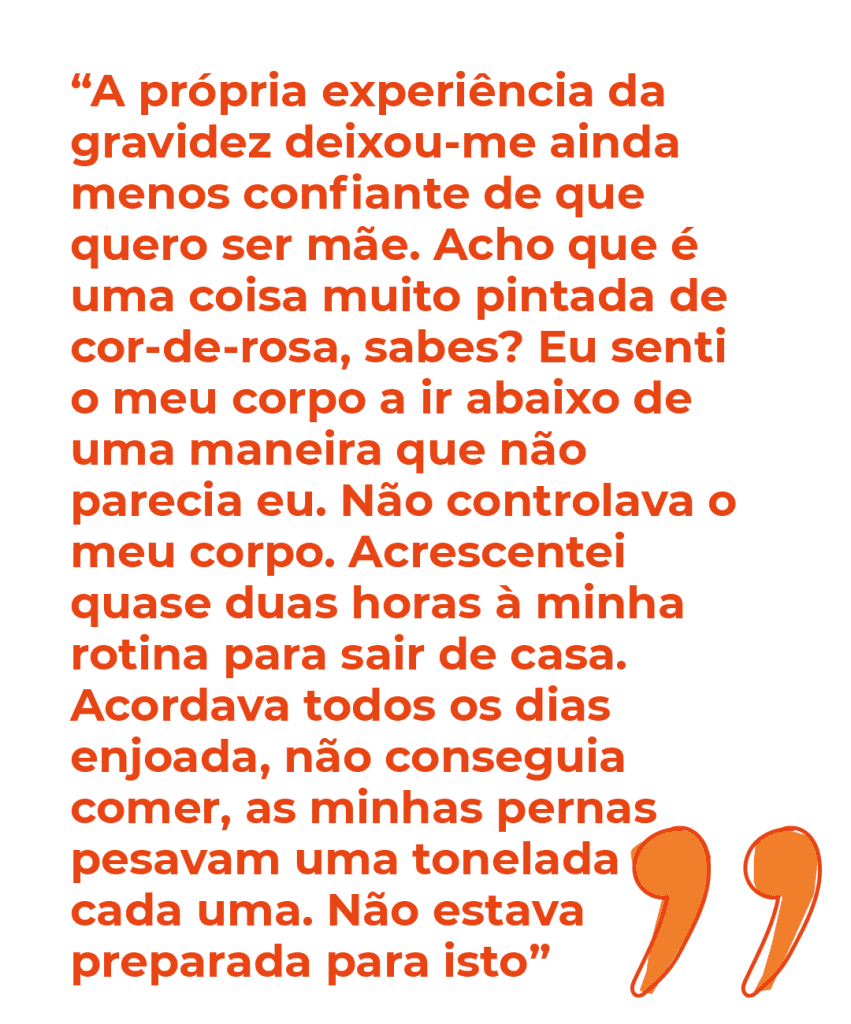
“Carolina” afirma ter “tido a sorte” de não ter um parceiro que a pressionasse para seguir com a gravidez. Porém, passou por algumas situações de pressão social em contexto laboral. Na mesma altura, uma colega de trabalho de “Carolina” também terá engravidado. “Acabámos por nos descobrir uma à outra”, começa por contar. “Quando lhe disse que não estava preparada e que, muito provavelmente, não iria seguir com a decisão para a frente, ela riu-se na minha cara. Tive de a interromper numa dessas conversas, porque eu estava a explicar que estava numa situação muito difícil, e ela ria-se como se eu estivesse a contar uma piada.”
A verdade é que a sociedade integra a não-maternidade num “lugar de desvalorização”, tal como aponta a psicanalista Alexandra Silva. “Claro que todo este estigma e culpabilidade afeta a vida emocional de uma mulher. O próprio narcisismo da mulher fica fragilizado porque há toda uma carga de desvalorização que lhe é imposta”, afirma.
O olhar da sociedade é, de certa forma, “um olhar que julga e que desvaloriza”. A longo prazo, estas mulheres, julgadas por escolherem a não-maternidade, “podem achar que não tomaram a melhor decisão e questionar se não deveriam ter sido mães. Se não for trabalhado, há uma culpabilidade que se mantém e que afeta a autoestima”, acrescenta a psicóloga. “É como se não se sentissem completas por não serem mães. Mas cada caso é um caso e depende sempre do modo como a mulher gere e labora a maternidade, independentemente do olhar e da desvalorização que possa sentir”.
Esta pressão social une-se, eventualmente, à pressão autoimposta. Esta união traz uma dimensão maior do ponto de vista interno que fragiliza a mulher e que pode ter consequências ao nível do narcisismo. Segundo as palavras de Alexandra Silva, a mulher pode mesmo “não se sentir suficiente no seu feminino, uma vez que a maternidade confirma o feminino. Só as mulheres podem ser mães. É uma capacidade que a mulher tem e que é única apenas no feminino. Não é que sejamos menos femininas se não formos mães! Mas, do ponto de vista da confirmação e da validação do feminino, por excelência, só a mulher é que tem a capacidade de poder fazer crescer no seu útero um ser. É nesse lugar que nós nos diferenciamos absolutamente do masculino”.
A psicanalista defende, ainda assim, que as mulheres que invistam mais numa carreira profissional e que tenham uma maior autonomia, terão também, uma maior capacidade de se afirmar perante a sociedade e a pressão cultural que a mesma impõe. “Existem mulheres que optam por investir toda a sua energia e toda a sua libido na sua carreira, não tendo espaço algum para a maternidade. O seu percurso não passa por aí, ou seja, não querem que aquilo que elas são capazes de criar e construir sejam outros filhos.”
A nossa entrevistada “Carolina” considera necessária uma “desmistificação” da maternidade e da não-maternidade. “Acho que ainda existe uma certa aura mágica à volta da maternidade e que a sociedade acredita ser uma fase superimportante e essencial na vida de uma mulher. Sinto esse estigma, apesar de não ter passado por ele”. Posto isto, “Carolina” acredita que ter um filho deve ser um exercício consciente. “Existem pessoas que não têm o apoio que precisam porque não foram conscientes ou porque se deixaram levar pelo estigma”, afirma. “Óbvio que me custou dizer à minha mãe que ela não ia ser avó. Mas sinto que as pessoas às vezes tomam as suas decisões com base na felicidade dos outros.”
De acordo com o Inquérito à Fecundidade 2019 realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), “Portugal observa, hoje, um número de nascimentos e um Índice Sintético de Fecundidade (ISF) ainda menores do que no início da década de oitenta: o número de nascimentos é inferior a 90 mil/ano e o ISF não chega a 1,5 filhos por mulher”.
Este aumento da infecundidade é clarificado por Vanessa Cunha. A socióloga afirma que existe “um pacote de condições que é preciso ter para se ter filhos hoje em dia. É preciso ter independência económica, independência residencial, é preciso encontrar a pessoa certa, é preciso começar a trabalhar, têm de haver dois empregos estáveis, é preciso estar confiante na relação. É todo um conjunto de condições, sejam materiais, seja do foro do bem-estar pessoal, conjugal ou das expectativas que se colocam nesse casal”.
Como se pode verificar no estudo realizado por Cunha, “Trajetórias não reprodutivas em três gerações de portugueses: incidência, circunstâncias, oportunidade” (2012), entre as principais causas para o aumento da infecundidade em Portugal, encontra-se: a “incerteza financeira e profissional”; a “falta de incentivos públicos”; “desvantagens internas (psicológicas, biológicas, saúde)”, como estar em idade avançada para ter filhos, problemas de saúde, problemas de fertilidade ou má experiência com um aborto; a “dinâmica conjugal”; e, por fim, a “resistência à parentalidade”.
A estas, acrescentam-se ainda as alterações climáticas, as pandemias, guerras, a fome, a seca, no fundo, o “mundo de incerteza” e a instabilidade social.
“A pessoa tem de achar que a sua situação atual e de futuro é estável”, aponta a socióloga. “Se uma pessoa está numa situação profissional aflitiva, ou está numa relação conjugal instável, ou a Rússia invade a Ucrânia, surgem cenários desfavoráveis para se ter um filho. Não é compaginável com todas as exigências que se colocam hoje sobre o que é criar e educar uma criança. Temos de pensar que uma criança, hoje, é alguém que vai estar sob a nossa responsabilidade mais tempo do que alguma vez esteve”.
No que diz respeito à negociação conjugal, Vanessa Cunha revela que, na maioria das vezes, quando um dos cônjuges não quer seguir o caminho da parentalidade, a relação tende a terminar. “Existem vontades pessoais que são balizadas dentro deste contexto da conjugalidade e é neste contexto que se acha que se devem ter os filhos. Por sua vez, isto torna essas negociações difíceis e as decisões que se tomam são em prejuízo de alguém que acaba magoado ou dececionado.”
Salomé Areias, de 38 anos, é ativista pela justiça social e climática. Atualmente encontra-se a tirar um PhD em Sustentabilidade e afirma que “nunca quis ter filhos.” Sente que nunca irá querer ter, mas não nega a possibilidade de mudar de ideias um dia. Fundou a empresa Fashion Revolution, em Portugal, há nove anos e luta, diariamente, pela adoção de comportamentos pró-ambientais.
De acordo com o seu testemunho, “não sentenciar uma nova vida à miséria humana na Terra, apesar de ser um argumento, não é a principal razão para não ter filhos”. Ainda assim, as questões ambientais preenchem a vida da doutoranda e apresentam-se como uma das justificações para ter adotado o projeto da não-maternidade até agora.
Ao longo da nossa conversa, a psicanalista Alexandra Silva salienta que “não devemos generalizar” as razões pelas quais uma mulher decide não ter filhos. “Ela pode sentir-se realizada sem ser mãe. O medo não está sempre implícito. A instabilidade do mundo, por exemplo, também tem influência na não constituição de famílias”, assevera. “São as questões da eco ansiedade. São pessoas que decidem não ter filhos porque não sentem segurança suficiente para colocar uma criança no mundo.”
Salomé Areias conta-nos que, apesar de o desejo de ser mãe nunca ter surgido, também percebeu que a Terra “não era um planeta habitável para esta espécie”, quando deu conta “do sistema nefasto que tínhamos e de que isso iria tornar o nosso planeta inabitável em breve”.
Problemas como a escassez de água, a seca ou diminuição de produção configuram algumas das principais preocupações de Salomé. “Vamos viver muitas dificuldades a vários níveis. As crises económicas vão acumular-se com mais rapidez. A crise climática vai gerar uma série de condicionamentos a nível de acesso à água, acesso à alimentação e ao bem-estar geral. Já para não falar na crise humana que vai daí surgir. O capitalismo moderno que temos hoje em dia submete os pais a diversas situações de stress, falta de saúde mental… ou até a ansiedade a que esta geração é submetida.”

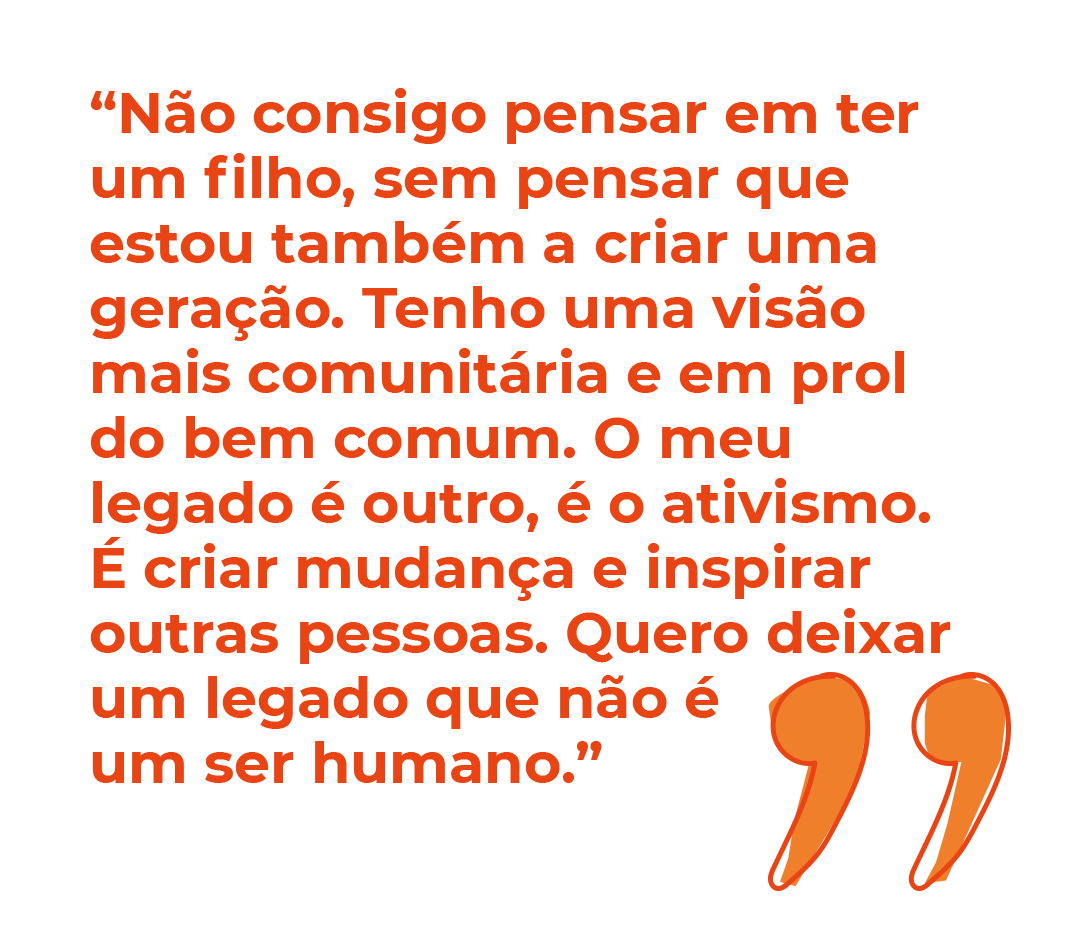
Salomé Areias esteve numa relação de seis anos que, entretanto, terminou. A não-maternidade não terá sido o motivo para esse término, mas a nossa entrevistada admite que, enquanto namorava, sentiu que a dada altura “seria suposto querer filhos”. Hoje está convicta de que “foi a cultura a falar mais alto”, pois nunca sentiu essa vontade. “Tenho consciência de que não decido nada acerca do meu futuro”, acrescenta. “Respeito-me e respeito a possibilidade de mudar abismalmente as minhas opiniões. Hoje, sinto que nunca vou querer, mas nunca se sabe.”
A verdade é que Salomé não consegue dissociar nada desta vida de um impacto social. “Não consigo pensar em ter um filho, sem pensar que estou também a criar uma geração. Tenho uma visão mais comunitária e em prol do bem comum. O meu legado é outro, é o ativismo. É criar mudança e inspirar outras pessoas. Quero deixar um legado que não é um ser humano.”
Apesar de todas as pressões sociais e tabus relativos à maternidade, Salomé apresenta uma “visão realista” e acredita que as mentalidades estão a mudar. “Já existe espaço para termos um discurso livre, seja a nível de dinâmicas de relacionamento, maternidade, identidade de género ou a nível de orientação sexual. Há espaço para sermos aquilo que quisermos, para sermos livres, para sentirmos, para amarmos quem quisermos. E isso também legitima a luta das mulheres. À medida que as mulheres se permitem pensar de determinada maneira e veem uma brecha de liberdade, de espaço para serem o que querem, elas aproveitam e inspiram-se umas às outras.”
A socióloga Vanessa Cunha também compara a liberdade que existe atualmente para as pessoas escolherem as suas opções de forma livre e sem terem de dar justificações. “Antigamente tinha de se prestar contas, sobretudo à família.” A modernização da sociedade trouxe, de facto, famílias mais diversas e legalmente diversas, tais como famílias do mesmo sexo, monoparentais ou adotivas.
Contudo, esta modernização trouxe também uma nova pressão que recai, sobretudo, na ideia do que é a boa parentalidade. “Antigamente, a criança não tinha valor enquanto indivíduo”, explica a socióloga. “Hoje em dia, até as profissões ligadas à infância evoluíram. As crianças já têm outro valor, já são vistas como alguém que tem direitos e o seu bem-estar é prioridade. Isto pode ser um obstáculo para muitas pessoas terem filhos. Hoje os pais sentem-se mais sozinhos. Tudo depende deles.”
Posto isto, os filhos nunca foram tão importantes do ponto de vista do sentido de relação única, afetiva e inquebrantável como hoje em dia. “Antes, o pilar da família era a instituição do casamento. Se Deus quisesse dava filhos àquela família, se Deus não quisesse não dava filhos àquela família. Mas o casal era o centro da economia familiar e era sobre eles que recaía esta ideia de família”, prossegue Cunha na nossa conversa.
Hoje em dia, a conjugalidade é tida como algo que a maioria das pessoas quer experienciar e, se não funcionar à primeira, existem outras tentativas. “Mas o laço mais importante na sociedade portuguesa passou a ser a relação entre mãe e filho, ou pai e filho. E por isso é que se considera a ideia de ter filhos tão importante. É a única relação que se leva para a vida toda. As outras podem terminar, mas essa não”, declara.
Os movimentos childfree (livre de crianças) têm vindo a manifestar-se, cada vez mais, em Portugal, e Vanessa Cunha defende que estes movimentos, surgiram, sobretudo, pelo bem-estar das crianças. “A maioria das pessoas que não quer ter filhos voluntariamente está a levantar a questão no bem-estar da potencial criança. Não me interpretes mal, mas as sociedades desenvolvidas acabam por pôr as crianças num pedestal. Todas as condições que elas precisam para crescerem saudáveis, harmoniosas e felizes são muito exigentes para a parentalidade.”
Atualmente, as gerações mais novas são mais adeptas do ideal de liberdade para tomar as suas decisões. Contudo, a socióloga acredita que as diferenças geracionais são muito importantes para a sociedade portuguesa e que o convívio entre elas pode trazer verdadeiras mudanças. “Tenho a certeza de que os meus filhos não vão ter uma visão da vida familiar tão formatada como nós tivemos durante décadas, à força. Vivíamos num contexto de um país pobre, pouco escolarizado, fechado numa ditadura conservadora e que transmitia esta imagem pequenina do que era a família. Tudo o resto era considerado anormal e errado. Hoje em dia isso já não acontece”, conclui.

Ana Simões é formada em Psicologia Clínica e trabalha na área da saúde sexual e reprodutiva há 25 anos. Pertence à Associação para o Planeamento da Família e vive no Algarve. Tem 55 anos e optou pela não-maternidade “de forma consciente, segura, e sem qualquer mossa na sua feminilidade”.
Nunca amou “ao ponto de querer dar o passo seguinte.” Para si, os filhos representam, de uma forma romantizada, “a concretização de uma relação onde pretendemos dar continuidade a esse amor. Relativamente a isto, e fazendo uma análise mais técnica, percebi que, muitas das vezes, os filhos representam uma concretização feminina e servem apenas para alimentar o ego individual. Ou seja, os filhos são como a prova dada da nossa feminilidade e da nossa capacidade de gerar”.
Sempre se sentiu completa sem filhos, mas reconhece que nasceu dentro de uma família tradicional e de padrões com os quais não se identificava. “Sempre fui uma mulher independente, assumidamente solteira e com feitio para viver sozinha. Nunca vislumbrei uma vida conjunta. Gosto dos meus namorados na casa deles e eu na minha. Aliás, sempre fui muito discreta nas minhas relações. Para além disso, concretizei o sonho de tirar a carta de mota e cheguei a comprar uma. Bem, tendo em conta as minhas conquistas e por haver uma certa recusa da minha parte aos avanços dos homens, fui, frequentemente, rotulada de ser lésbica”, conta-nos.
Não é homossexual, mas, tendo em conta a época e o “Portugal conservador” em que cresceu, Ana correspondia a todos os parâmetros sociais que descreviam alguém com esta orientação sexual. “Como se uma mulher independente, sozinha, sem filhos e tendo comportamentos dito masculinos fosse menos mulher. Nem sempre é fácil lidar com essa pressão. É preciso estar-se muito segura e ter uma certa maturidade emocional para não ceder a esse julgamento.”
Ana Simões é da opinião de que vivemos numa sociedade em que sentimos uma necessidade “tremenda” de corresponder ao que nos é exigido socialmente. “Eu não tinha tanta pressão para corresponder a uma imagem como as miúdas têm neste momento. Apesar de ter tido a pressão familiar, não tinha uma rede social que me mostrava, constantemente, as crianças alheias e que eu não tinha as ditas fotografias para expor. Havia pressão social, sim. Mas o social de antigamente era meia dúzia de pessoas. Atualmente, é o mundo inteiro.”
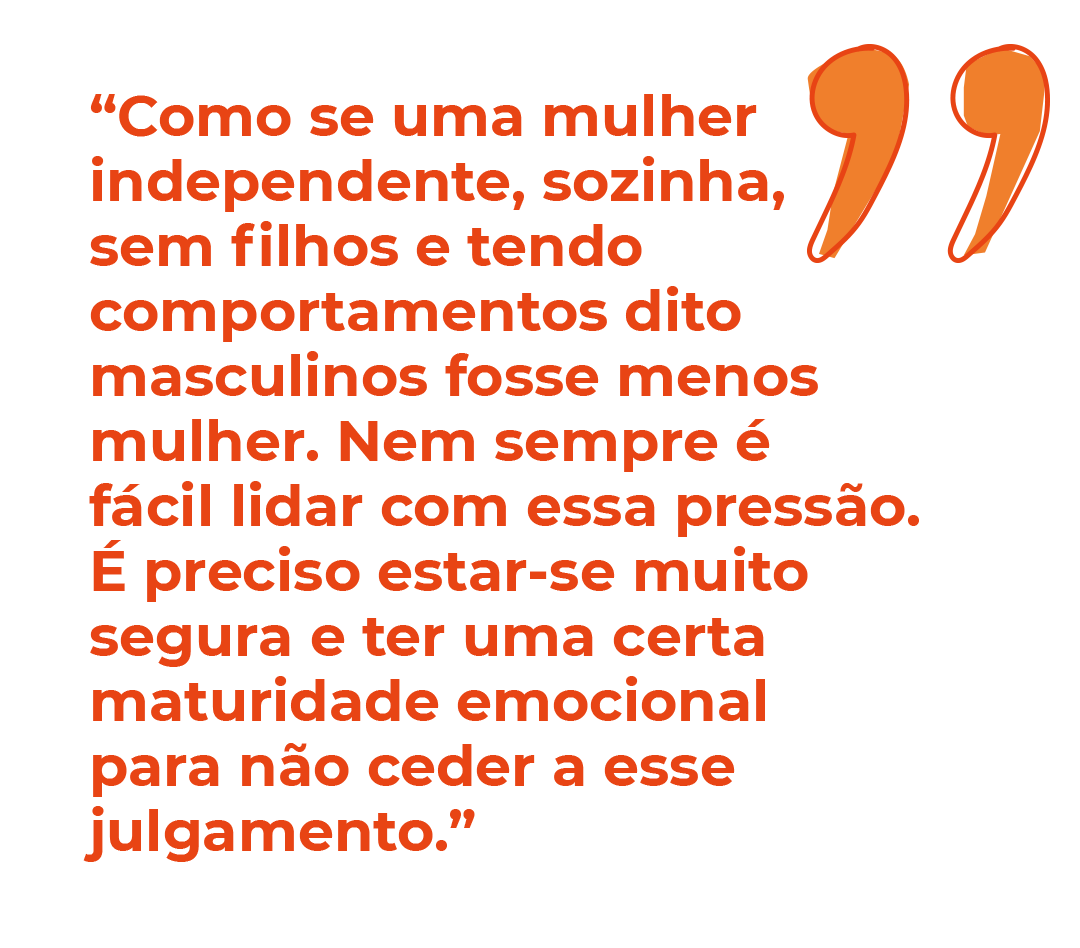
Em 2019, a antropóloga Teresa Joaquim e a mestre Margarida Barros escreveram um ensaio intitulado “Estudos sobre as Mulheres: conhecimentos itinerantes, percursos partilhados”, onde referiram que a “não-maternidade, enquanto opção/decisão individual, traduz uma parte significativa de um processo de robustez emocional, marcado por um contexto cultural multivariado e evolutivo, que se tem prolongado no tempo […]. Construir um projeto de vida que inclua a não-maternidade pode potenciar a diversidade de formas de participação e solidariedade assumindo uma vertente intra e intergeracional que consolida, e ajuda a consolidar, uma imagem otimizada sobre a opção da não-maternidade”.
Acreditando neste pressuposto, “Mónica” [nome fictício a pedido da entrevistada], de 49 anos, revela-nos a sua história e o motivo que a levou a escolher a não-maternidade: a sua doença mental.
“Percebi que os meus genes não eram bons quando tive a oportunidade de ser mãe por volta dos 30 anos”, começa por relatar. “O meu pai era esquizofrénico, e toda a minha família paterna tem algum tipo de perturbação, seja distúrbio de jogo, seja alcoolismo, seja falta de autoestima. O pai da minha mãe também tinha alguns problemas de raiva e era uma pessoa muito autoritária. A minha avó materna chegou mesmo a sofrer violência doméstica.”
“Mónica” confessa que sempre teve dificuldades em lidar com os seus pares na escola e que chegou a “ganhar pânico de realizar exames”. Durante a sua adolescência foi encarregada de tomar conta do pai e da avó paterna. “Não passei pelos processos normais de automatização.” Aos 15 anos, foi diagnosticada com uma depressão. Mais tarde, ao entrar na Faculdade de Química, passou por uma mais grave devido ao insucesso académico e à falta de amizades.
Em conversa com o Gerador, refere que o seu pai “era muito afetuoso e regia a sua vida pelo amor e pela tolerância ao outro. O meu pai é o exemplo de que a religião pode salvar. Ele agarrou-se a Deus, porque queria ser santo. E isto é, nitidamente, proveniente da psicose. Mas a verdade é que havia uma parte do meu pai que lhe dizia: ‘Eu quero ser bom.’ Foi isso que o salvou, que lhe permitiu casar e ter uma filha”.
“Mónica” perdeu a avó paterna com 20 anos, altura que coincidiu com a sua segunda depressão. “A minha avó não sabia amar, nem ser amada. Mas eu consegui conquistá-la através do afeto”, remata. “Consegui baixar as guardas à minha avó e fazê-la aceitar o meu carinho. Isso foi uma grande conquista e tem que ver com o meu pai, sem sombra de dúvida. Ele ensinou-me o que era o afeto. Existem doenças mentais, sim. Existem desequilíbrios e falta de estrutura. Não fui educada para ser autónoma. Mas o afeto do meu pai salvou-me.”
A depressão e a ansiedade regem a vida de “Mónica” desde muito nova. Começou a fazer psicoterapia e, desde então, que não tem parado. É solteira e vive com a mãe atualmente. “Sempre fiz parte de uma equipa que tinha como função cuidar do pai. Sentia-me protegida nessa função, como que um objetivo de vida e acabei por não ter capacidade de dar o grito do Ipiranga e sair de casa, deixando os velhotes para trás”, explica-nos.
“Mónica” tentou autonomizar-se e chegou a iniciar um curso de ortoprotesia com 30 anos. Porém, os ataques de ansiedade nunca desapareceram e viu-se obrigada a desistir dos estudos novamente. “Percebi que o mundo lá fora era violento demais. Quando tenho um ataque de ansiedade, parece que fico num estado de carne viva e não tolero o mundo lá fora.”
Revela-nos que “sempre adorou crianças” e que a escolha de não ser mãe foi totalmente consciente. “Percebi que não tinha estabilidade emocional para cuidar de uma criança”, justifica. “Eu tenho algo que não é um desequilíbrio bioquímico, não é uma esquizofrenia, não é uma bipolaridade. Tenho qualquer coisa que não é boa. Pensei em adotar. Mas não. Não estás estável para ti própria, vais transmitir isso para alguém? Não. Eu não vou estragar uma criança. Porque eu própria me senti estragada em criança.”
Não se arrepende da sua decisão, mas, por vezes, questiona-se. “Eu gosto mesmo muito de crianças. Adoro ver a sua personalidade, vê-los crescer. Mas não me arrependo. Foi a melhor escolha que fiz.” Conta-nos ainda que não sofreu grandes pressões por parte da sociedade. Na família, a questão da maternidade não se levantou devido à sua questão mental.
De um modo geral, considera estar rodeada das pessoas certas que apenas querem o seu bem. “Tenho em mim a noção de que o afeto e o amor são essenciais”, assegura. “É por amor que se tomam estas decisões. Por amor a mim mesma e por amor a uma alma que podia ter passado mal”. Para “Mónica”, é “possível ter uma vida cumprida sem filhos. Existem outras experiências, outras formas de nos descobrimos e de nos enriquecermos. A vida é válida de tantas maneiras. Caramba, divirtam-se a conhecê-las!”
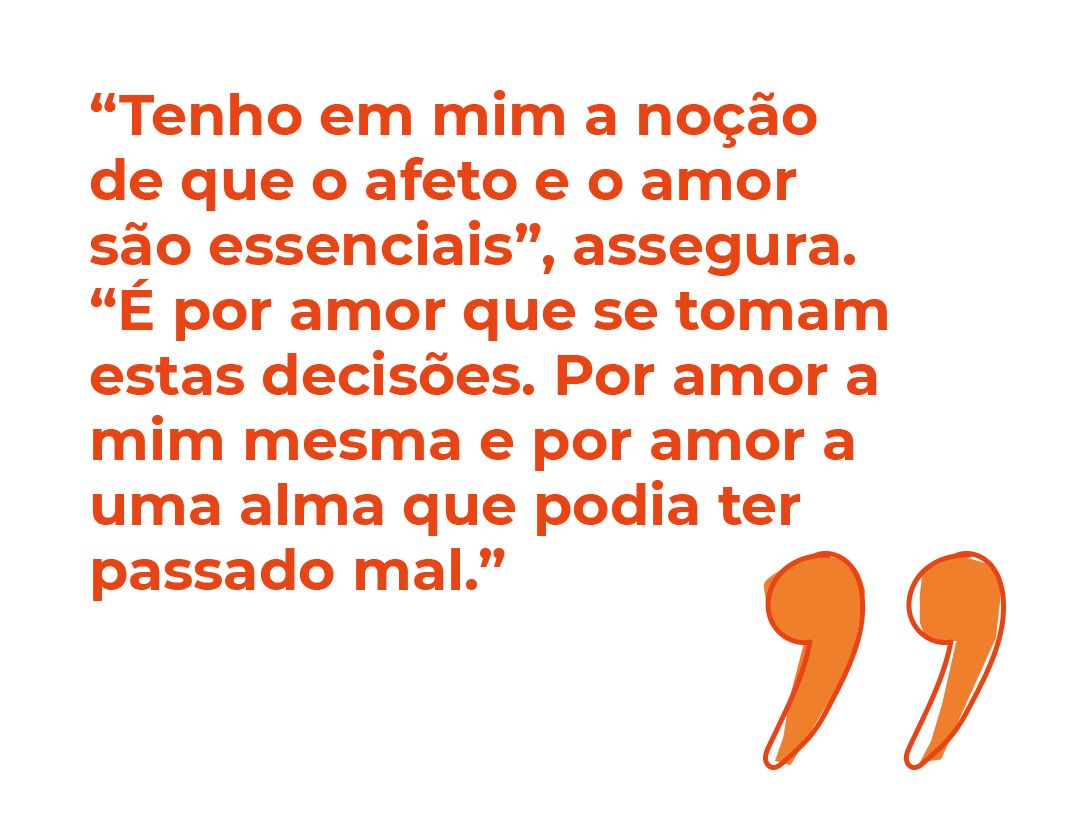
A ativista Salomé Areias também partilha a opinião de que é “necessária muita responsabilidade para criar um ser humano. É preciso estar-se consciente do que se é enquanto pessoa, isto é, ser uma pessoa saudável a nível mental, espiritual e psicológico. Ao sermos pais, temos de ter a consciência de que estamos a gerar um ser humano que não é nosso. Estamos apenas a ajudar a transformar alguém a ser quem é e a sua melhor versão”. Salomé acredita que teria essa capacidade, mas a ideia de ser tutora de alguém não é algo que lhe passe pela cabeça. “Acho que todos deveriam fazer esse trabalho de autoconhecimento antes de terem filhos”, conclui.
A opção da não-maternidade centra-se em diversas questões, sejam do foro pessoal ou comunitário. Ainda assim, a liberdade permite-nos seguir outros caminhos e, tal como defende a psicóloga Alexandra Silva, “nem todos têm de seguir o da maternidade. Existem mulheres que dão muito bem conta disso e que não se sentem menos por não serem mães. A felicidade não tem de passar pela constituição de família. Tem de haver respeito pela singularidade de cada um”.
A evolução da sociedade trouxe um novo paradigma e novas crenças relativas a este tema. Porém, a escolha voluntária por este projeto de vida continua a causar estranheza e, mesmo com as novas transformações, permanecemos numa sociedade que se crê virada para a maternidade. A antropóloga Teresa Joaquim salienta que, antigamente, “as mulheres que não tinham filhos eram as tias que tinham outro tipo de funções, as que iam para o convento ou que faziam outro tipo de escolhas. Ocupavam-se de ações de caridade e solidariedade, por exemplo. Mas isso sempre existiu! Se calhar não era visto como não-maternidade, mas não sabemos até que ponto isso não seria uma escolha também e não apenas falta de independência económica”.
A nossa entrevistada Ana Simões defende ainda que “têm de haver mais politicas de natalidade que permitam escolhas mais conscientes”. Por outro lado, considera necessário que se faça um “grande trabalho a nível da saúde mental, sexual e reprodutiva”.
A luta pela liberdade individual e pelo empoderamento feminino tem-se tornado num dos focos principais dos movimentos feministas. Espera-se que esses conduzam a uma nova valorização da mulher na sociedade portuguesa e que o seu papel, ou a sua feminilidade, deixe de estar associada a um projeto de maternidade.
“Oiçam-se. Permitam-se ouvir”, conclui a educadora Sílvia Lopes. “O corpo explica se faz sentido ou não. E aceitem quando não é para ser. Já ouvi histórias de várias mulheres que não engravidaram e sentiram pressão, tanto social quanto pessoal. Não temos todos de ter o mesmo percurso. Podem haver alegrias, amores e conexões fortes, sem ter filhos. Se não queremos, se não faz sentido, respeitem esta nossa vontade”.

Nunca tive o desejo de ter filhos, no entanto, senti-me um pouco pressionada e julgada em relações anteriores e por pessoas externas à relação. Hoje, sinto-me mais leve e aceite por estar com alguém que partilha a minha opinião, contudo, tive de ouvir, várias vezes, comentários desagradáveis por parte de amigos ou familiares. “Pode ser que engravides sem querer”, diziam.
Certa vez, tive uma conversa com um dos meus ex-namorados sobre não me ver como mãe nem sentir esse apelo. Expliquei-lhe que, na altura, não punha o assunto completamente de parte (hoje em dia já ponho), mas que não pensava ter filhos tão cedo por não me identificar com o papel de mãe, por priorizar mais outras áreas da minha vida e também por ter algum medo da gravidez, do parto e das complicações que podem gerar física e psicologicamente. Uns tempos mais tarde, num almoço com a família dele, ao sermos questionados (como sempre) sobre os filhos, ele respondeu muito diretamente: “A Teresa não quer ter filhos, porque tem medo de estragar o corpo.” Fiquei triste, porque, pelos vistos, não tinha compreendido nada do que lhe expliquei, não me apoiou e fez parecer que a minha opção tinha um fundamento fútil.
Noutra relação, anos mais tarde, novamente ao tentar explicar ao meu namorado que o parto e o pós-parto eram coisas que me assustavam e que tinha medo de poderem correr mal, obtive a resposta de que isso não é era uma razão válida. Que o parto é algo natural e que uma colega do trabalho já ia ao ginásio passado uns meses de ser mãe, portanto, não devia ser assim tão complicado.
Em ambos os casos, tenho a certeza de que as pessoas não tinham intenção de ser maldosas. Acho que o problema é não estarem sensibilizadas de que é legítimo não querer ser mãe e qualquer motivo é válido, mesmo que seja “só” porque não quero. Então, automaticamente, tomam uma posição de menosprezar as nossas razões ou tentar convencer-nos do contrário. Acreditam, efetivamente, que será o melhor para nós, porque foi assim que foram ensinados.
Consciencializei-me de que não ser mãe é uma opção desde muito nova.
Ainda adolescente dizia que, caso houvesse oportunidade, apenas iria adotar. Já na fase adulta, pouco depois de entrar na faculdade, tomei a decisão definitiva de que a maternidade não seria uma opção para mim.
Formada em Belas-Artes, sempre fui focada nos meus objetivos pessoais e profissionais e, consciente dos obstáculos e dificuldades do mundo artístico em Portugal (país onde vivo e tento fazer carreira), estou convencida de que a maternidade seria apenas mais uma barreira a travar o meu caminho. À medida que os anos foram passando, fui refletindo sobre o assunto e estou convicta da minha opinião. Tendo em conta as questões ambientais, sociais e económicas atuais, para mim, ser mãe é um ato de puro egoísmo. É com precaução que escolho com quem expressar esta opinião tão pouco convencional, pois aquando o fiz, cheguei a ser atacada com comentários sexistas e/ou machistas, como por exemplo: “Tu nasceste mulher, por isso a tua função é dar filhos ao teu marido.” (sou solteira).
Levando um estilo de vida não monógamo consensual nunca encontrei problemas em expressar a minha anti natalidade. Na minha vida familiar ainda existiram leves discussões, principalmente com os meus pais, pois o desejo de eles serem avós sempre foi superior às minhas decisões pessoais. O assunto foi, por fim, encerrado, quando me disseram, noutra tentativa de persuasão, que ter netos era importante devido à herança, ao qual respondi: “Ninguém deve ser obrigado à existência por um legado insignificante.”
Em conclusão, evito falar no assunto a não ser que me seja questionado diretamente e, mesmo assim, não sinto segurança em expressar a minha verdadeira opinião com qualquer pessoa – numa sociedade virada para a maternidade: uns ouvem piadas, outros, a verdade.
Fiz 26 anos há bem pouco tempo. No entanto, isso nunca impediu a minha família de me questionarem, desde sempre, quando irei ter filhos. Atentem que a maioria passa um ano inteiro sem me dizer nada, mas por alguma razão acham normal chegarmos, por exemplo, ao Natal, e este tema vir ao de cima com a maior das naturalidades. Não sabem nada sobre a minha vida a nível financeiro, sobre a minha saúde mental que há anos que não é a melhor, mas acham-se no direito de me dizer que tenho de ser mãe, que não devia estar solteira, por aí adiante.
Apesar de só ter 26 anos, a decisão de não ter filhos não é imatura ou precipitada. E é uma decisão que já está tomada há muito tempo. Uma coisa que costumo dizer em conversa com amigos, é que, se fosse mãe, acredito que seria uma excelente mãe. Mas acontece que não quero, pois estaria a ser egoísta, no meu caso, com a criança que traria ao mundo.
Nasci numa família onde todas as mulheres, pelo menos da parte materna, foram sujeitas a que a criação dos filhos recaísse sobre elas. Tiveram, ou têm, depressões, entre outros problemas a nível de saúde mental que nunca foram tratados. A escolha que fizeram para ultrapassar isso foi a de ter filhos. Eu sou uma dessas filhas. Vejo, constantemente, estas mulheres a não se meterem em segundo plano sequer, mas sim em terceiro ou quarto. Vejo-as a fazerem tudo pelos outros, a começar sempre pelo marido. O facto de não combaterem isso, porque não tiveram quem lhes ensinasse, faz-me querer exatamente o oposto do que elas têm.
Sim, sou aquela que traz o feminismo para a mesa, os direitos das mulheres. Sou confrontada, tanto dentro como fora do ambiente familiar, com esta minha decisão e com as constantes opiniões negativas. Há um machismo intrínseco, do qual muitas mulheres são vítimas ainda. O que mais me dizem é que sou muito nova e que vou mudar de ideias. Eu acredito que se realmente mudasse de ideias, nada teria que ver com a idade e que isso é só uma forma chata de nos quererem dizer o que fazer. Estou solteira, mas é um ponto que gosto de deixar claro quando estou numa relação: eu não quero ser mãe.
Acho que há, cada vez mais, mulheres a autoafirmarem-se e com abertura para dizerem que não à maternidade. Não só a elas, mas aos outros também. No fundo, sabemos que nos vão cair em cima de uma maneira ou de outra, que nos vão tentar silenciar e mexer com os nossos direitos. Ainda assim, sei que existem mulheres que optam por falar das coisas e fazem-nos perceber que não estamos sozinhas. Estamos a tentar fazer desta, a nossa realidade, e não a outra, na qual nos ostracizam constantemente
Aos 21 anos, tive uma relação da qual resultou uma gravidez não desejada. Abortei, e ele acabou por me deixar. Preferia uma coisa que não ia existir.
Foi a minha primeira relação mais longa, sentia que fazia todo o sentido (namoro cego), fazíamos tudo um pelo outro. Quase desisti da faculdade por ele. Devia ter percebido na altura, mas estava “cega”. Afastou-me da minha família e dos meus amigos, e chegou ao ponto de me esconder a pílula. Engravidei, sem me aperceber, pois não deixei de ter a menstruação.
Quando ele soube da novidade, contou à família toda. Persuadiu-me a ter a criança, mas eu sentia que tinha um alien dentro de mim e que tinha de o arrancar. Não o queria.
Decidi então abortar e, durante a consulta no hospital, ele fartou-se de me mandar mensagens, dizendo que eu era uma assassina e que estava a matar o nosso bebé.
Não me arrependo. Claro que isso trouxe sequelas para a minha saúde mental e medo de voltar a engravidar. Fiquei 6 anos sem ninguém e sem confiar em alguém.
Entretanto conheci o tal, com quem estou casada atualmente, e contei-lhe a minha história. Ele ficou estupefacto, triste que aquilo me tivesse acontecido. Bem, passado um ano, eu já não conseguia tomar contraceção, pois nada me fazia bem. Saltava de pílula em pílula, tinha montes de alterações hormonais.
Foi aí que ele se chegou à frente e disse que fazia uma vasectomia para eu não ter de tomar nada. Tivemos de afirmar que não queríamos ter filhos e que não era um pensamento da hora. Somos felizes assim e não nos arrependemos.
Sempre acreditei e continuo a acreditar que, mais importante do que dar continuidade ao ADN da família, é importante dar amor. Por que razão irei eu pôr mais uma criança num mundo já a abarrotar, quando há tantas crianças à espera, em processos de adoção, de uma família que lhes dê uma casa e amor?
Apesar de saber que esta explicação é mais do que verdadeira e que tenho todo o direito de decidir o que faço com a minha vida, passo a vida a ouvir: “Patrícia... Tu nunca sabes! Não há nada melhor no mundo do que o NOSSO filho!” “Tu não sabes nada. Hoje pensas isso e amanhã vais mudar de ideias.” “Patrícia, mas já passaste dos 30! Quando é que pensas engravidar?” São inúmeras as tentativas de consciencialização de que, se tenho a possibilidade de dar à luz, tenho de o fazer!
Cresci numa família nuclear, sou filha única e tenho boas relações familiares com a minha mãe, o meu pai, avós, tias e primes. Sou heterossexual, acredito no poliamor e tento construir relações profundas, confiáveis, honestas e saudáveis.
Não sou mãe por opção. Comecei a pensar seriamente sobre este assunto aos 14 anos, quando tive a minha primeira relação séria. Esta durou cinco anos. Foi uma experiência fantástica da qual resultou uma amizade inquebrável, mas em momento algum romantizei a ideia de ter uma criança com aquela pessoa tão especial.
Por volta dos 20 anos apaixonei-me por alguém que seria o meu companheiro durante três anos. Engravidámos e optei, sem hesitação, por abortar. Esta experiência tornou-me mais sensível e compreensiva para com as minhas amigas que decidiram ser mães. Deixei de ser tão crítica e intransigente, mas nunca me arrependi e nunca mergulhei na dúvida do “e se”.
Não tomo contracetivos hormonais e, como tal, estou vulnerável a oscilações. Já tive momentos (e calculo que ainda vá ter) em que me surgiram sentimentos com os quais não me identifico ou pensamentos irracionais relacionados com a maternidade. A primeira vez que isso me aconteceu, por volta dos 27 anos, assustou-me e confundiu-me, mas, ao falar com outras amigas mais velhas que também não são mães, percebi que é um processo normal, provocado por um instinto de sobrevivência natural.
Escuto o que me faz amar a aventura, a liberdade de movimento e de escolha, o poder sobre o meu próprio corpo, a independência emocional e económica, o ser dona da minha e de mais nenhuma vida, o combate ao medo e à apatia, o amor por aqueles que decido amar.
Poderia escrever imenso sobre este tema, mas quero deixar claro que aquilo que me faz não ser mãe é ter amor à vida a nível emocional, considerar que o planeta está sobrepopulado e considerar o tempo demasiado curto para um só projeto. Sinto que é uma decisão muito pessoal e que vem muito de um lugar interno só nosso: o desejo. Mas ambos os desejos – o de ser mãe e o de não ser mãe – são válidos, e está tudo bem com isso.
Socialmente, a não maternidade é um tema sobre o qual toda a gente tem uma opinião (principalmente os homens) e, por vezes, ainda me surpreende a falta de sensibilidade com que algumas pessoas dão a sua (não pedida) opinião.
Gostava também de abordar o facto de que, em relações amorosas heterossexuais, existe um desequilíbrio gigante de responsabilidades em relação à procriação. Sempre tive conflitos e stress com os meus companheiros devido à sua falta de ação no facto de não querermos engravidar e sempre tive de ser eu a assumir e a tomar todas as precauções. Em alguns momentos da minha vida, este facto fez com perdesse totalmente o interesse em envolver-me sexualmente com homens.
Mas, para deixar aqui a esperança de que pode ser diferente, o meu companheiro atual fez uma vasectomia, e eu vivo uma vida sexual maravilhosa e apaixonada. Sem medos, paranoias ou desequilíbrios, como nunca vivi antes!
Penso que, embora a maternidade possa ser algo incrível e poderoso, não é a única maravilha do mundo, e a vida está repleta de coisas, momentos, pessoas e sítios incríveis para desfrutar e viver. Boa viagem a todes!
Nunca quis ter filhos. Suponho que, inicialmente, por rebeldia. Com o avançar dos anos comecei a ganhar consciência do que me rodeava e do meu nível de inteligência emocional.
Parecem estar reunidas todas as condições para não ter filhos. Por um lado, a instabilidade financeira. Diria mesmo incapacidade de me sustentar, de viver com o fôlego monetário necessário para ter e criar um filho. Por outro lado, a dúvida persistente: terei capacidade emocional para ser mãe? Aprendi essas competências? Se não, conseguirei começar do zero? Ou estarei a perpetuar um círculo vicioso de disfuncionalidade?
Sempre ouvi as frases: “Ah, vais ver que vais mudar de ideias” ou “depois vais arrepender-te”. De mão dada, vem a questão intrusiva: “e filhos, para quando?”. A resposta é sempre a mesma: “Para nunca.” Resulta. Inibe outras perguntas ou observações impertinentes.
Questiono esta pseudo-obrigatoriedade em ser progenitor. Mais me intriga, por que razão as pessoas sentem a necessidade de fazer (e comunicar-nos) este julgamento de valor sobre as escolhas da nossa vida? Porque sabem elas o que é melhor para a nossa vida?
Já terminei um relacionamento por não querer ter filhos e a outra parte, sim. Na relação atual, estamos em sintonia.
Terei filhos, se e só se, cumprir estes dois requisitos: 1) tiver estabilidade financeira e 2) adquirir inteligência emocional. Pois bem... vejo tudo muito mal encaminhado.

Nunca tive o desejo de ter filhos, no entanto, senti-me um pouco pressionada e julgada em relações anteriores e por pessoas externas à relação. Hoje, sinto-me mais leve e aceite por estar com alguém que partilha a minha opinião, contudo, tive de ouvir, várias vezes, comentários desagradáveis por parte de amigos ou familiares. “Pode ser que engravides sem querer”, diziam.
Certa vez, tive uma conversa com um dos meus ex-namorados sobre não me ver como mãe nem sentir esse apelo. Expliquei-lhe que, na altura, não punha o assunto completamente de parte (hoje em dia já ponho), mas que não pensava ter filhos tão cedo por não me identificar com o papel de mãe, por priorizar mais outras áreas da minha vida e também por ter algum medo da gravidez, do parto e das complicações que podem gerar física e psicologicamente. Uns tempos mais tarde, num almoço com a família dele, ao sermos questionados (como sempre) sobre os filhos, ele respondeu muito diretamente: “A Teresa não quer ter filhos, porque tem medo de estragar o corpo.” Fiquei triste, porque, pelos vistos, não tinha compreendido nada do que lhe expliquei, não me apoiou e fez parecer que a minha opção tinha um fundamento fútil.
Noutra relação, anos mais tarde, novamente ao tentar explicar ao meu namorado que o parto e o pós-parto eram coisas que me assustavam e que tinha medo de poderem correr mal, obtive a resposta de que isso não é era uma razão válida. Que o parto é algo natural e que uma colega do trabalho já ia ao ginásio passado uns meses de ser mãe, portanto, não devia ser assim tão complicado.
Em ambos os casos, tenho a certeza de que as pessoas não tinham intenção de ser maldosas. Acho que o problema é não estarem sensibilizadas de que é legítimo não querer ser mãe e qualquer motivo é válido, mesmo que seja “só” porque não quero. Então, automaticamente, tomam uma posição de menosprezar as nossas razões ou tentar convencer-nos do contrário. Acreditam, efetivamente, que será o melhor para nós, porque foi assim que foram ensinados.
Consciencializei-me de que não ser mãe é uma opção desde muito nova.
Ainda adolescente dizia que, caso houvesse oportunidade, apenas iria adotar. Já na fase adulta, pouco depois de entrar na faculdade, tomei a decisão definitiva de que a maternidade não seria uma opção para mim.
Formada em Belas-Artes, sempre fui focada nos meus objetivos pessoais e profissionais e, consciente dos obstáculos e dificuldades do mundo artístico em Portugal (país onde vivo e tento fazer carreira), estou convencida de que a maternidade seria apenas mais uma barreira a travar o meu caminho. À medida que os anos foram passando, fui refletindo sobre o assunto e estou convicta da minha opinião. Tendo em conta as questões ambientais, sociais e económicas atuais, para mim, ser mãe é um ato de puro egoísmo. É com precaução que escolho com quem expressar esta opinião tão pouco convencional, pois aquando o fiz, cheguei a ser atacada com comentários sexistas e/ou machistas, como por exemplo: “Tu nasceste mulher, por isso a tua função é dar filhos ao teu marido.” (sou solteira).
Levando um estilo de vida não monógamo consensual nunca encontrei problemas em expressar a minha anti natalidade. Na minha vida familiar ainda existiram leves discussões, principalmente com os meus pais, pois o desejo de eles serem avós sempre foi superior às minhas decisões pessoais. O assunto foi, por fim, encerrado, quando me disseram, noutra tentativa de persuasão, que ter netos era importante devido à herança, ao qual respondi: “Ninguém deve ser obrigado à existência por um legado insignificante.”
Em conclusão, evito falar no assunto a não ser que me seja questionado diretamente e, mesmo assim, não sinto segurança em expressar a minha verdadeira opinião com qualquer pessoa – numa sociedade virada para a maternidade: uns ouvem piadas, outros, a verdade.
Fiz 26 anos há bem pouco tempo. No entanto, isso nunca impediu a minha família de me questionarem, desde sempre, quando irei ter filhos. Atentem que a maioria passa um ano inteiro sem me dizer nada, mas por alguma razão acham normal chegarmos, por exemplo, ao Natal, e este tema vir ao de cima com a maior das naturalidades. Não sabem nada sobre a minha vida a nível financeiro, sobre a minha saúde mental que há anos que não é a melhor, mas acham-se no direito de me dizer que tenho de ser mãe, que não devia estar solteira, por aí adiante.
Apesar de só ter 26 anos, a decisão de não ter filhos não é imatura ou precipitada. E é uma decisão que já está tomada há muito tempo. Uma coisa que costumo dizer em conversa com amigos, é que, se fosse mãe, acredito que seria uma excelente mãe. Mas acontece que não quero, pois estaria a ser egoísta, no meu caso, com a criança que traria ao mundo.
Nasci numa família onde todas as mulheres, pelo menos da parte materna, foram sujeitas a que a criação dos filhos recaísse sobre elas. Tiveram, ou têm, depressões, entre outros problemas a nível de saúde mental que nunca foram tratados. A escolha que fizeram para ultrapassar isso foi a de ter filhos. Eu sou uma dessas filhas. Vejo, constantemente, estas mulheres a não se meterem em segundo plano sequer, mas sim em terceiro ou quarto. Vejo-as a fazerem tudo pelos outros, a começar sempre pelo marido. O facto de não combaterem isso, porque não tiveram quem lhes ensinasse, faz-me querer exatamente o oposto do que elas têm.
Sim, sou aquela que traz o feminismo para a mesa, os direitos das mulheres. Sou confrontada, tanto dentro como fora do ambiente familiar, com esta minha decisão e com as constantes opiniões negativas. Há um machismo intrínseco, do qual muitas mulheres são vítimas ainda. O que mais me dizem é que sou muito nova e que vou mudar de ideias. Eu acredito que se realmente mudasse de ideias, nada teria que ver com a idade e que isso é só uma forma chata de nos quererem dizer o que fazer. Estou solteira, mas é um ponto que gosto de deixar claro quando estou numa relação: eu não quero ser mãe.
Acho que há, cada vez mais, mulheres a autoafirmarem-se e com abertura para dizerem que não à maternidade. Não só a elas, mas aos outros também. No fundo, sabemos que nos vão cair em cima de uma maneira ou de outra, que nos vão tentar silenciar e mexer com os nossos direitos. Ainda assim, sei que existem mulheres que optam por falar das coisas e fazem-nos perceber que não estamos sozinhas. Estamos a tentar fazer desta, a nossa realidade, e não a outra, na qual nos ostracizam constantemente
Aos 21 anos, tive uma relação da qual resultou uma gravidez não desejada. Abortei, e ele acabou por me deixar. Preferia uma coisa que não ia existir.
Foi a minha primeira relação mais longa, sentia que fazia todo o sentido (namoro cego), fazíamos tudo um pelo outro. Quase desisti da faculdade por ele. Devia ter percebido na altura, mas estava “cega”. Afastou-me da minha família e dos meus amigos, e chegou ao ponto de me esconder a pílula. Engravidei, sem me aperceber, pois não deixei de ter a menstruação.
Quando ele soube da novidade, contou à família toda. Persuadiu-me a ter a criança, mas eu sentia que tinha um alien dentro de mim e que tinha de o arrancar. Não o queria.
Decidi então abortar e, durante a consulta no hospital, ele fartou-se de me mandar mensagens, dizendo que eu era uma assassina e que estava a matar o nosso bebé.
Não me arrependo. Claro que isso trouxe sequelas para a minha saúde mental e medo de voltar a engravidar. Fiquei 6 anos sem ninguém e sem confiar em alguém.
Entretanto conheci o tal, com quem estou casada atualmente, e contei-lhe a minha história. Ele ficou estupefacto, triste que aquilo me tivesse acontecido. Bem, passado um ano, eu já não conseguia tomar contraceção, pois nada me fazia bem. Saltava de pílula em pílula, tinha montes de alterações hormonais.
Foi aí que ele se chegou à frente e disse que fazia uma vasectomia para eu não ter de tomar nada. Tivemos de afirmar que não queríamos ter filhos e que não era um pensamento da hora. Somos felizes assim e não nos arrependemos.
Sempre acreditei e continuo a acreditar que, mais importante do que dar continuidade ao ADN da família, é importante dar amor. Por que razão irei eu pôr mais uma criança num mundo já a abarrotar, quando há tantas crianças à espera, em processos de adoção, de uma família que lhes dê uma casa e amor?
Apesar de saber que esta explicação é mais do que verdadeira e que tenho todo o direito de decidir o que faço com a minha vida, passo a vida a ouvir: “Patrícia... Tu nunca sabes! Não há nada melhor no mundo do que o NOSSO filho!” “Tu não sabes nada. Hoje pensas isso e amanhã vais mudar de ideias.” “Patrícia, mas já passaste dos 30! Quando é que pensas engravidar?” São inúmeras as tentativas de consciencialização de que, se tenho a possibilidade de dar à luz, tenho de o fazer!
Cresci numa família nuclear, sou filha única e tenho boas relações familiares com a minha mãe, o meu pai, avós, tias e primes. Sou heterossexual, acredito no poliamor e tento construir relações profundas, confiáveis, honestas e saudáveis.
Não sou mãe por opção. Comecei a pensar seriamente sobre este assunto aos 14 anos, quando tive a minha primeira relação séria. Esta durou cinco anos. Foi uma experiência fantástica da qual resultou uma amizade inquebrável, mas em momento algum romantizei a ideia de ter uma criança com aquela pessoa tão especial.
Por volta dos 20 anos apaixonei-me por alguém que seria o meu companheiro durante três anos. Engravidámos e optei, sem hesitação, por abortar. Esta experiência tornou-me mais sensível e compreensiva para com as minhas amigas que decidiram ser mães. Deixei de ser tão crítica e intransigente, mas nunca me arrependi e nunca mergulhei na dúvida do “e se”.
Não tomo contracetivos hormonais e, como tal, estou vulnerável a oscilações. Já tive momentos (e calculo que ainda vá ter) em que me surgiram sentimentos com os quais não me identifico ou pensamentos irracionais relacionados com a maternidade. A primeira vez que isso me aconteceu, por volta dos 27 anos, assustou-me e confundiu-me, mas, ao falar com outras amigas mais velhas que também não são mães, percebi que é um processo normal, provocado por um instinto de sobrevivência natural.
Escuto o que me faz amar a aventura, a liberdade de movimento e de escolha, o poder sobre o meu próprio corpo, a independência emocional e económica, o ser dona da minha e de mais nenhuma vida, o combate ao medo e à apatia, o amor por aqueles que decido amar.
Poderia escrever imenso sobre este tema, mas quero deixar claro que aquilo que me faz não ser mãe é ter amor à vida a nível emocional, considerar que o planeta está sobrepopulado e considerar o tempo demasiado curto para um só projeto. Sinto que é uma decisão muito pessoal e que vem muito de um lugar interno só nosso: o desejo. Mas ambos os desejos – o de ser mãe e o de não ser mãe – são válidos, e está tudo bem com isso.
Socialmente, a não maternidade é um tema sobre o qual toda a gente tem uma opinião (principalmente os homens) e, por vezes, ainda me surpreende a falta de sensibilidade com que algumas pessoas dão a sua (não pedida) opinião.
Gostava também de abordar o facto de que, em relações amorosas heterossexuais, existe um desequilíbrio gigante de responsabilidades em relação à procriação. Sempre tive conflitos e stress com os meus companheiros devido à sua falta de ação no facto de não querermos engravidar e sempre tive de ser eu a assumir e a tomar todas as precauções. Em alguns momentos da minha vida, este facto fez com perdesse totalmente o interesse em envolver-me sexualmente com homens.
Mas, para deixar aqui a esperança de que pode ser diferente, o meu companheiro atual fez uma vasectomia, e eu vivo uma vida sexual maravilhosa e apaixonada. Sem medos, paranoias ou desequilíbrios, como nunca vivi antes!
Penso que, embora a maternidade possa ser algo incrível e poderoso, não é a única maravilha do mundo, e a vida está repleta de coisas, momentos, pessoas e sítios incríveis para desfrutar e viver. Boa viagem a todes!
Nunca quis ter filhos. Suponho que, inicialmente, por rebeldia. Com o avançar dos anos comecei a ganhar consciência do que me rodeava e do meu nível de inteligência emocional.
Parecem estar reunidas todas as condições para não ter filhos. Por um lado, a instabilidade financeira. Diria mesmo incapacidade de me sustentar, de viver com o fôlego monetário necessário para ter e criar um filho. Por outro lado, a dúvida persistente: terei capacidade emocional para ser mãe? Aprendi essas competências? Se não, conseguirei começar do zero? Ou estarei a perpetuar um círculo vicioso de disfuncionalidade?
Sempre ouvi as frases: “Ah, vais ver que vais mudar de ideias” ou “depois vais arrepender-te”. De mão dada, vem a questão intrusiva: “e filhos, para quando?”. A resposta é sempre a mesma: “Para nunca.” Resulta. Inibe outras perguntas ou observações impertinentes.
Questiono esta pseudo-obrigatoriedade em ser progenitor. Mais me intriga, por que razão as pessoas sentem a necessidade de fazer (e comunicar-nos) este julgamento de valor sobre as escolhas da nossa vida? Porque sabem elas o que é melhor para a nossa vida?
Já terminei um relacionamento por não querer ter filhos e a outra parte, sim. Na relação atual, estamos em sintonia.
Terei filhos, se e só se, cumprir estes dois requisitos: 1) tiver estabilidade financeira e 2) adquirir inteligência emocional. Pois bem... vejo tudo muito mal encaminhado.