Acesso Rápido
Jornalismo
Temas
Formatos
Programas
Conteúdos
Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
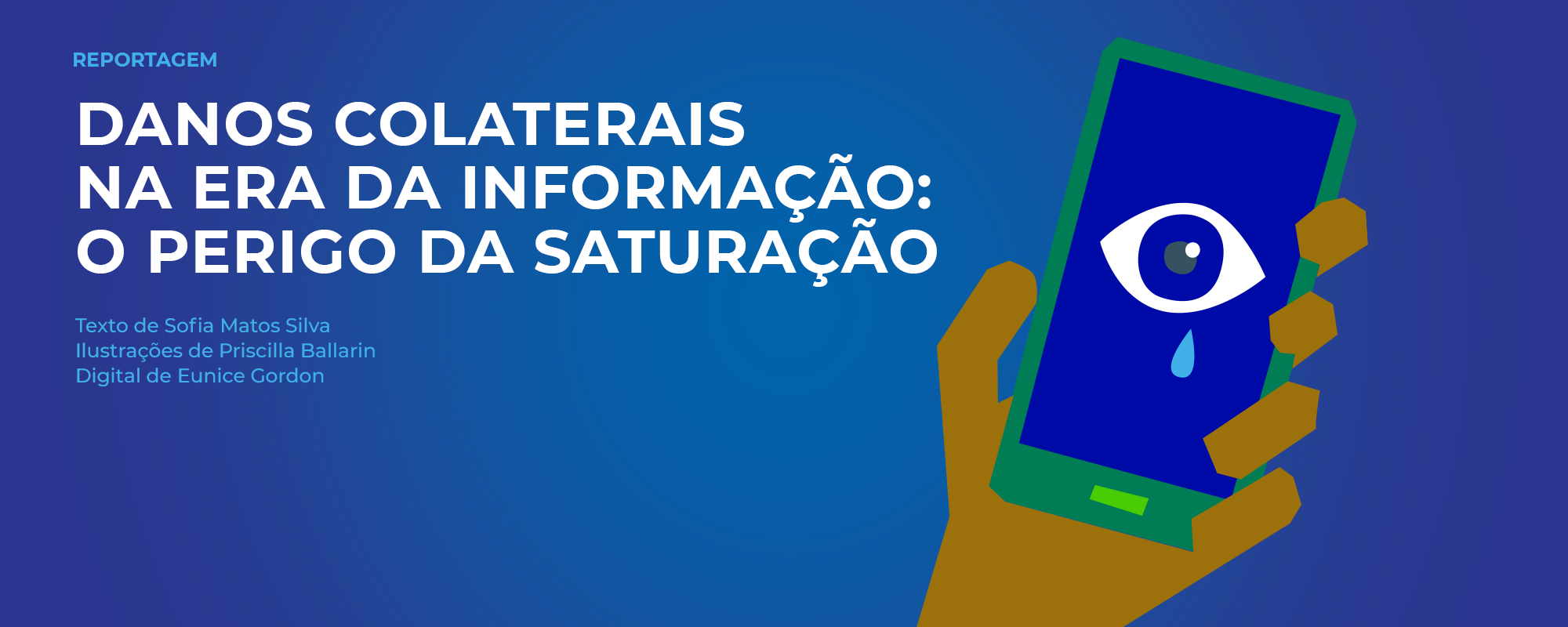

[Aviso de conteúdo sensível.]
A missão do jornalismo, se quisermos usar o The New York Times como referência exemplificativa, é «procurar a verdade e ajudar as pessoas a entender o mundo», missão essa enraizada na crença de que «o bom jornalismo tem o poder de tornar a vida de cada leitor mais rica e gratificante, e de tornar toda a sociedade mais forte e justa». Todavia, vivemos num mundo digital em plena era da informação e da comunicação, o que significa, na prática, que todos os dias interagimos com mais informação do que a que o cérebro humano tem capacidade para processar. Este excesso de informação pode levar ao fenómeno conhecido como a saturação da informação, o que, por sua vez, pode levar ao declínio da saúde mental – exaustão e ansiedade, por exemplo – à confusão, à dessensibilização, e à proliferação facilitada de notícias falsas e de desinformação, ajudando à desacreditação, à desconfiança e criando fraturas nas democracias.
O jornalismo do século XXI move-se, assim, por entre vários dilemas. Os ciclos noticiosos de 24 horas, estabelecidos pela vontade de informar sobre tudo o que se passa no mundo, geram, invariavelmente, demasiada informação, o que pode provocar a referida saturação. Como uma grande parte das notícias são negativas, e algumas envolvem violência elevada, os cidadãos são expostos a acontecimentos traumáticos regularmente. Operando em modelos económicos capitalistas, as empresas tentam captar a atenção de públicos já de si cansados e com atenção limitada para conseguir gerar o maior lucro possível; o jornalismo, que acaba por também ser um negócio, pode cair na tentação de apresentar temas ou acontecimentos, ainda que verdadeiros, de uma forma sensacionalista ou exagerada. E, mesmo com a relevância que a profissão tem nas democracias, os jornalistas são seres humanos como quaisquer outros; por vezes, as opiniões pessoais ou as próprias experiências de vida tornam difícil o relato neutro e objetivo dos factos, para não falar da possibilidade de erros ou falhas de análise, ainda que tal seja verdade em qualquer profissão.
«No caso do jornalismo, há regras profissionais a respeitar», diz António José Teixeira, diretor de informação da RTP. Acredita que é necessário haver liberdade para se conseguir trabalhar e que os projetos precisam de autonomia, mas, sem prejuízo para o meio ou a empresa onde se exerce, há invariavelmente regras básicas a cumprir. «Até por dever de consciência individual – o Código Deontológico explicita que o jornalista tem consciência individual e valores a preservar. E isso dá-nos uma responsabilidade enorme, e também ela individual, não apenas do órgão de informação onde trabalhamos», acrescenta. Segundo o Código, o jornalista «deve», inclusive, «recusar as práticas jornalísticas que violentem a sua consciência».
António José Teixeira
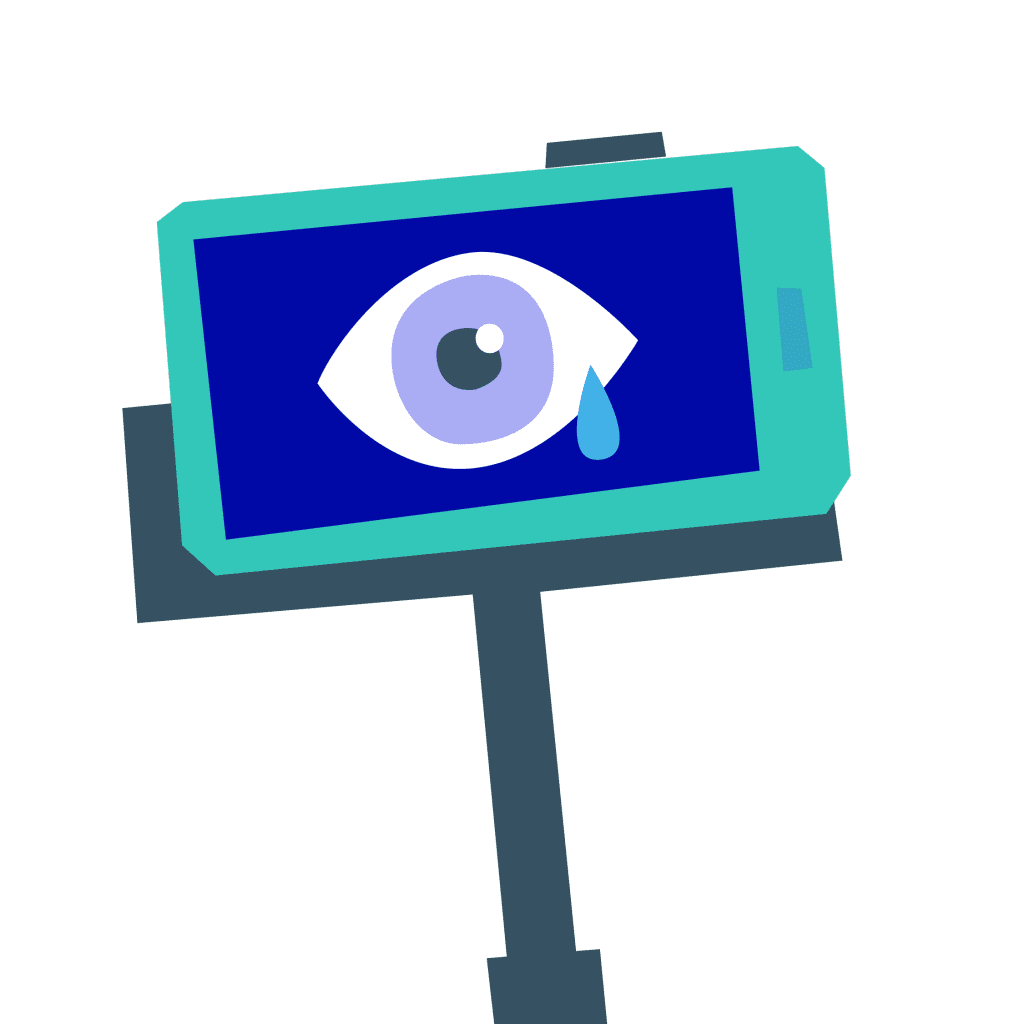
A missão de informar e de ajudar a compreender o mundo carrega uma grande responsabilidade. O coordenador das redes sociais do jornal Expresso, Pedro Miguel Coelho, comenta que «enquanto jornalistas e trabalhadores da informação, não podemos perder a paixão pelas notícias e pelo que fazemos, nem nos deixar ser puxados para outros caminhos. Porque é essa paixão e a capacidade de observar as imagens e os factos que nos vai permitir entender de que forma é que podemos contar as histórias ao público de uma forma interessante». «Somos jornalistas, somos observadores da realidade», continua, «mas continuamos a ser leitores, espectadores e seguidores de informação, e temos constantemente de nos pôr no lugar do leitor.» E se há uma «maior seleção» por parte do público em relação ao conteúdo que consome, e se há uma menor atenção por falta de tempo ou cansaço, a solução não é enviesar ou dramatizar, mas sim «saber contar as histórias», e saber contá-las nas várias plataformas – ser capaz de «multiplicar perspetivas», já que «há uma forma de contar as histórias no papel, há uma forma de contar as histórias no online, e há uma forma de contar as histórias nas redes sociais (e há formas diferentes entre as várias redes)».
A exposição a eventos violentos reais tem sempre efeitos mais fortes do que o contacto com representações de violência ficcional, «ainda que em ambas as situações haja, ou possa haver mais tarde, consequências do ponto de vista psicológico», como explicou Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, quando falou com o Gerador sobre os efeitos da violência nos ecrãs. Imagens como as dos protestos a decorrer no Irão desde a morte de Mahsa Amini, dos incêndios de Pedrógão Grande em 2017, da brutalidade policial nos Estados Unidos, da fuga em massa de civis ucranianos com a invasão russa, das cheias que deixaram um terço do Paquistão submerso no verão passado ou, mais recentemente, do sismo na Turquia e na Síria e da devastação que se seguiu (bem como dos esforços das equipas de resgate) marcam instantaneamente quem as vê. Como funcionam os processos de decisão relativos a que imagens pôr ou não no ar? E nas redes sociais, como se decide o que publicar?
Pedro Miguel Coelho
«Obviamente que o jornalismo exige mediação e, portanto, temos de ter todos os cuidados com aquilo que estamos a partilhar em direto com os espectadores. Com profissionalismo, com atenção ao que estamos a fazer, porque quer estejamos nos locais ou a receber sinais de fora, temos sempre de ter cuidado com o que estamos a pôr no ar.» António José Teixeira explica ao Gerador que «há vários tipos de situações». Em geral, na RTP trabalham com material próprio e, como essas imagens são recolhidas com uma finalidade definida e com conhecimento das condições em que foram filmadas, são de gestão mais fácil, já que é possível «combinar todo o processo».
«Se há justificação para passar uma imagem, porque tem um valor de notícia que o justifique, mesmo que cheguemos à conclusão de que, comportando algum nível de violência ou algo sensível, a verdade que transporta não pode ser completamente aprendida sem a mostrar, talvez devido à gravidade do facto em si, nós passamo-la. Nessas situações, chamamos a atenção para a violência das imagens, ou para a possibilidade de ferirem a suscetibilidade dos espectadores.» As imagens que chegam de agências noticiosas requerem uma deliberação redobrada, e ainda mais as que chegam dos próprios telespectadores, já que precisam de ser verificadas. «Mas a regra é, obviamente, quando não há necessidade, evitar imagens violentas. E nunca exibimos imagens sensíveis só por serem sensíveis e poderem gerar grande audiência», sublinha.
António José Teixeira
Pedro Miguel Coelho descreve ao Gerador processos e lógicas semelhantes. Nas redes sociais do jornal Expresso, trabalham em duas frentes: há «uma equipa que faz conteúdos multimédia para o jornal, e que depois produz versões desses trabalhos, normalmente mais curtas ou pequenos teasers (que depois são trabalhados em formatos verticais no caso do Instagram e do TikTok, e em formatos horizontais no caso do Facebook, do LinkedIn e do Twitter), e aí o conteúdo já vem tratado e já tem o cunho editorial do Expresso». Depois, há o «conteúdo feito diretamente pela equipa das redes sociais, que produz conteúdo de informação específico e que tem por base, quer as imagens recolhidas pelos jornalistas, quer as imagens das agências, quer as imagens que os leitores nos fazem chegar – e claro que depois temos de fazer verificação dessas imagens».
A seleção do conteúdo em si é feita segundo o critério informativo, «o critério da pertinência noticiosa da atualidade». O objetivo é que tudo corresponda à linha editorial do Expresso, «respeitando os mesmos princípios e valores que as edições em papel e online do jornal». Isto para dizer que «nunca haverá utilização de imagens com violência gratuita ou exposição sensacionalista das emoções das pessoas – consideramos que não é assim que se deve fazer».

O ano que passou foi «muito desafiante», diz, «até porque o que por vezes para nós é uma imagem informativa, que ajuda a contar uma história e que achamos necessário publicar, para outras pessoas pode ser uma imagem mais violenta, ofensiva ou chocante». Aqui surgem as políticas de trigger warning típicas da web (declaração no início de qualquer tipo de conteúdo que alerta as pessoas para a possibilidade do mesmo as perturbar caso tenham passado por algo semelhante ao relatado, especificando o tipo de violência presente de forma a proteger de flashbacks pós-traumáticos), não diferentes dos avisos de imagens gráficas (ou com conteúdo sensível, ou violento, ou que pode ferir a suscetibilidade dos espectadores) dos canais noticiosos. Indica-se «no início de que se trata de uma publicação que pode perturbar os mais sensíveis, e essa regra aplica-se tanto a fotografias, com essa informação de texto adicional, como também a vídeos, com a introdução de um texto de aviso» a abrir o próprio vídeo.
O imediatismo também se aplica às redes sociais dos órgãos de comunicação social – e para alguns públicos, talvez se aplique ainda mais, dado ser o seu principal ponto de contacto com a realidade noticiosa –, mas Pedro Miguel Coelho sente que não existe tanta «pressão de ter de publicar logo imagens». «E, portanto, como não temos essa pressão, conseguimos, de algum modo, ter uma frieza que não é tão possível quando se está com uma emissão no ar e se tem de dar resposta e factos às pessoas em tempo real. É compreensível que os erros aconteçam, porque quando se lida com muitas imagens ao mesmo tempo, e durante muito tempo seguido, começa-se a desenvolver uma certa anestesia face ao que se vê, o choque já não é tão grande, e é natural que algum critério às vezes se perca», acrescenta.
Com ou sem pressão de transmissões em direto, os lapsos existem de qualquer forma. O coordenador das redes sociais do Expresso fala do desafio que é corrigir erros neste tipo de plataformas. «Quando há um erro, a publicação é rapidamente retirada, corrigida, e novamente publicada. Até porque se mantivéssemos uma publicação errada, iríamos permitir que ela se continuasse a multiplicar. Esse é um dos problemas das redes sociais: por mais correções que se faça, por exemplo, na descrição de uma publicação, se ela tiver uma informação que é factualmente errada na imagem ou no vídeo, as pessoas não partilham com a descrição quando partilham a publicação e, portanto, vai-se continuar a disseminar um facto incorreto ou parcialmente incorreto.»
Pedro Miguel Coelho
Estes são fenómenos dos nossos dias: «por um lado, a saturação, ou a indiferença que resulta dessa saturação, e, por outro, a ansiedade, no sentido em que tudo o que acontece em qualquer parte do mundo mexe connosco, e há sempre alguma coisa que está a acontecer numa qualquer parte do mundo» – ainda que, lembra, hajam «partes mais invisíveis do mundo», zonas que «não conseguem estar com a acuidade necessária na primeira linha da atualidade». É um duplo risco, diz. Há a necessidade de se estar sempre atento e transmitir «o que está a acontecer no ritmo em que está a acontecer», mas está-se sempre estar a contribuir um pouco mais para a saturação.
«Os canais de notícias estão sempre focados nalguma coisa. São 24 horas por dia a transmitir sempre algum acontecimento – quer seja a morte do Papa, o mundial de futebol, um grande desastre natural ou um atentado terrorista» – e, muitas vezes, estão todos a transmitir a mesma coisa. «Centram-se naquilo que está a acontecer, naquilo de que têm conhecimento e naquilo que acham ter um mínimo de relevância. Assim, é natural que se ligue a BBC, a France 24, a CNN, ou os canais portugueses, e todos eles estejam a falar do mesmo acontecimento» – isto acontece quando «há um denominador comum que o justifique», fazendo com que todas as equipas editoriais considerem necessário «partilhar, mostrar, comentar e valorizar» o acontecimento.
António José Teixeira
Ainda assim, o diretor de informação da RTP comenta que «o tempo médio de visionamento seguido de um canal de informação, em termos internacionais, não ultrapassará a meia hora. Isto para dizer que hoje a oferta é enorme. Em casa, temos para cima de 200 canais da televisão, e essa oferta vai do cinema, às séries, à informação, ao documentário, à cozinha, à caça, ao desporto. E, mesmo havendo consumidores inveterados de informação que até possam ver sete horas por dia seguidas, nem todos são assim. A ansiedade também é aquela que conseguimos ou não gerir. Depende onde os nossos interesses, a nossa vida, a nossa curiosidade, nos levam. Temos de saber temperar isto e podemos estar atentos ao que vai acontecendo, mas amparando com outros interesses.»
Mesmo que se encerrasse os canais de informação, seria necessário bloquear igualmente os telemóveis e a Internet, para que o acesso «permanente, continuado, destemperado, saturado, não fosse possível». Prefere «tentar desdramatizaria a questão», alertando, no entanto, que «a saturação produz a indiferença, e a indiferença é perigosa para as democracias, e o cansaço é perigoso para o jornalismo. Mas esse cansaço, se friamente analisarmos a situação, não tem necessariamente de existir. Até eu, que sou jornalista e agradeço a atenção que se dá ao trabalho jornalístico, aconselho ver outras coisas. Mesmo que até se espreite de hora a hora, tem de se intercalar isto com outros interesses».
Pode surgir aqui uma questão pertinente: como se encontra equilíbrio entre a missão de informar e a luta por captar a atenção de um público cansado e sem tempo? »Temos sempre de ter isso em conta», desenvolve Pedro Miguel Coelho, «porque, efetivamente, hoje existe da parte do público uma maior seleção daquilo que consome. Porque é que isso acontece? Porque há uma overdose total de estímulos, não é? Temos informação a aparecer por todo o lado a todo o momento e, portanto, as pessoas só vão perder o seu tempo com o que lhes acrescente alguma coisa. E o conteúdo que acrescente vai sempre fazer a diferença, porque as pessoas, independentemente de poderem estar mais ou menos ligadas à atualidade, continuam a querer saber o que se passa e a gostar de boas histórias. E disso é que não nos podemos esquecer: as boas histórias continuam a ter espaço. Até porque aquilo que queremos é que a nossa publicação – neste caso, o Expresso, e também as redes sociais do Expresso – seja útil e informativa para quem segue».
Ainda assim, sabemos que há órgãos de comunicação que seguem abordagens mais sensacionalistas. As imagens gráficas são um bom exemplo, dado serem típicas do jornalismo que adota essas opções. «Sei que isso acontece, é uma observação que todos notamos com facilidade, conhecemos todos que tipo de assuntos podem motivar mais o chamar espectadores, e que, por vezes, se segue caminhos porventura mais eficazes no ponto de vista da audiência… Isso aplica-se a tudo, nem é preciso falar de violência, nem de imagens chocantes, mas podemos falar de temáticas mais ou menos apelativas – as escolhas não são indiferentes aos efeitos que se quer provocar», nota António José Teixeira. «A RTP obviamente tem especiais obrigações», mas lembra que trabalhou em diversos meios ao longo da carreira e, «sem querer ser politicamente correto, quero acreditar que o jornalismo, independentemente de ser exercido num serviço público ou em meios privados, sejam jornais ou televisões, tem sempre – ou deve ter sempre – a mesma exigência. Obviamente, com caminhos, ângulos e perspetivas diferentes, mas há regras básicas que devemos ter, independentemente de onde estamos, e acredito que os meus colegas de profissão também as sigam noutros órgãos de comunicação, sejam eles quais for.»
Pedro Miguel Coelho


Os efeitos da exposição à violência manifestam-se em qualquer pessoa, especialmente quando vivemos num paradigma social que inclui ciclos noticiosos de 24 horas e a possibilidade de partilha instantânea com milhões de pessoas através das redes sociais. Os jornalistas que lidam diariamente com conteúdos traumáticos (especialmente com a democratização da partilha de conteúdos, que permite a testemunhas e sobreviventes mostrarem ao mundo o que vivenciaram) sentem ainda mais esses efeitos do que cidadãos comuns. Há diversos estudos feitos sobre o assunto, bem como guias com conselhos práticos – na Columbia Journalism Review, no European Digital Media Observatory, no The Journalist’s Resource, no Dart Center for Journalism and Trauma, na Eyewitness Media Hub, na SAGE Journals, na Headlines Network, apenas para referência –, tanto para proteger os próprios trabalhadores da informação como para proteger os públicos. Um desses guias tem coautoria de Sam Dubberley (da Human Rights Watch, da Amnistia Internacional e cofundador da Eyewitness Media Hub), que explica o que é o trauma vicariante e fornece indicações específicas para jornalistas em diversos pontos da carreira, bem como para diversos outros profissionais que desempenham papéis essenciais nos órgãos de comunicação social.
Os últimos anos afetaram bastante os jornalistas – «somos pessoas como todas as outras», brinca António José Teixeira. «Têm sido anos muito difíceis, muito pesados»; tiveram de continuar a trabalhar normalmente – dentro do possível, até porque «foi preciso encontrar soluções» para tudo –, nunca abdicando de «estar na linha da frente». Como estão muitas vezes «nas zonas mais difíceis», «apesar de ser pressuposto o distanciamento e o não envolvimento» necessários ao jornalismo, «há sempre um ambiente que paira». E, quando se pensava que «começaríamos a respirar um bocadinho, que a sociedade estaria a começar a recuperar tempo perdido em várias áreas, surgiu a guerra, e voltamos a ter esse pesadelo. E é só mais uma a acrescentar ao conjunto de crises em que o mundo vive mergulhado, infelizmente».