Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


«A culpa de sermos subordinados não está nas nossas estrelas, mas em nós próprios», diz Cássio a Bruto em Júlio César. César, ambicioso e com o apoio do Senado, aproxima-se do poder absoluto de forma vertiginosa, levando um grupo de senadores – entre eles Cássio e Bruto – a planear o seu assassinato. Para que a democracia seja salva, César deve morrer. Mas quando o sangue é derramado e a poeira assenta depois de uma brutal guerra civil, a ditadura triunfa sobre a democracia de qualquer das formas.
A peça de William Shakespeare parece mais relevante hoje do que nunca. Numa altura em que a social-democracia se confronta com a ameaça da extrema-direita entre uma rajada de crises financeiras, sociais e económicas, e o autoritarismo volta a ganhar força e a incentivar a guerra, o ódio e a censura, as palavras de Cássio ecoam à distância. Uma peça com mais de 400 anos – que era já na sua altura um grito contra o absolutismo – consegue representar a natureza humana e política de uma forma que ainda nos é relevante hoje.
É por entre essa essência da liberdade e a consciência do zeitgeist da época que procuramos no teatro contemporâneo uma espécie de grito de Cássio, que nos diga: «Não queremos ser subordinados!» O teatro é, hoje como dantes, um palco de disputa e debate da política e da sociedade, com o poder de nos confrontar não só com a realidade, mas também com a ficção. É porventura a esse teatro que chamamos ‘teatro político’, mas até essa definição é um campo de batalha que vai desde o «todo o teatro é político» até ao «teatro panfletário».
O dramaturgo e professor da Escola Superior de Teatro e Cinema Armando Rosa propõe uma clarificação. Através da etimologia da palavra, é possível definir o teatro inerentemente como arte pública. «Uma arte da pólis», a definição mais ampla de política. Refere, apesar disso, uma corrente do século xx, com referências como Piscator e Brecht, cujo objetivo era «provocar uma experiência crítica, ao invés de uma experiência só emocional.»
Mas mesmo dentro desta tradição, as opiniões divergem. Algum teatro é rotulado de panfletário, outro de anacrónico. Para algumas pessoas, o teatro político tem de ser um teatro da realidade, para outras o mais importante é que o teatro seja político na sua forma. Enquanto há quem defenda que o teatro está intimamente ligado à democracia e à liberdade, há quem o veja como um instrumento que pode ser cooptado por qualquer sistema.
Por entre um mar de contradições e diversas práticas teatrais, encontrámo-nos no Café-Teatro da Comuna, em Lisboa. Uma sala carregada de história, onde conversámos com João Mota, fundador da Comuna – Teatro de Pesquisa. Ator e encenador, João começou a fazer teatro quando era criança, nos programas da Emissora Nacional. «Estive no Teatro Nacional desde os 15 anos», diz-nos. Eram tempos difíceis para os artistas. Portugal vivia uma ditadura há mais de vinte anos e a censura tinha até o poder de cancelar o espetáculo na noite da estreia.

Foram muitos os artistas cuja prática foi atacada durante o Estado Novo, quer pela natureza das suas obras, quer pela sua capacidade de fomentar o espírito crítico e dissidente. Foi o caso da Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica organizada por Natália Correia. O lápis azul deixou a sua marca em centenas de poemas, canções, romances e peças de teatro, forçando os criadores a censurarem-se previamente para que as suas obras pudessem ser expostas ou publicadas. No teatro, curiosamente, eram mais vezes censuradas as encenações do que os textos, porque a censura presumia que, num país profundamente analfabeto, só uma elite intelectual teria acesso aos textos através da leitura.
João foi um dos primeiros da sua geração a contactar com o circuito internacional de produção teatral. Partiu ainda antes do 25 de Abril para o estrangeiro, onde viveu uma experiência diametralmente oposta àquela que se vivia em Portugal. À mesa do Café-Teatro, fala-nos da sua experiência a trabalhar com Peter Brook na Pérsia, onde aprendeu a tornar o invisível em visível através de diversos exercícios de interpretação. Explicou-nos a dimensão da alteridade no trabalho que tinham desenvolvido em conjunto, a ideia d’O Outro, de que «tenho de perceber O Outro para me descobrir a mim». É uma ideia que está submersa em significado político, que é empatia, solidariedade, compreensão e comunidade.
Embora a Comuna tenha sido criada ainda em ditadura, a larga maioria da sua experiência foi tida já em democracia. Talvez por isso João tenha uma ideia do teatro que está muito ligada à comunidade. Mas para que a comunidade possa existir, é preciso que o indivíduo seja livre. É esse também o papel do teatro para João. Ressalta a lição mais importante que trouxe do trabalho com Brook, que o acompanhou ao longo de toda a sua trajetória artística. «A primeira coisa que o Peter Brook nos pediu foi para cada um não perder a sua individualidade. Cada um que se imponha como é verdadeiramente.»
Trabalhar no pós-25 de Abril, período de transição política e também de transição da perceção e formação dos artistas na sociedade portuguesa é uma experiência com dimensões conhecidas somente por quem a viveu. E uma dessas pessoas é Mário Moutinho que, numa manhã de domingo, nos leva ao Museu das Marionetas do Porto. Entramos por uma porta adjacente, onde acontecem os espetáculos de marionetas, e lá nos preparamos para o entrevistar.
Mário Moutinho é ator, produtor e programador, já participou em mais de sessenta produções teatrais ao longo da sua vida. Talvez seja mais conhecido por interpretar Marcial Andrade n’Os Andrades,, mas tem-se dedicado também ao estudo da trajetória dos movimentos artísticos no Porto, e em especial do teatro semiprofissional.
No espaço que lhe diz tanto, fala-nos do pós-25 de Abril e da explosão de atividade teatral que houve: em grupos amadores, bairros residenciais, comissões de moradores e mesmo nos grupos que já faziam teatro. No Porto, cidade que conhece como a palma da sua mão, refere que surgiram dezenas de grupos, principalmente em Matosinhos, mas também em Gondomar. Mário lembra-se desse teatro como «muito panfletário». Era o «teatro mais politicamente ativo», que, para ele, se encontrava «mais próximo do comício do que de qualquer contexto dramatúrgico da cena», explica.
Depois deste entusiasmo inicial, os grupos começaram a querer profissionalizar-se, a formar os seus atores e recrutar os melhores quadros dos grupos amadores, fragilizando grupos que já existiam. O TAI – Teatro Amador de Intervenção – do qual Mário foi fundador – também tinha esta necessidade de formação. A maior parte dos atores que trabalhava com ele não o eram de formação. «Tinham desde um operário fabril até um médico.» De uma sensibilidade mais interessada no Teatro da Marioneta surgiu o grupo que fundou o Teatro onde nos encontramos a ter esta conversa, dedicado a «dignificar o teatro da marioneta».
A «dignificação» tem sido um dos motes da intervenção que Mário desempenhou ao longo da sua vida. Fez teatro infantil e refere que também houve uma evolução artística neste sentido muito despoletada pelos encenadores João Mota, João Brites e José Caldas que, segundo ele, deixaram de tratar as crianças como «débeis mentais», mas sim como «seres inteligentes». Quiseram abolir a categoria de «teatro infantil», substituindo-a por «teatro para a infância e a juventude», como a apelidava Stanislavski.
Para qualquer estudioso do campo é incontornável o impacto que a ditadura teve para a abertura do teatro, tanto nos temas como nas suas formas. Mário explica-nos que o Teatro de Revista foi um dos géneros que conseguiu resistir à censura pelo seu caráter improvisativo, mas que muitas estratégias foram desenvolvidas para escapar ao lápis azul: havia atores que faziam pausas e punham as vírgulas fora do sítio ou diziam muito depressa o texto. Desvenda-nos a dificuldade que tem em explicar a mudança social à nossa geração porque o pior não era a atividade censória exclusivamente, mas a moral conservadora que reinava na sociedade. Certos temas, como a homossexualidade, nunca podiam ser representados explicitamente, mesmo quando estavam indicados nos textos clássicos. «Caso isso fosse feito, cortavam a cena.»
Por causa do contexto deste combate das moralidades, Mário diz-nos que todo o teatro é político. «O teatro político está atento ao que se passa na sociedade», e portanto, se o teatro escolhe perpetuar um contexto de opressão ou reproduzir padrões hierárquicos, isso também é uma escolha política. «Todo o teatro é político, porque o teatro é a vida.»
Em contraste, o fundador d’A Comuna recusa-se a especificar um teatro que é ‘político’, apesar de ter vivido a ditadura e a transição para a democracia. Não deixa, no entanto, de lado a importância comunitária e pedagógica que considera imanente à prática no teatro. Relembra-nos, insistentemente, ao desviar para tangentes sobre o estado da educação e o respeito às regras dos pedestres que «tudo isto é teatro». É o mais próximo a que chegamos de uma resposta, mas João já nos tinha avisado que fala «em enigmas».

No café O Real, em Benfica, sentamo-nos à conversa com Anabela, Elisabete e Cátia. As três fazem Teatro do Oprimido, um género de teatro que teve origem no Brasil pela mão de Augusto Boal, e que tem por base a ideia de que os próprios oprimidos são capazes de criar, de produzir e de eles próprios transformarem o mundo através do combate às suas opressões. Para a Anabela, «a pedagogia é uma práxis, é uma forma de estar na vida».
Todo o espetáculo é preparado pelas pessoas, o guião é construído em conjunto, e o público não é só o público. «Não é teatro convencional», explica-nos Anabela – ou Belinha, como é mais conhecida –, «a ideia não é chegar e agora vamos fazer teatro. A ideia é: há uma necessidade». Belinha é a ‘coringa’ de vários grupos de Teatro do Oprimido na Grande Lisboa, o que quer dizer que é ela que faz a mediação entre o público e os atores em palco. Existem vários estilos dentro do Teatro do Oprimido que promovem discussões diferentes. No teatro-legislativo, por exemplo, os espectadores têm a oportunidade de fazer propostas de leis para responder à situação exposta. Já no teatro-jornal, os atores interagem com as notícias da atualidade para pôr em cena o que fica nas entrelinhas. No teatro-fórum, Belinha entra em cena no final da performance e fala com os espectadores sobre o problema social que foi exposto. A ideia é que os próprios espectadores – ou ‘espetactores’ – entrem em palco e se ponham no lugar do oprimido para tentar contornar o problema posto em cena.
E o palco do Teatro do Oprimido também não é o habitual. Fora da dinâmica do palco-plateia, os espetáculos de Teatro do Oprimido são levados à cena em associações locais, assembleias de moradores e de bairros, centros de dia ou escolas, e normalmente tocam em temas próximos de quem o faz. É o caso do espetáculo Sonhos de Papel, sobre a lei da nacionalidade, que estas atrizes puseram em cena para discutir quem tem o direito a ser português. Geralmente são temas próximos dos dois, segundo Anabela, principais grupos de Lisboa: os DRK da Cova da Moura e os ValArte da Moita, e isso é um traço fundamental deste estilo. Aliás, Julian Boal, um dos mais conhecidos dinamizadores de teatro do oprimido a nível internacional, vê o teatro político como um teatro que está inserido nos movimentos sociais, e é isso que Anabela, Elisabete e Cátia fazem.
O caráter político do Teatro do Oprimido está precisamente na sua função interventiva. «O seu objetivo não é entreter, o seu objetivo principal é transformar», explica-nos Belinha. «O que entendemos como um problema de um não é só da Cátia ou da Belinha. Elas podem ter este problema, mas sabemos que há milhares de Cátias neste país». Uma das ideias mais fortes do Teatro do Oprimido, que é partilhada com a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, é a ideia de trazer o conflito para cima, viabilizar o conflito e pôr as pessoas a falar sobre ele.
Mas Belinha deixa-nos um aviso sobre o teatro político. «Em Portugal, nós temos medo desta palavra ‘político’. O teatro é considerado uma arte, está numa secção completamente à parte e a política está noutra secção completamente à parte». Por um lado, talvez seja pela vontade de contrariar esta situação e de tomar uma posição política, que as três nos dizem ser fundamental no Teatro do Oprimido. Afinal, quando dizemos que todo o teatro é político, não quer dizer que todo o teatro tome uma posição. «Se perguntarmos a alguém que faz teatro profissional, ele vai dizer que faz política todos os dias, mas o teatro político que nós entendemos é aquele que está especificamente batido: ‘ah, isto é teatro político’.»
Também em Lisboa, na Culturgest, encontramo-nos com André Amálio e Tereza Havlíčková, da companhia Hotel Europa, dois artistas que partilharam a mesma convicção política relativamente à sua prática artística. O seu teatro é declaradamente político. «Portugal não é um país pequeno», «Passaporte», «Libertação», «Amores de Leste» são os nomes de algumas das suas peças, que têm abordado questões relativamente ao período histórico contemporâneo português, como o fascismo e a luta anticolonial. São temas que têm vindo a explorar desde que se conheceram, quando estavam a realizar em simultâneo o mestrado de Performance Making na Goldsmith University, em Londres.
Vieram de contextos bastante diferentes: Tereza tinha tido uma formação focada predominantemente na dança e no movimento e André no teatro; Tereza é checa e André é português. No espetáculo «Amores do Leste» colocam este contraste de vivências em cena: enquanto André descreveu o seu fascínio jovem com a leitura d’O Capital de Marx, Tereza conta o terror provocado pelo regime comunista da Checoslováquia. Não têm fugido de deixar as suas opiniões pessoais impressas no palco, os criadores chegam mesmo a definir o trabalho que fazem como statement [declaração] ostensivamente político.

Esta exposição irreverente é exponenciada porque fazem um teatro com um formato ao qual as pessoas não estão geralmente acostumadas. «As pessoas estão sempre à espera de ver um teatro de personagens» e a companhia Hotel Europa tem optado por uma fusão entre teatro, dança e música ao vivo, assumindo uma estética multidisciplinar. Tanto Tereza como André se encantaram com o meio do teatro documental, que rejeita a ficção, coloca em cena a realidade e assume a sua função política ao fazer um teatro que seja «capaz de mudar as pessoas».
André sempre teve essa motivação durante os seus estudos embora isso lhe tivesse sido rejeitado antes de estudar no estrangeiro. Explicou-nos que não queria «pegar num texto, uma grande peça da literatura dramática e colocá-la em cena, um estudo das personagens», mas estava mais interessado em pesquisar formas mais contemporâneas. Tropeçou no teatro documental, sem saber o que o estava a fazer até ao momento em que entendeu que se estava a juntar a uma tradição longa e dinâmica de criadores e sensibilidades estéticas.
O contacto com o estrangeiro e as perguntas dos colegas em Londres – entre os quais a sua futura esposa e cofundadora da companhia que ambos integram atualmente – sobre a história contemporânea de Portugal, fizeram André refletir sobre os tabus existentes na sociedade, impelindo-o a focar bastante tempo da sua pesquisa académica sobre a questão do colonialismo.
Tereza e André concordam com a afirmação de que Portugal demorou bastante tempo a enfrentar a questão colonial, apesar de esta ser tão marcante da sua história. Acham que ainda é recente o surgimento de contranarrativas que enfrentam o lusotropicalismo dominante. E já o viveram na pele, com a perturbação dos espectadores em determinados espetáculos seus, acusando a companhia de exagerar e deturpar a história do país. É uma problemática em desenvolvimento. Numa rádio na Eslováquia, por exemplo, o apresentador perguntou-lhes «porquê é que os portugueses demoraram tanto tempo» a falar sobre o assunto. É aí que entra a companhia Hotel Europa, irrompendo pelos palcos com o teatro documental pós-colonial para contar o outro lado da história. Se estão a conseguir? «Estamos a conseguir,, apesar de estar aí o CHEGA e a extrema-direita a bombar».
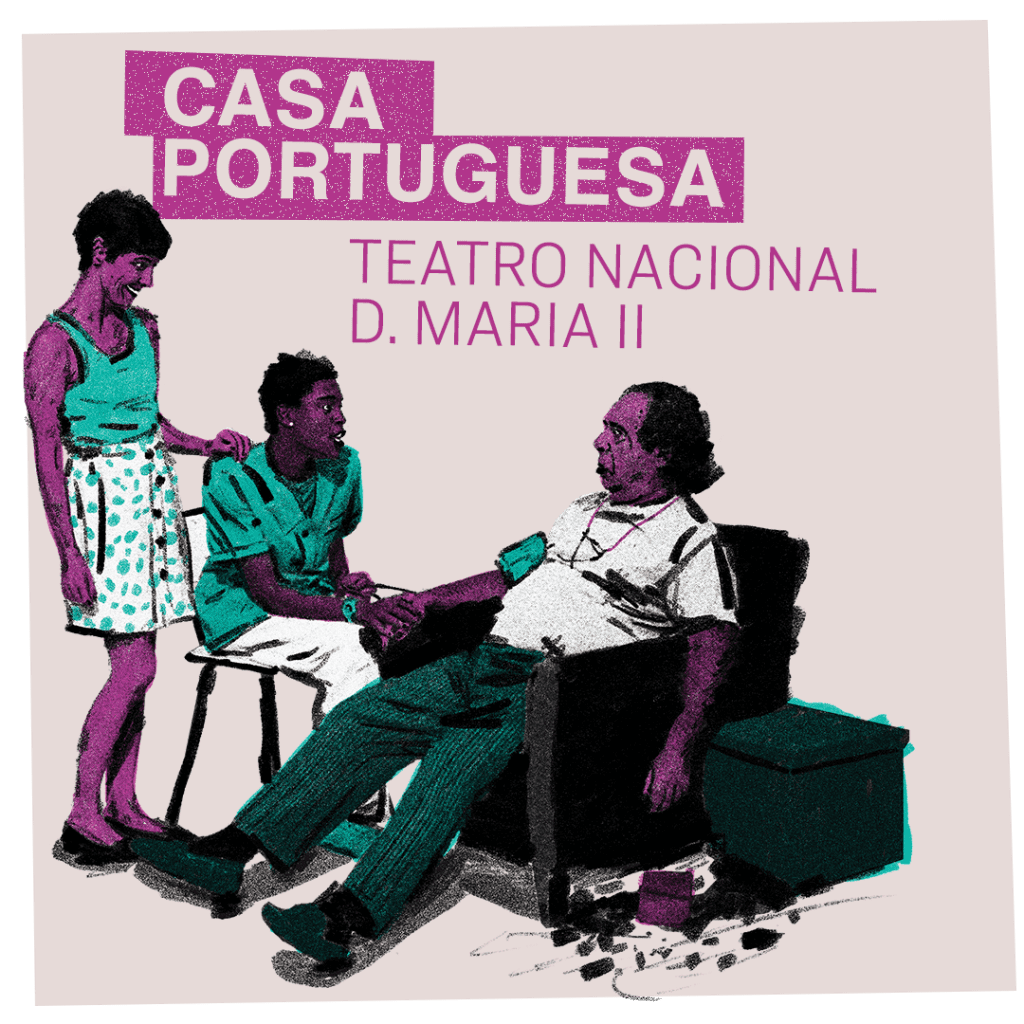
O tema do colonialismo português tem sido encenado recentemente por outras figuras do teatro contemporâneo em Portugal. Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, também escolheu a guerra colonial e o luso-tropicalismo, ao lado de outros temas como o feminismo e a vivência queer, no espetáculo Casa Portuguesa. Foi um espetáculo que deu que falar e que esteve em cena de Setembro a Outubro de 2022, fazendo agora parte da Odisseia do Teatro Nacional D. Maria II, numa programação que descentralizará a programação da instituição durante os próximos meses. Pedro justifica a abordagem destes temas no palco nacional. Diz-nos que o Teatro Nacional «é uma casa com os olhos muito projetados no futuro» e que «o teatro é quase sempre esse exercício de previsão do futuro».
O encenador e dramaturgo assume que faz um teatro altamente politizado, mas não assume que toda a arte tem de ser politizada. «A arte é diferente da justiça social. A arte deve ser superior a quaisquer leis e a quaisquer ideias prefeitas do que é a sociedade». Pedro foi a única das pessoas que entrevistámos a falar de justiça social, e discutiu connosco a negociação do teatro político. Explicou-nos que uma coisa é debater, apresentar uma forma de olhar para a política e para os problemas. «Muitas vezes funciona como um ágora, onde os temas que se discutem podem ser e devem ser os próprios temas que se discutem na sociedade.» E outra coisa é apresentar uma solução, um ângulo específico para olhar para o que acontece e como resolver.
Ao contrário de João Mota, Pedro Penim vê muita ambiguidade na qualidade política do teatro. Vê o teatro como se este fosse uma arte com muito potencial de instrumentalização, tanto como um instrumento de resistência, como de diálogo ou de opressão e nem sempre é um gesto de democracia. «Consigo imaginar um teatro bastante antidemocrático. Ele pode sê-lo e já o foi», explica, dando um exemplo que lhe é próximo. «O Teatro Nacional D. Maria II foi, durante muito tempo, veículo da ditadura que se vivia em Portugal». E nem na própria atividade se escapa necessariamente a um autoritarismo. Penim diz-nos que o teatro enquanto prática não é só liberdade, há práticas teatrais que são mais rígidas e encenadores que querem que os atores sejam meros veículos para a sua vontade.
Quando o confrontamos sobre o que é o teatro político, refugiou-se na Grécia Antiga. «O teatro na Grécia Antiga servia para normalizar a sociedade, logo tinha uma ação política muito direta.» E o teatro político reflete-se, portanto, na tentativa de ter um efeito na sociedade. Mas também há uma relação com o poder. «Já há essa vontade de exercer poder, influência sobre a sociedade. A arte dizer: a sociedade comporta-se de uma maneira e devia comportar-se de outra».
«É um campo muito armadilhado», comenta. «É preciso estar muito informado e perceber muito bem que assunto estamos a mexer». Na Casa Portuguesa, por exemplo, «a cada frase, a cada palavra que escrevia precisava para mim próprio desse policiamento. Porque fazer ativismo e fazer arte são duas coisas muito diferentes, muitas vezes elas juntam-se no mesmo projeto, mas é preciso cuidar muito do que é essa proposta».
No Teatro Nacional D. Maria II, vê um papel de vanguarda, que pode ser para alguns um espelho do que é a sociedade portuguesa, mas também pode ser um farol. «Porque as pessoas olham para o teatro como uma espécie de ponto de apoio, de conforto, de saber que há ali uma instituição que já tem tanto tempo e com a qual podem contar». O lugar dos criadores e dos espectadores é muito importante para Penim, aliás, é uma abordagem que leva também para o debate do teatro político. «Não podemos controlar nem prever o que as pessoas acham do nosso trabalho.» «Prefiro que essa discussão fique do lado de quem vê.»
De Lisboa partimos para Paredes de Coura, no Alto Minho, para conhecer Magda Henriques, que há seis anos é a diretora artísticas das Comédias do Minho, um projeto cultural que está perto de fazer vinte anos. Começou em 2003 quando os municípios de Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de Coura se juntaram para criar uma companhia de teatro profissional que pudesse levar o teatro às aldeias.
Magda avisou-nos logo que o conteúdo trabalhado pelas Comédias não era político. Disse-nos: «não fazemos teatro político, fazemos teatro politicamente», e esse modo de ver despertou-nos imensa curiosidade. Antes da conversa, esperávamos ter uma conversa sobre públicos e temas fora dos grandes centros urbanos, mas Magda colocou-nos a questão de forma simples. «Tenho dificuldade em falar dos grandes centros urbanos. Cada cidade é composta de muitas cidades.» As pessoas que acompanham as Comédias são muito diferentes e Magda rejeita a distinção de um público conservador em Paredes de Coura que contrastaria com um público progressista em Lisboa ou no Porto. «Eu sei onde ir em Lisboa para ver espetáculos mais progressistas, mas também sei onde ir para ver espetáculos conservadores», explica, rematando, «prefiro falar de pessoas do que de públicos».

As Comédias do Minho inauguraram em 2007 um projeto pedagógico e um projeto comunitário. Foi mais um passo num processo de «democratização da cultura, mas também da democracia cultural». O primeiro é pensado especialmente – mas não só – para os mais novos, com criações próprias, espetáculos construídos a partir da realidade das pessoas que ali vivem e trabalho que se desenvolve com uma rede de colaboradores e dinamizadores culturais locais. O segundo concretiza-se de diferentes formas. Por exemplo, através do trabalho feito com cada um dos cinco grupos de teatro amadores que as Comédias apoiam e desenvolvem, mas também através da criação de espetáculos com a partilha de conhecimento e das memórias de pessoas que vivem naqueles concelhos.
«Naqueles concelhos», porque a Magda não é adequado falar no ‘interior’. «O que é o interior? Quando estamos a falar do interior, estamos a falar de um desinvestimento em territórios.» ‘Minho’ também não é um termo 100 % correto, porque o Minho é muito maior que aqueles cinco concelhos. É normal que nem sempre as plateias sejam muito numerosas nos seus espetáculos, mas isso não tem qualquer importância para as Comédias. Estamos a trabalhar para que as pessoas possam usufruir. Um dia um amigo disse-me: «Olha, estavam 250 pessoas naquela junta de freguesia» e eu perguntei: «Oh! Então?». Ele disse: «Sim, Magda, tens de multiplicar por dez, porque estes cinco municípios têm juntos cerca de 60 000 pessoas.» Lisboa e Porto têm números incomparáveis. Dez vezes mais, no mínimo. Estamos a falar de cinco municípios.
Magda explica-nos logo a diferença entre arte comunitária e arte participativa. A arte comunitária é construída de raiz por artistas profissionais e não-profissionais, enquanto a arte participativa centra-se só na participação da comunidade no espetáculo em vez de na sua criação. As Comédias fazem teatro comunitário, mas há alguns desafios. A instrumentalização, «acho absolutamente pavoroso», avisa-nos. «Ou seja, se o desejo imenso é de facto de criar um ambiente para que mais vozes sejam escutadas, nós sabemos que as fronteiras são ténues entre essas intenções, que são muito dignas e importantes, com outras possibilidades que nós não dominamos.»
A preocupação com a possível instrumentalização das histórias e experiências de vida tinha sido também uma questão trazida por Pedro Penim. Onde está o limite, então? Magda esclarece: «Não é dar voz, que ninguém dá voz a ninguém. É que se criem contextos para que mais vozes sejam escutadas.»
É muito importante para Magda esta participação coletiva e o ampliar da diversidade. «A consciência da diversidade que eu tinha há vinte anos não é a mesma que tenho hoje. Felizmente a minha noção de diversidade é muito maior hoje e espero que seja muito maior daqui a vinte anos», diz-nos. É o que significa a linha do horizonte para as Comédias do Minho. Caminhar no sentido da diversidade de vozes poderem ser escutadas. «Ainda não inclui todas, mas é esse o caminho.»
As Comédias estão para além de alguém em particular. É tudo sobre a criação de laços de confiança muito fortes e de um trabalho em conjunto. Mas Magda não se retém de fazer alguns comentários sobre um teatro mais político. Interessa-lhe pouco a arte panfletária, «mas a arte política não é isso». Aponta claramente: «Se eu pensar que política é tudo o que respeita à sociedade e que tudo o que decidimos fazer ou não fazer influencia o que fazemos juntos, aquilo que fazemos é absolutamente teatro político.»
Sara Barros Leitão, atriz e encenadora, também tem uma visão própria do mundo, que normalmente a acompanha nos espetáculos que produz através da Cassandra, estrutura que criou em 2020 para conseguir fazer circular os seus espetáculos e poder pagar decentemente às pessoas com quem trabalha. Em Monólogo de Uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa, tentou viabilizar o trabalho e as trabalhadoras domésticas, mas não foi a primeira vez em que se expressou uma dimensão feminista no seu trabalho.

Falámos com a Sara enquanto estava a fazer mudanças da Cassandra para um novo espaço, porque o primeiro espaço tinha sofrido danos com as cheias no Porto. Enquanto mudávamos de espaço, também nós contagiados pela azáfama, ajudou-nos simpaticamente a preparar o enquadramento da entrevista em vídeo antes de nos sentarmos para falar sobre teatro político, precariedade e a história do teatro em Portugal.
Sobre a relação da sua visão do mundo com o trabalho que faz, Sara reclama a liberdade absoluta para o teatro. «São duas coisas que caminham lado a lado, que são diferentes, que às vezes se tocam – e ainda bem. Mas é muito importante para mim não exigir que elas se toquem», diz-nos. Acontece que muitas vezes o seu trabalho é próximo das suas inquietações com o mundo, mas é-lhe importante que o teatro possa ser completamente livre. «Espero um dia poder escrever qualquer tema que me interesse e que ele tenha validade e tenha interesse para os outros tal como tem para mim. E que não esperem de mim sempre a mesma agência.»
É mesmo importante para Sara que o teatro possa ser diverso e autónomo. «O teatro pode tudo e não pode nada», diz-nos. «Quando começamos a tentar colocar agendas temáticas naquilo que o teatro pode ou não fazer, deve ou não fazer, acho que entramos numa zona muito perigosa. Porque enquanto ela nos servir está tudo bem e adoramos. Adoramos teatro político enquanto aquela política for a que nos serve.»
Entre a liberdade de o teatro ser e a forma como é feito, Sara coloca o político. Afinal, a forma como o teatro é encenado pode esvaziar a dramaturgia ou embuti-la de significado. «Fazer um espetáculo d’A Morte de Danton, que claramente é teatro político, e fazê-lo precarizando todos os atores que estão ali. A forma de produção esvazia todo o conteúdo da peça», explica. Sabemos que a precariedade na cultura é um tema que lhe é próximo, e é ela própria que o diz: «Eu sou artista, mas também sou operária da cultura. E também sou patroa, no sentido em que contrato pessoas.»
É uma luta que trava há muito tempo, e na qual elogia o estatuto do trabalhador da cultura e a rede de cineteatros que está a ser implementada. Mas há coisas por resolver. Por exemplo, os trabalhadores da cultura têm dificuldade em ver-se como trabalhadores. «Somos os primeiros a precarizar-nos a nós próprios», confessa. É como se houvesse uma apologia da precarização e a isto se aliam políticas culturais insuficientes. Vem-nos à memória a exclusão da Seiva Trupe à concessão do Apoio Sustentado da DGArtes, que fez com que uma companhia com quase cinquenta anos de história suspendesse atividade.
Engane-se quem acha que a precariedade no trabalho da cultura não está ligada ao conteúdo político do teatro. Encenar uma peça de Brecht hoje, por exemplo, é raro. «Não porque as pessoas não gostem de Brecht, mas é impensável porque Brecht tem dezassete personagens em cena, tem música, tem coros. Fazer aquilo hoje em dia é preciso ter capacidade financeira», lamenta Sara. A precariedade limita o que pode ser feito e determina o formato das histórias. «Hoje a moda é fazer teatro sobre nós próprios, fazer de nós personagens e pôr-nos no centro», e isso enfraquece personagens coletivas e é também causado pela precariedade. «Não tendo recursos para pagar a uma equipa de vinte e tal pessoas, o que consegues fazer com vinte e tal mil euros é falar sobre o que tu já conheces, que és tu própria.»
Apontando que o teatro não está sozinho no mundo, e que portanto o teatro político não está isolado da realidade, Sara tem dificuldade em dizer que todo o teatro é político. «Dizer que todo o teatro é político é esvaziar a política.» O teatro pode ser político pelo lado afetivo, porque falar do amor, da relação com o outro, pode ser político, mas há um teatro que é mais concretamente político e isso deve ser protegido. «Acho que a palavra política e teatro político é preciso reservar ainda sobre aquilo que é político e o que é o teatro político.»
Há um teatro político que expõe flagrantemente a sua vontade de intervir na sociedade, como bisturi da realidade e com uma determinação política muito explícita. Mas também há um teatro político que encontra o seu potencial na prática multiplicadora da liberdade de se significar e ressignificar, recusando responder obedientemente às categorias a que o queiramos atrelar. Se o teatro pedagógico ou comunitário, feito numa assembleia de bairro ou no teatro nacional D. Maria II, em Lisboa ou no Minho é político, é político porque alguém o quer assim, alguém o faz assim e alguém o vê assim.
As dificuldades que o setor enfrenta não nos passaram despercebidas: o subfinanciamento crónico, a necessidade de conquista de públicos, a desvalorização da cultura. Felizmente, há sempre alguém que resiste, que sub-repticiamente constrói em terreno difícil enquanto outros tentam destruir. Que queira contar histórias que lhes sejam importantes, e que ajudem a pensar a sociedade aberta.
Armando Rosa disse-nos que, pela sua dimensão comunitária, o teatro se apresenta naturalmente como uma ameaça para os regimes totalitários: «ainda hoje, há sociedades autocráticas em que a encenação da Antígona pode ser proibida». Apesar disso, é notório que no teatro contemporâneo português exista «uma linha divisória entre o antes e o depois do 25 de Abril», com a vivência de uma espécie de catarse coletiva após 1974.
Hoje, o teatro declina-se na pluralidade e há cada vez mais visões críticas e criativas no fortalecimento de uma das ferramentas inevitáveis para a experiência da democracia. Isso só pode ser um ponto forte. Que haja conceções diferentes, que pessoas pensem o teatro político de forma diferente, que discordem, e que se façam ouvir, é isso que significa encenar a liberdade.


