Acesso Rápido
Jornalismo
Temas
Formatos
Programas
Conteúdos
Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

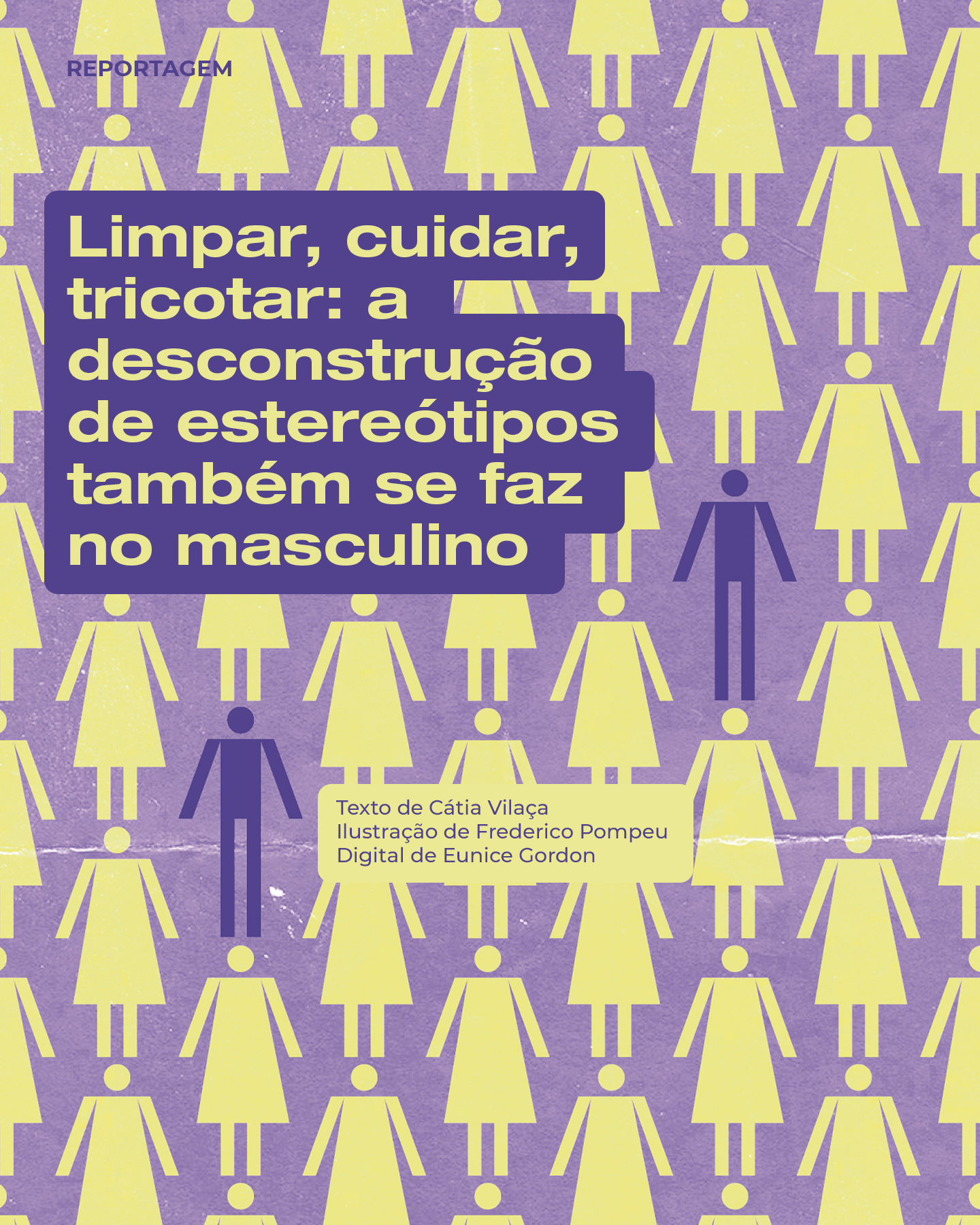
Quando Pedro Nunes da Silva concluiu o curso, entregaram-lhe um diploma que dizia «Educadora de Infância». Só depois da publicação da Lei-Quadro de 1977, que cria o sistema público de educação pré-escolar, é que surgem as escolas normais de educadores de infância (ENEI). Até aí, a legislação relativa ao sistema educativo, incluindo a Lei 5/73, surgida da Reforma Veiga Simão, referia-se a educadoras. Pedro Nunes da Silva apanhou a transição.
A história é recordada por Luís Ribeiro, 59 anos, também ele educador e presidente da Associação dos Profissionais de Educação de Infância (APEI). Formado em 1985, pouco depois do colega Pedro, Luís é dos primeiros homens a enveredar pela profissão em Portugal. O educador não se queixa de preconceitos, quer no acesso à formação, quer, depois, no exercício da profissão. Ainda assim, conta que as mães se preocupavam, fundamentalmente, em saber se era gay, um receio que enquadra nos preconceitos da época: «Portugal, antes dos anos 90, era outro mundo, e isso [ser gay] era uma coisa que contaminava completamente qualquer hipótese de eu poder exercer a profissão», declara. As progenitoras preocupavam-se igualmente em perceber o teor da relação do educador com os seus filhos: «Não era propriamente um papel atribuído ao homem, andar a brincar com as crianças e estar com crianças pequenas, portanto elas [tentavam] perceber qual era a relação, e como as coisas funcionavam muito bem, [o receio] também desaparecia», explica.
O percurso profissional de Luís Ribeiro fez-se exclusivamente na rede pública, o que significa que o acesso à profissão não pode ter restrições de género ou qualquer outro tipo de discriminação. Já no setor privado e no social, a situação pode ser diferente: «Eu conheci – ainda conheço – algumas situações, por exemplo, em creches, em que muitas vezes as instituições querem educadoras, não querem educadores homens», conta Luís Ribeiro. O educador recorda também as repercussões do processo Casa Pia [caso de abusos sexuais sobre alunos daquela instituição de Lisboa, denunciado em 2002, que resultou na acusação de várias figuras públicas e num grande impacto mediático] a este nível: «Logo a seguir a isso, muitas instituições particulares, que eram as únicas que podiam pôr esse tipo de restrições, ainda que não fosse oficial, no recrutamento faziam essa seleção. Lembro-me de isso ter acontecido e de haver até muitos comentários a esse respeito.»
Diogo Veríssimo Guerreiro viveu essa experiência. O educador de 43 anos começou a trabalhar em 2003, e não tardou a sentir as ondas de choque do processo Casa Pia: «Pelo menos uma criança saiu do grupo que eu comecei a acompanhar. Ainda que não mo tivessem dito pessoalmente, mais tarde cheguei a perceber que a razão por que a criança acabou por sair daquele grupo tinha que ver com isso, com o facto de eu ser um homem», conta Diogo ao Gerador.
Diogo trabalha na mesma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a Associação Escola Aberta, em Beja, desde o início da carreira. Mas se o acesso foi fácil (recebeu o convite quando ainda estava a terminar o curso), depois de lá estar a questão do género emergiu de diferentes formas: ouviu de uma colega – com quem acabaria por construir uma boa relação – que teria de «aprender a ser uma mulher». Depois, passou a ser solicitado para as tarefas habitualmente delegadas nos homens, como arranjar coisas ou arrastar móveis. Diogo calcula ter demorado dois a três anos a gerir este tipo de questão, mas os estereótipos acabaram por se ir diluindo.
Diogo já trabalhou em jardim-de-infância (3 aos 5 anos), mas, nos últimos anos, a sua experiência tem sido feita apenas em creche (0 aos 3 anos), e este ano está com um grupo de berçário. Reconhece que a idade das crianças acarreta maiores níveis de ansiedade às famílias, e ainda recentemente teve uma mãe a dizer-lhe que não sabia o que ele andava a fazer. Mas também estes receios se vão dissipando com o tempo e com a construção das relações.

Apesar de Luís Ribeiro não ter trabalhado em creche – a valência não está disponível na rede pública –, acredita que a perceção pública também atue como uma condicionante na escolha profissional: «É onde os pais têm de deixar as crianças para alguém tomar conta delas porque vão trabalhar. Não estou a dizer que isto é generalizado, mas digamos que há uma franja grande da população, independentemente do estatuto socioeconómico, que desvaloriza muito as questões da educação em creche.» De facto, o trabalho em creche não se insere na carreira docente, sendo esta valência tutelada pela Segurança Social e não pelo Ministério da Educação, como acontece com o jardim-de-infância. Numa perspetiva de papéis de género socialmente inculcados, Luís Ribeiro acredita que a ideia de um homem a cuidar de bebés pequenos possa ainda gerar algum desconforto, ainda que ressalve que estas perceções estejam a mudar. Se a este contexto juntarmos as expectativas que ainda pendem sobre os homens no desempenho de funções de liderança ou de cargos bem remunerados, «não é propriamente ser educador de infância que lhes dá um grande estatuto social», aponta.
O trabalho com bebés tem sido um elemento fulcral da vida de Mário Santos, de 38 anos, do ponto de vista laboral e académico. Licenciado em Enfermagem, fez um mestrado em Sociologia da Saúde e doutorou-se em Sociologia. É um dos coordenadores do laboratório de estudos sociais sobre o nascimento nascer.pt, do ISCTE.
Durante o mestrado, interessou-se pela vivência do parto em casa e, no doutoramento, o seu foco virou-se para as experiências dos profissionais neste contexto. Para perceber de que forma as doulas se articulavam com esta realidade, fez entrevistas e pediu para participar numa formação. «A minha presença enquanto investigador não tinha importância nenhuma, o que tinha importância era a minha presença enquanto homem. Isso é que era o verdadeiro elefante na sala», aponta ao Gerador. Apesar de não existir qualquer impedimento formal à presença de um homem no curso, a estranheza era verbalizada, com formandas a manifestar o seu incómodo. A desconfiança não demoraria, contudo, a quebrar-se, e, no final do módulo, houve pessoas a pedir a Mário que continuasse a acompanhar a turma e fizesse mesmo o curso.
«Quando as pessoas falavam em feminino e em masculino e que o facto de eu ser homem incomodava, era muito mais num plano simbólico do que num plano concreto», justifica. Da ideia da partilha no feminino, passou-se à reflexão sobre a importância da presença do homem no parto e da possibilidade de um homem também assumir o papel de doula, e até a reflexões mais intrínsecas sobre noções simbólicas de feminino e masculino.
Posteriormente, no exercício da atividade de doula, as barreiras já não estavam presentes, havendo até quem o escolha precisamente por ser homem, na expectativa de uma experiência diferente.

A experiência de Mário Santos não lhe permite concluir pela normalização do papel do homem enquanto cuidador: «“Às vezes fico com a sensação de que já está muito diferente e de que já não é uma grande questão, mas depois uma pessoa dá um passo [fora] da nossa bolha e começamos a ver como não é nada assim, como ainda há muito a fazer, e como ainda, de uma forma muito consistente, cuidado é mulher, mulher é cuidado»”, destaca. Ainda que não possa, formalmente, haver discriminação de género no acesso às profissões, Mário ressalva que há quem acredite que a doula tem de ser, biologicamente e em termos de identidade de género, mulher, havendo casos em que até se recomenda que tenha passado pela experiência da maternidade.


Publicado o ano passado, o estudo Gender stereotypes in education: Policies and practices to address gender stereotyping across OECD education systems, que integra a série Education Working Papers, da OCDE, reconhece que, apesar dos avanços em entender as questões de género, os estereótipos persistem na maioria dos países que integram a organização. Um estudo citado neste trabalho sugere que os estereótipos podem começar logo aos três meses de idade, com os adultos a elaborar assunções de género baseadas na forma como a criança chora –- choros mais agudos são conotados com o sexo feminino e mais graves com o sexo masculino. Quando o género é revelado, passa-se para as assunções acerca do grau de masculinidade ou de feminilidade da criança.
Noutro trabalho (International Early Learning and Child Well-being Study), a OCDE concluiu que as normas de género estão claramente interiorizadas aos cinco anos de idade. No âmbito desse estudo, foi perguntado aquestionaram quatro mil crianças o que queriam ser quando crescessem, e, no caso dos rapazes, a preferência por profissões tradicionalmente associadas ao género masculino foi absolutamente preponderante: as respostas incluíram agricultor, mecânico, motorista de autocarro ou astronauta. Já entre as raparigas, é mais provável encontrar quem manifeste o desejo de abraçar carreiras tipicamente masculinas, como polícia ou bombeira, mas as escolhas mais populares envolvem o elemento do cuidado e da proteção –- enfermeira, veterinária ou dentista.
Esta conclusão leva-nos de volta ao estudo anterior, que cita também resultados de um trabalho que permitiu perceber que os estudantes entre os oito e os nove anos processavam mais facilmente informação que liga nomes femininos a ocupações tradicionalmente masculinas do que nomes masculinos a ocupações mais conotadas com o sexo feminino. Este dado fez com que os investigadores se interrogassem se os avanços no encorajamento dado a raparigas para seguirem papéis não tradicionais, não acompanhado de um encorajamento similar no plano inverso, poderia contribuir para o fenómeno. O estudo sugere que os rapazes que queiram ser enfermeiros, bibliotecários ou trabalhar com crianças terão mais dificuldades de aceitação do que as raparigas interessadas em dentistas, médicas ou polícias.

A opção de Pedro Gonçalves pela Enfermagem não foi, em si, um problema. O enfermeiro, de 29 anos, já trabalhou em contexto de urgências e exerce agora a profissão numa unidade de cuidados continuados. Mas a questão do género teve a primeira manifestação durante o estágio em Obstetrícia. No momento de transmitir os ensinos de enfermagem pós-parto a um jovem casal, sentiu que não era levado a sério: «Achei que eles estavam a rir ou a achar piada por eu ser homem e por ser um homem jovem», relata ao Gerador. Esta foi uma situação definidora no seu contexto profissional, porque o facto de não o terem levado a sério desconcentrou-o da sua tarefa e fez com que não tivesse conseguido cumprir o objetivo com o qual tinha entrado no quarto da parturiente. O episódio fez com que trabalhasse a sua postura e aprendesse a blindar-se perante as expectativas dos doentes no que a estas questões diz respeito. Curiosamente, o tipo de estigma que, por vezes, ainda sente é de sinal oposto, quando os doentes assumem que, por ser homem, é o chefe dos enfermeiros. De uma forma mais transversal, Pedro ainda nota algum estigma associado à profissão: «A imagem que é mostrada ao público em geral do que é um enfermeiro ainda é muito desvirtuada – associamos sempre a uma enfermeira ou muito nova ou muito velha, com saia, com decote, com chapeuzinho», exemplifica.

Quando Diogo Ladeira, de 22 anos, entrou no curso de Serviço Social do ISCTE, encontrou cerca de cinco homens no seu ano, mas mais velhos – de 30 anos para cima. Eram cerca de 60 pessoas. Entre as colegas, a chegada de Diogo despertou de imediato curiosidade: de um modo geral, instalou-se a ideia de que ou era gay ou estava ali para tentar algo com todas as colegas do sexo feminino. Por outro lado, a consciência deste estereótipo também levou outras colegas a pugnar pela sua integração.
Neste momento, Diogo trabalha como gestor de projetos numa associação de ucranianos em Portugal, mas o gosto pela área social já se manifestava antes de escolher a carreira – fez voluntariado no Banco Alimentar, num hospital psiquiátrico e em lares de idosos. No final do curso estagiou na Casa Pia, e após concluir a licenciatura começou a trabalhar como assistente social no Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT), dando apoio a pessoas vulneráveis a infeções sexualmente transmissíveis. Nestes contextos, a sua juventude causava alguma estranheza entre os beneficiários, que contavam com alguém mais experiente, e a isso aliava-se o género: «Não é para ter um atendimento consigo, é para ser com a assistente social», chegou a ouvir. A construção da relação acabava por demolir a barreira. Havia, contudo, contextos dos quais Diogo preferia distanciar-se, nomeadamente o atendimento às trabalhadoras do sexo, por entender que o contacto que têm com homens, nem sempre regido pelo respeito, poderia deixá-las desconfortáveis perante outra figura masculina e erguer barreiras que, diante de outra mulher, provavelmente não existiriam.
A profissão continua a ser um reduto feminino, e Diogo testemunha-o em encontros com colegas: os poucos homens que encontra não são, geralmente, assistentes sociais – são psicólogos e diretores. Para o assistente social, trata-se de construção de género: «As pessoas podem dizer que não têm estereótipos, mas intrinsecamente continuam a ter, então nunca vão pensar, em primeira instância, em concorrer a uma área social.»
Mas Diogo acredita que a luta feminista está a arrastar consigo uma mudança de mentalidade no masculino, com os homens a deixar de ter medo de mostrar sensibilidade e de cuidar.
«Temos tido sucesso em comunicar às meninas que elas podem ser o que quiserem, que podem ser Engenheiras por um Dia [programa promovido para a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género], que podem ser astronautas, que podem ser uma série de coisas, mas não temos tido tanto sucesso a explicar aos meninos que eles também podem ser o que querem», nota Tatiana Moura, investigadora auxiliar do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra e coordenadora do Observatório Masculinidades.pt. Equilibrar a balança passa, para a investigadora, por sermos capazes de mostrar ao sexo masculino que o cuidado é um aspeto central da vida pessoal e profissional, o que nem sempre será fácil. O primeiro contacto com o sistema educativo (creche ou pré-escolar, a idade «crítica» apontada pela OCDE) passa a mensagem de que o cuidado se pratica no feminino. Mas o contexto escolar pode ser determinante a outros níveis. Desde logo, Tatiana Moura destaca a importância de a escola não ser um espaço de reprodução de estereótipos, com bibes cor-de-rosa e azuis ou apelos a que o sexo masculino domine melhor a vulnerabilidade.
Diogo Ladeira, assistente social
Tatiana Moura, socióloga

Na sala de Diogo Guerreiro, as crianças participam em todas as atividades sem que o género interfira na equação. Contudo, o educador percebe, pelas conversas com colegas, que os estereótipos continuam a ser perpetuados pelos profissionais.
As crianças que acompanha têm à disposição uma caixa de roupa de fantasia com peças que podem explorar sem limitações. Também há um especial cuidado com as histórias que se contam: «Há livros que simplesmente já não entram na minha sala. Tudo o que seja azul demais ou cor-de-rosa demais vai para a caixa dos brinquedos de casa, eu desvalorizo completamente», exemplifica. Se, mesmo assim, alguém pedir para contar uma dessas histórias, Diogo dá a volta ao texto para a tornar mais inclusiva.
Para Tatiana Moura, também seria importante quebrar a desigualdade de género nos contextos educativos, porque o facto de as crianças, quando chegam à creche ou ao jardim-de-infância, encontrarem quase exclusivamente figuras femininas associadas à esfera do cuidado também inculca uma mensagem. Se a maioria das pessoas que cuida de nós é do sexo feminino, o reflexo dessa socialização nas escolhas profissionais do futuro é, para a socióloga, uma consequência natural.
Diogo Veríssimo Guerreiro, educador de infância

Júnior Correia, trabalhador em limpezas
O cuidado também engloba a esfera doméstica, do cuidado com a casa ou domínios similares. É o caso de Júnior Correia, de 43 anos, oriundo do Brasil e a viver em Portugal há 16 anos. Júnior faz limpezas numa discoteca em Lisboa e, paralelamente, trabalha por conta própria numa casa particular. Já ficou sem trabalho pelo facto de ser homem: «Trabalhei durante muitos anos numa agência de emprego que prestava serviços para casas particulares. Nessas casas, não se via ninguém porque os proprietários trabalhavam fora. No dia em que descobriram que um homem limpava a casa, não me quiseram mais lá. Sem nenhuma justificativa plausível, apenas porque não queriam homem lá», conta, em testemunho escrito enviado ao Gerador. Júnior acredita, contudo, que o facto de estar inscrito numa agência diminua as barreiras, e sente que alguns casos, o facto de desempenhar esta profissão suscitava mais curiosidade do que desconfiança. Em qualquer dos casos, as barreiras parecem ter-se dissipado, porque hoje trabalha por indicação de clientes.
A curiosidade também trouxe clientes a Bruno Rosado, CEO da HN Hit Nails, marca comercial da Luckytarget, que Bruno fundou com a mulher, Cila Santos, em 2008. A empresa dedica-se à comercialização de produtos para unhas, seja a lojas ou a clientes finais, e à formação. Bruno faz parte da equipa de formação, onde transmite conceitos de anatomia, química dos produtos e formas de utilização.
Sobre eventuais reservas relativamente ao seu trabalho, Bruno prefere não ligar ao que os outros dizem. «Isso acabou até, talvez, por me ter facilitado e talvez até me ter protegido se existiram alguns desses comentários», refere.

Quando Alex Simiema Filho, 30 anos, começou a interessar-se pelo tricô, os olhares à sua volta levantaram-se. Uma das avós do brasileiro, de nome artístico R.T. Snott, fazia croché, e outra fazia ponto de cruz, e Alex teve também oportunidade de aprender a bordar com uma vizinha que, às vezes, tomava conta dele. «Não é coisa de menino», ouviu à época, mas a paixão já tinha nascido. Já em Portugal, onde vive desde 2017, conheceu a The Craft Company, uma pequena loja em Cascais que faz também workshops de tricô, croché e costura. Começou aí a aprender tricô português, atualmente o ponto fulcral da sua carreira artística. A forma de trabalhar o tricô português, com a passagem do fio à volta do pescoço, dá uma liberdade artística que R. T. Snott não encontra noutros estilos, como o inglês ou o irlandês, e torna-o indicado para as suas esculturas. «Desde o momento em que eu encontrei o tricô, eu já sabia que queria levar aquilo para o mundo artístico», recorda.
Apesar de artistas como Vanessa Barragão ou Joana Vasconcelos terem um percurso estabelecido no têxtil, o seu trabalho explora sobretudo o domínio da visualidade, e R. T. Snott preferiu centrar-se na técnica.
O artista já tinha passado pela escultura e pela pintura, e deparou-se com a estranheza de alguns compradores quando decidiu apostar nesta área. «É como se fosse uma coisa menor», relata. Por outro lado, há uma dimensão pública do seu trabalho que contribui para o expor a preconceitos. R. T. Snott faz parte do coletivo chileno Hombres Tejedores, que usa o tricô em espaços públicos para questionar papéis de género. «O ponto central é trazer as ideias da performance para dentro, mas sem necessidade de declarar que aquilo é uma performance. É tricotar em lugares públicos, tricotar no metro, tricotar em praças, e isso é uma coisa que sempre me diz muito», explica o artista ao Gerador, uma exposição que desperta interesse e questionamento, em partes iguais. Foi por via dessa exposição que o artista percebeu que a lei brasileira não permite que se viaje de avião com agulhas de tricô, e foi revistado por isso. Abriram-lhe a mochila e levaram-lhe as agulhas, e no final uma supervisora acabaria por lhe pedir desculpa pelo constrangimento, justificando que o pessoal não estava habituado a ver homens a viajar com aqueles objetos.

R. T. Snott tem-se interessado pela lã merino, de um tipo de ovelha originária de Portugal, até pela controvérsia que desperta, ligada a práticas de crueldade animal que, ressalva o artista, não se verificam em Portugal. Esse facto, aliado aos séculos de história do comércio ibérico de lã justificaria, para R. T. Snott, uma posição ibérica de maior relevo neste mercado.
Para além do trabalho de criação, o artista também participa em workshops, e a partir de maio, vai ser possível encontrá-lo no projeto Collage Working Club, do Largo Residências, em Lisboa, um projeto direcionado à integração socioeconómica de imigrantes e refugiados.
Para quebrar estereótipos seria importante, na opinião de Tatiana Moura, quebrar a própria desigualdade de género nos contextos educativos. Se a maioria das pessoas que cuida de nós é do sexo feminino, o reflexo dessa socialização nas escolhas profissionais do futuro é, para a socióloga, uma consequência natural. Depois, vem a gestão das expectativas. Em 1987, Robert Connel cunhou o conceito de «masculinidade hegemónica», uma superioridade construída a partir de práticas institucionais e culturais. Conforme explica Tatiana Moura, existe um conjunto de indicadores para cumprir esse desígnio, como ser bem-sucedido e bem-remunerado, para além de ser um homem branco, heterossexual e cisgénero. No contexto em que vivemos, a esfera do cuidado está tradicionalmente a cargo do sexo feminino, e não é, de uma forma geral, bem remunerada, pelo que tende a não fazer parte do leque de opções dos homens. Testemunhos como o de Mário, Júnior ou Diogo Ladeira demonstram que o caminho ainda requer a desconstrução de algumas barreiras, mas também revelam que o cuidado, seja no trabalho com pessoas ou na esfera doméstica, não tem de ser um reduto feminino.