Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
Texto de Sofia Craveiro
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Design de Frederico Pompeu
Digital de Inês Roque

A primeira vez que “Vanessa” (nome fictício a pedido da entrevistada) prestou serviço sexual a um cliente com diversidade funcional foi apanhada de surpresa. Durante o contacto inicial, nada foi especificado sobre esse aspeto, e ela não sabia bem como deveria proceder, com receio de magoar a pessoa. “[Ele] falou que é difícil, que muitas meninas preferem não atender, que é difícil encontrar alguém que aceite”, conta. “Fiquei um pouco surpresa porque, naquela altura, talvez nunca tivesse parado para pensar que pessoas nessas condições buscassem esse tipo de serviço.”
Apesar do nervosismo, tudo acabou por acontecer de forma tranquila. O cliente teve o prazer que procurava, e Vanessa ficou mais sensibilizada para as condicionantes que acarreta a deslocação numa cadeira de rodas. Nos seus anúncios na web, passou a incluir a nota de que atende pessoas com deficiência, apesar de não ter qualquer formação específica para o efeito. “Nesse público, eu não vi um risco”, explica. “Pensei, porque não dar uma atenção especial?”
Desde essa primeira vez, já atendeu cerca de uma dezena de pessoas com diversidade funcional, no Brasil e agora no Porto, onde reside. Em alguns casos, teve de prestar alguma assistência à pessoa. Noutros chegou a ter auxílio de familiares na preparação para o ato sexual. “Todas as vezes que atendi pessoas com deficiência, nunca fui a primeira de ninguém”, sublinha.
Vanessa nunca tinha ouvido falar de assistência sexual, mas, ainda que sem essa noção, já acabou por prestá-la. O seu caso está longe de ser único, conforme explica, em entrevista ao Gerador, Diana Santos, vice-presidente do Centro de Vida Independente e ativista pelos direitos civis e humanos das pessoas com deficiência. “Em Portugal, não temos [assistentes sexuais]. O que temos são trabalhadores do sexo que estão a dar este tipo de resposta a pessoas com deficiência, quando são procurados para tal. Isso implica uma série de limitações”, explica.
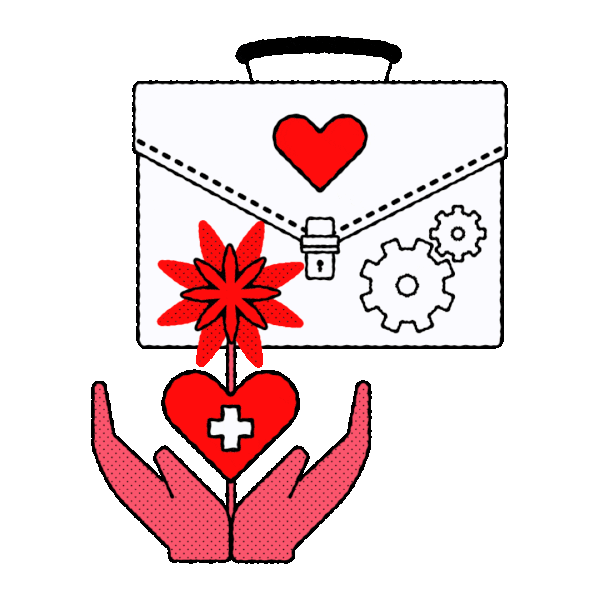
“Um assistente sexual é alguém que possui um tipo de preparação e formação que o capacita para apoiar pessoas com algum tipo de limitação, sobretudo a nível motor, na concretização das suas necessidades sexuais”, diz Raquel Pereira, psicóloga e terapeuta sexual. “Isto tanto pode passar pela parte do ato sexual em si como apenas pela questão mais afetiva, de acompanhamento. Portanto, (o assistente sexual) é alguém que está, não só sensibilizado para estas questões, mas também para fazê-lo com segurança, com respeito, com consentimento e, sobretudo, sempre numa perspetiva de empoderamento da pessoa que beneficia deste serviço”, esclarece.
A assistência sexual pode ser praticada de diferentes modos. Enquanto uns consideram que deve restringir-se a práticas que permitam aceder ao próprio corpo, não possibilitando o acesso ao corpo do assistente sexual – logo, sem coito –, noutros “deve contemplar tudo o que esteja subjacente a uma relação de intimidade, criando a possibilidade da pessoa aceder a uma experiência sensual/sexual”, conforme descrito no artigo A (i)legalidade da assistência sexual na Europa: Mapeamento da Literatura e reflexões sobre políticas públicas de saúde sexual, assinado pelos investigadores Ana R. Pinho, Conceição Nogueira, ambas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e João Manuel Oliveira, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.
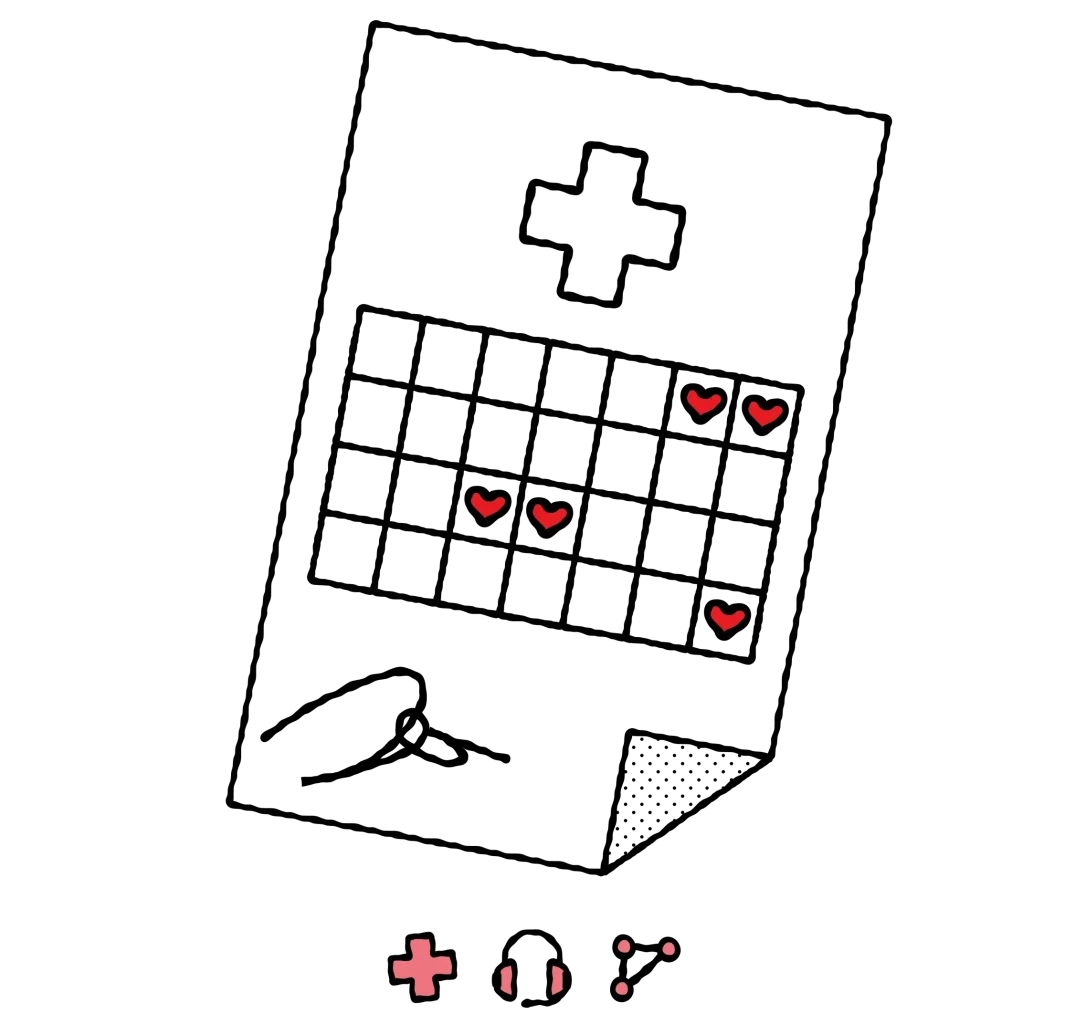
Assim, de um modo geral, existem três modelos de assistência sexual, de acordo com a ativista Diana Santos, que é também especialista em sexualidade clínica pelo Instituto Português de Psicologia. Há países em que o serviço é prescrito medicamente, mediante um número de sessões que o médico considera adequadas face à necessidade sexual que detetou na pessoa com deficiência. “Na verdade, são mais considerados terapeutas sexuais do que trabalhadores do sexo. É um serviço que é financiado pelo Estado, mas é um modelo médico. Não há aqui nada de emocional ou afetivo, nem propriamente livre-arbítrio, porque a pessoa tem a atividade quando o médico a prescreve”, explica.
Num outro modelo mais “social”, a assistência sexual funciona como “um facilitador de autoprazer e, se duas pessoas com deficiência se apaixonassem ou quisessem ter um momento sexual, o assistente sexual seria também um facilitador do momento”, refere a ativista e especialista. Assim, o assistente sexual pode ou não tocar efetivamente na pessoa. Pode, por exemplo, tocar na mão da pessoa e facilitar o autotoque, ou estimulá-la com brinquedos sexuais. “Entre duas pessoas com deficiência, é exatamente o mesmo pressuposto. A pessoa vai dizendo o que precisa, como precisa que o corpo fique posicionado, e o assistente sexual vai fazendo esse posicionamento quando a pessoa não consegue fazê-lo de forma autónoma”, refere Diana Santos. Os limites deste modelo são, mais uma vez, a autodeterminação. A ativista considera este modelo melhor do que o médico, mas acredita que pode ser “limitador”, já que pára antes do coito.
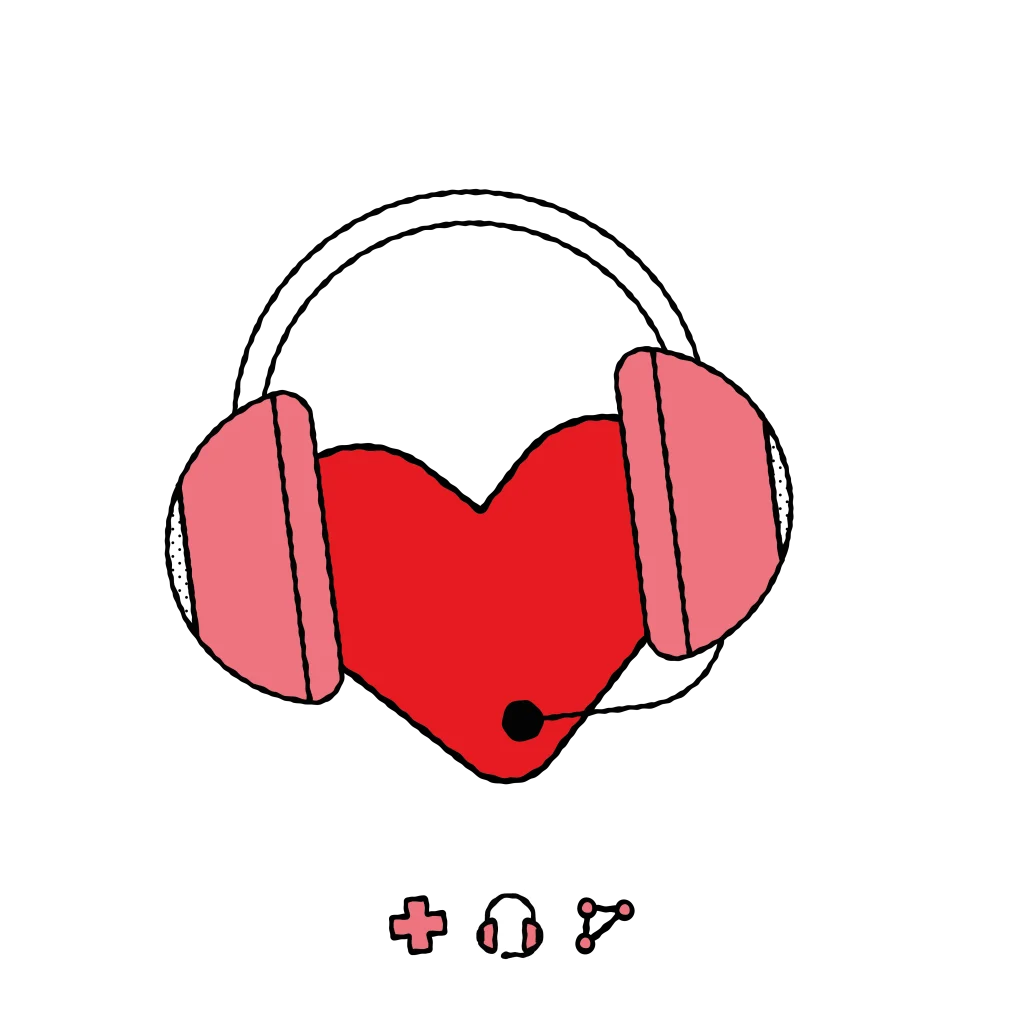
Além destes, existe ainda o modelo comunitário, praticado em Espanha. Através da plataforma Tandem Team, vários indivíduos, com e sem deficiência, anunciam as suas pretensões. Da mesma forma, pessoas com ou sem deficiência dizem o que estão dispostas a fazer, possibilitando um match. A plataforma oferece formação aos assistentes sexuais. “A partir daí, as pessoas adultas fazem o que tiverem de fazer”, geralmente, mediante um pagamento, conforme explica Diana Santos, que considera este o modelo mais “interessante”. “A pessoa diz até onde quer ir e combina. Há aqui uma liberdade muito maior para as pessoas desfrutarem do que quiserem desfrutar.”
Pela Europa, o enquadramento legal da assistência sexual varia e vai desde o reconhecimento à criminalização.
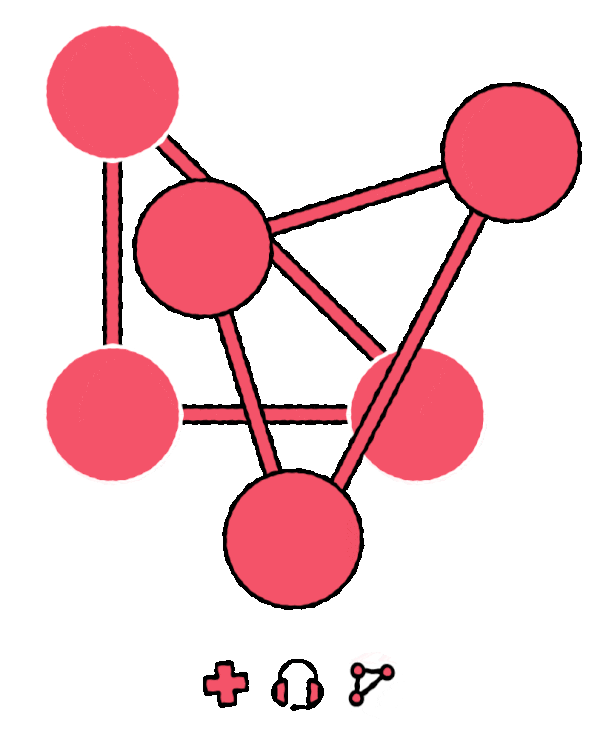
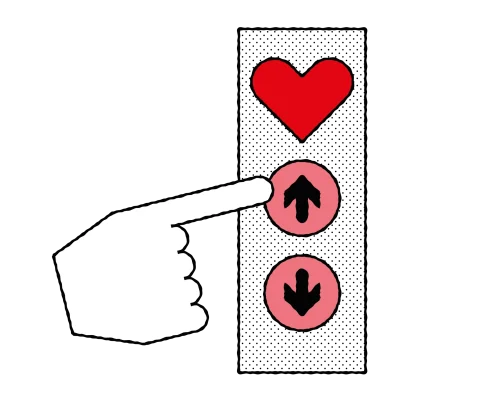

Num relatório publicado em 2015, intitulado Sexual health, human rights and the law, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a relação entre os direitos humanos e a sexualidade. No documento, lê-se que “atingir o mais alto padrão de saúde sexual é uma meta intimamente relacionada ao respeito, proteção e cumprimento de direitos humanos como o direito à não discriminação, à privacidade e à confidencialidade, a não sofrer violência e coerção, assim como o direito pleno à educação, informação e ao acesso a serviços de saúde”.
Da mesma forma que o trabalho sexual não é reconhecido em Portugal, também a figura do assistente sexual não existe. Os ativistas e especialistas que deram o seu contributo nesta reportagem são unânimes quanto à importância de mudar este cenário, até porque, conforme explicam, o reconhecimento da profissão permitiria a criação de formações específicas que fariam toda a diferença para as pessoas que solicitem o serviço, evitando que o mesmo acabe a ser prestado por trabalhadores(as) do sexo que, mesmo querendo ajudar, não possuem o conhecimento adequado.
“O que acontece cá em Portugal é que as pessoas que têm algum tipo de incapacidade, seja a nível motor, seja a nível intelectual conseguem, às vezes, aceder a profissionais que são trabalhadores sexuais como quaisquer outros, mas podem estar mais habituados a atender também este tipo de população”, argumenta Raquel Pereira. “Pela experiência podem estar um pouco mais preparadas, mais sensibilizadas, mas não são pessoas que estão formadas nesta área.”

Além da questão da formação, o reconhecimento da profissão seria uma forma de separar os cuidados e a assistência pessoal – defendida pelo Centro de Vida Independente como o pilar de uma vida autónoma, livre de dependências familiares – da assistência sexual, evitando que as funções se cruzem.
“Muitas vezes são as mães, que são cuidadoras destas pessoas e que têm de, entre outras coisas, tratar dos aspetos da sexualidade dos filhos, que é uma coisa que eu imagino que seja muito difícil de fazer, muito violento”, diz Alexandra Oliveira, investigadora da Universidade do Porto, que há vários anos estuda temáticas de sexualidade e trabalho sexual em particular.
Também Diana Santos rejeita a ideia de “misturar os papéis”. “É óbvio que, se um assistente pessoal me dá banho, me ajuda a limpar, etc., já tem acesso à minha intimidade. Claro. Mas estar a fazer a autoexploração do corpo com a pessoa que diariamente está no nosso contexto familiar, profissional, [não]. Tem de ser um serviço à parte.”
“Um grito existencialista, um murro na mesa, uma chamada de atenção.” É assim que o ativista espanhol António Centeno descreve o documentário Yes, We Fuck, que correalizou com Raúl De La Morena e lançou em 2015. A obra mostra experiências sexuais e eróticas de pessoas com diversidade funcional, com o intuito de apresentar uma narrativa mais aproximada da vida quotidiana das mesmas. Não é focado apenas em assistência sexual, mas mostra cenas em que ela é praticada. Além disso, pretende também sexualizar a diversidade funcional, para que estas pessoas possam ser vistas como “seres sexuais, sexuados, corpos que tenham desejo e sejam desejáveis”, explica o ativista, em entrevista ao Gerador. “Damo-nos conta de que o desejo, a vontade, o pensar o mundo de uma certa maneira, viver de uma certa maneira, não é algo que se possa conseguir com uma lei ou com um decreto. Esse “algo” tem de estar na cabeça das pessoas, sem que deem conta”, refere.
Daí que acredite no potencial da sexualidade enquanto elemento capaz de contrariar a conceção infantilizadora que é mantida sobre as pessoas com deficiência. “Esta ideia infantilizadora faz com que sejam encaradas como crianças, pois são tratadas como crianças”, explica. Até porque, conforme descreve, há políticas públicas desenhadas com base nessa conceção, que, como as crianças dependem dos seus pais, também esta comunidade é naturalmente dependente de outros.

“O que queremos é uma transformação da ideia de sexualidade, tal como nos âmbitos do urbanismo, da arquitetura, da educação. Quando nos incluem, quando incluem a diferença, esse âmbito transforma-se em geral e resulta melhor para a população em geral. Também esperamos isto da sexualidade. Que sejamos capazes de construir uma ideia em que os corpos podem ser muito diferentes, não são apenas aqueles que aparecem nos [filmes] porno. Há ínfimas maneiras de se mover, de sentir”, explica António Centeno.
Para o ativista espanhol, o que está em causa vai muito além da assistência sexual. “É importante, mas não é nisso que consiste a nossa vida sexual”, refere. “A nossa vida sexual deveria ser tão completa, tão rica ou tão patética como outra vida qualquer. O papel da assistência sexual é o de romper uma barreira importante, que é o do acesso sexual ao teu próprio corpo. Se tiveres a possibilidade de aceder ao teu próprio corpo – para autoconhecimento, para autoprazer –, isso abre-te portas para que possas estabelecer vínculos com outras pessoas, não necessariamente em formato de serviços, mas por prazer, por amor, pelas razões que todas pessoas acabam por se conectar”, afirma António Centeno.
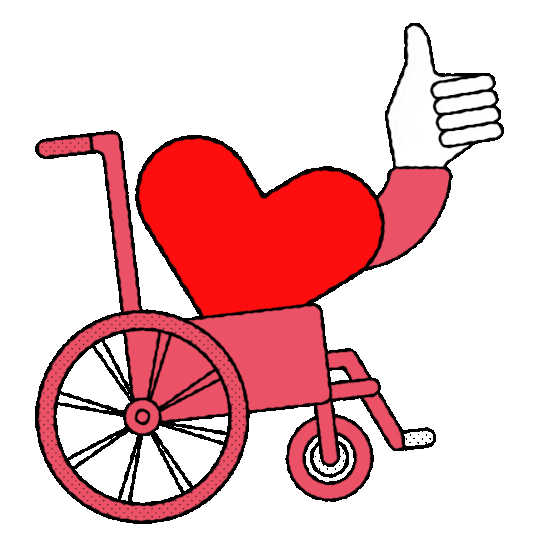
O documentário Yes, We Fuck inspirou um movimento cívico em Portugal. O Sim, Nós Fodemos, derivou do coletivo ativista Deficientes Indignados, centrando-se na sexualidade. Desde que foi fundado, no final de 2013, teve muita atenção mediática, que os ativistas atribuem, em grande parte, ao próprio nome do movimento.
O primeiro objetivo, o de sensibilizar e criar debate, foi cumprido. O segundo, que era o de gerar mudança, ficou pelo caminho. “Falar não é fazer e falar não tem a consequência direta – poderia ter, mas infelizmente não tem – de resolver o problema das pessoas”, diz Rui Machado ativista e precursor do movimento. “Aqui o problema é complexo, mas simples: é o problema da concretização, como é que as pessoas se concretizam a este nível”, o da sexualidade.
Rui Machado, que é também vice-presidente do Centro de Vida Independente – que promove um modo de vida autónomo, assente na assistência pessoal –, diz encarar a assistência sexual como um trabalho sexual, ao invés de um ato médico. Chama a atenção para o facto de a sexualidade ser um elemento básico da vida do ser humano e critica o facto de isso não ser compreensível para a generalidade das pessoas. “A questão dos direitos da pessoa com deficiência em Portugal e a forma como ela ainda é encarada não é muito favorável ao tratamento deste tema”, lamenta.
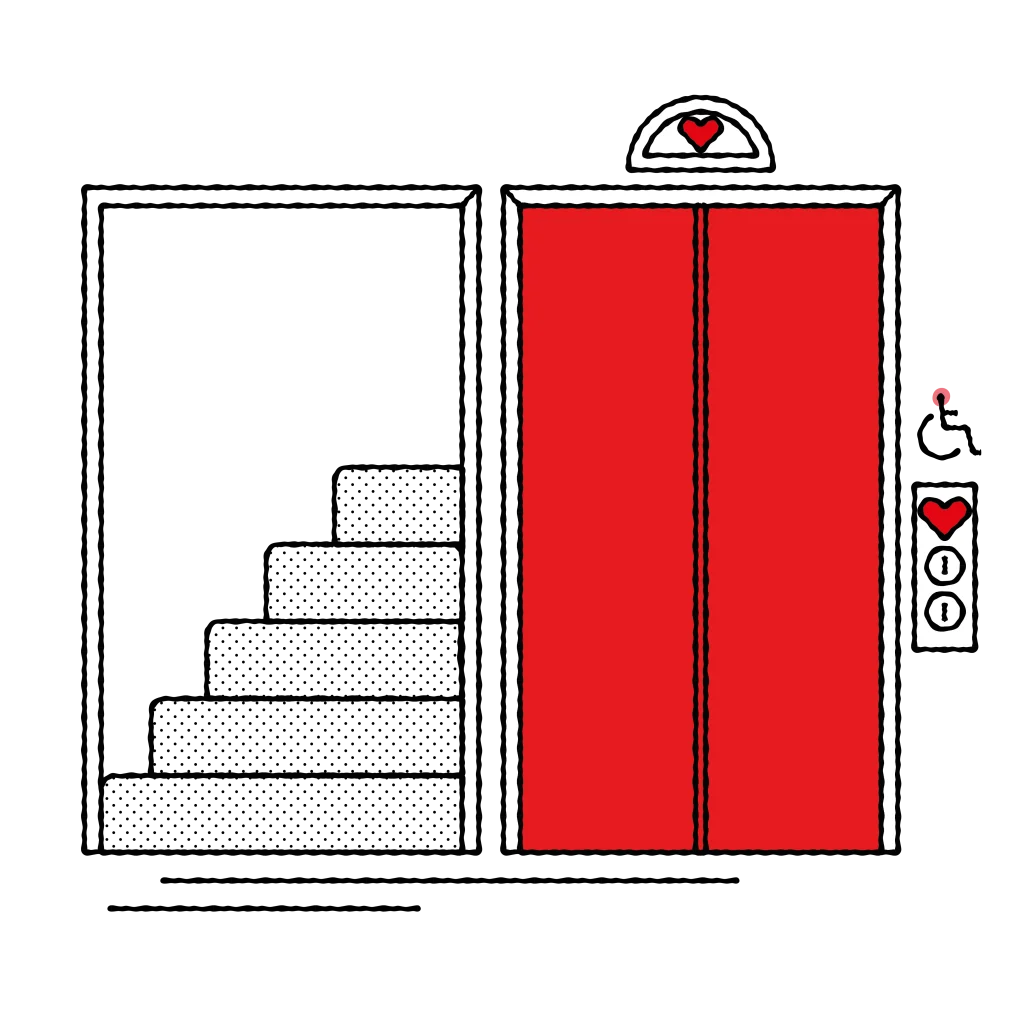
O cenário agrava-se no caso das mulheres com diversidade funcional, que acabam por ser duplamente discriminadas, segundo Raquel Banha, autora do blog Chairleader e ativista. “O acesso a uma sexualidade saudável, na sua plenitude, não é o mesmo. Não temos as mesmas oportunidades, não temos as mesmas opções”, afirma. “Não porque nós, pessoas com deficiência, limitemos o nosso leque de opções, mas porque somos automaticamente excluídas das opções da maioria das pessoas. Não somos consideradas como potenciais parceiros sexuais e/ou românticos. Esta limitação que nos é imposta, muitas vezes encurrala-nos em situações mais perigosas, ou tóxicas”, lamenta a jovem.
Além da discriminação sexual, Raquel Banha descreve ainda as dificuldades no acesso a cuidados de saúde sexual, que é “geralmente, mais precária” do que no caso de mulheres normativas. “Raramente somos referenciadas para as consultas de ginecologia ou planeamento familiar pelos médicos de família/pediatras. A comunidade médica é mais um poço de capacitismo, onde somos vistas como eternas virgens, sem vida sexual, e muito menos sem objetivos ao nível da maternidade.”
E especifica: “As macas de atendimento ginecológico, geralmente, não são acessíveis, os aparelhos de raio-X das mamografias raramente são compatíveis com cadeiras de rodas… A informação que nos é passada pelos médicos muitas vezes é condicionada de modo que nos sintamos impossibilitadas de viver uma vida sexual plena, assim como a experiência da maternidade.”
O Gerador contactou a Direção-Geral de Saúde, a Ordem dos Médicos e a Associação para o Planeamento da Família de forma a esclarecer as questões relacionadas com a comunidade médica, mas não obtivemos resposta por parte de nenhuma destas entidades.