Acesso Rápido
Jornalismo
Temas
Formatos
Programas
Conteúdos
Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
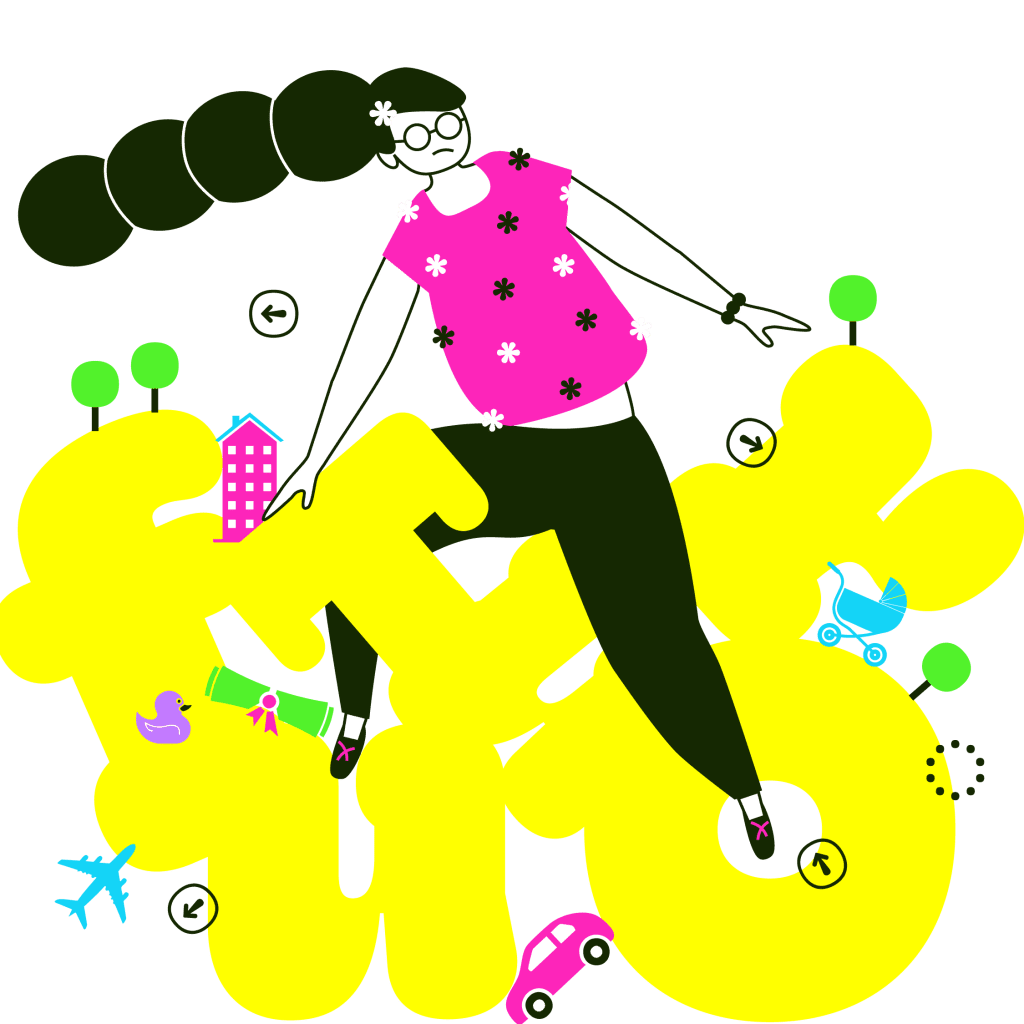
29.09.2025
Ser jovem hoje é substancialmente diferente do que era há algumas décadas. O conceito de juventude não é estanque e está ligado à própria dinâmica social e cultural envolvente. Aspetos como a demografia, a geografia, a educação e o contexto familiar influenciam a vida atual e futura. Esta última tem vindo a ser cada vez mais condicionada pela crise da habitação e precariedade laboral, agravando as desigualdades, o que preocupa os especialistas.
Esta reportagem faz parte do projeto Lisboa faz-te feliz?, apoiado pelo programa Lisboa, Cultura e Media.
Ainda que exista uma tendência para tentar balizar, em termos etários, o período durante o qual alguém é considerado jovem, essa delimitação não é cientificamente sólida, pois depende de muitos fatores para lá da biologia humana. É Vitor Ferreira, sociólogo e coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) que nos explica isto mesmo: “[a juventude] é uma categoria social que é relativamente aberta e tem sido cada vez mais, ou seja, tem-se expandido”, explica.
Mas o que significa isso, exatamente?
Significa que, mesmo para efeitos de investigação científica, mesmo havendo a necessidade de delimitar o objeto de estudo, admite-se ser “uma categoria social historicamente construída e localizada no tempo”, sendo que o período no qual alguém é considerado jovem tem vindo a expandir-se na cronologia de vida. “Vai-se estendendo mais para a frente e também começa cada vez mais cedo, ou seja, a própria idade de transição, da infância para a juventude, de alguma forma tem-se antecipado”, explica o investigador.
A justificação está no grau de autonomia dos indivíduos, que tem vindo a aumentar numa fase mais precoce. “A ideia de terem a chave de casa quando os pais estão fora, as decisões sobre o que vestem, a questão do gosto pessoal é muito mais respeitada pelos pais”, exemplifica Vitor Ferreira. “Não é linear e não começa nem acaba para todos os indivíduos da mesma forma, porque vai depender muito das suas condições materiais de existência”, acrescenta.
O capital financeiro da família, as condições do território onde vivem e até a qualidade dos apoios prestados por instituições públicas nesses territórios influenciam a entrada na idade adulta de acordo com o investigador, pois indivíduos com menos suporte acabam por ganhar um grau de autonomia maior, mais cedo, por força das circunstâncias.
Numa perspetiva mais abrangente, os indicadores tipicamente ligados ao início da idade adulta – a entrada no mercado de trabalho, a saída de casa dos pais, a conjugalidade, o primeiro filho -, surgem cada vez mais tarde, o que também corrobora esta perspetiva.
Em Portugal, os jovens saem de casa dos pais, em média, aos 29 anos, valor superior à média da União Europeia (UE), de 26 anos. Os dados são do Eurostat e dizem respeito ao ano 2025. As idades médias mais elevadas foram registadas na Croácia (31,3 anos), Eslováquia (30,9) e Grécia (30,7) , de acordo com a mesma fonte. Verifica-se uma tendência de emancipação mais tardia nos países do sul da Europa, em contraste com os nórdicos: na Finlândia os jovens saem de casa dos pais aos 21,4 anos, na Dinamarca aos 21,7 e na Suécia aos 21,9.
Outro dado: em Portugal, a idade média do nascimento do primeiro filho, em 2022, foi de 30,3 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).
A transição para a fase adulta deixou de estar associada a uma transição para a estabilidade, pois a incerteza permanece. A precariedade laboral e a crise habitacional são dois fatores que ajudam a explicar esse fenómeno e que também contribuem para as estatísticas citadas na caixa anterior. “A habitação, sem dúvida, é algo que faz muita diferença”, afirma Renato Carmo, sociólogo do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e diretor do Observatório das Desigualdades.
Frisando que o problema não é novo e que já há muito afetava grupos de pessoas mais desfavorecidas, o investigador diz ser agora mais visível pois afeta também a classe média, agravando as desigualdades, particularmente nas áreas metropolitanas.
Este cenário aliado à precariedade laboral provoca uma “dissonância das expectativas” dos jovens, nomeadamente aquelas criadas em relação à formação superior e aos resultados que esta poderia ter na hora de entrar no mercado de trabalho: a estabilidade dos vínculos laborais, os salários e as perspetivas de progressão na carreira.
“Tudo isso desgasta muito e acaba por ter consequências a vários níveis: situações de alguma frustração, a ideia de que apesar de estar a trabalhar, de se esforçar no dia a dia, acabam por não sair do mesmo quadro, não vêem progressões”, acredita o coordenador do livro Jovens e o Trabalho em Portugal: Desigualdades, (des)proteção e futuro, lançado em 2024.
É isso que, na sua perspetiva acaba por motivar a emigração. “Os jovens, muitas vezes, não saem de Portugal por falta de trabalho. Um jovem qualificado facilmente arranja, a questão é a qualidade desse trabalho”, sublinha.

Renato Carmo
Sociólogo do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e diretor do Observatório das Desigualdades.
Existem diferenças territoriais no que respeita à satisfação com o emprego.
Em 2021 a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) publicou o estudo Os Jovens em Portugal, Hoje, que apresentou as conclusões de um inquérito feito a 2,2 milhões de jovens entre os 15 e os 34 anos, residentes em Portugal. O estudo não apresentou dados diferenciados por região, mas a FFMS aceitou ceder ao Gerador alguns desses dados recolhidos, que agora publicamos de forma inédita.
Laura Sagnier, economista coordenadora deste estudo, ajuda-nos a interpretá-los:
“A Área Metropolitana do Porto é a “rainha” em termos de emprego. Não só tem a maior taxa de jovens com trabalho pago (52%) como também os jovens que trabalham nesta área declaram sentir-se mais realizados com o seu trabalho.”
A Área Metropolitana de Lisboa tem um nível de emprego similar à média nacional (51% vs. 50%). Contudo, os jovens com trabalho remunerado nesta região sentem-se menos satisfeitos nos seus postos de trabalho (apenas 36% declaram níveis de satisfação de 8,9 ou 10 vs. 39% no país) e também há menos a declarar sentir-se realizados com o seu trabalho (o 45% vs. 48%).”
Em relação à situação económica:
“A área onde mais jovens referiram viver sem problemas é a Área Metropolitana do Porto (na qual 65% referiram que vivem confortavelmente ou que os rendimentos dão para viver).
“No extremo oposto, estão os jovens da Madeira: nesta área geográfica estão a gastar em média 78% dos seus rendimentos [em despesas] e apenas 47% referiram viver confortavelmente ou que os rendimentos dão para viver”.
Estas questões são exemplos de condicionantes dos planos a longo prazo. “Esta ideia de um futuro cada vez mais nebuloso, é algo que, para mim, significa que é uma crise existencial que está a acontecer”, diz Renato Carmo, para quem isso tem repercussões a outros níveis, gerando ressentimento e preocupações difíceis de gerir.
“Isso seria outra conversa, mas depois, todo este ambiente, todo este caldo de mal-estar que se vai gerando, acaba por ser também apropriado por dinâmicas populistas e isso é bastante complicado, se não for invertido.”
Neste sentido, o sociólogo critica a ausência de medidas estruturais para fazer face a estes problemas e afirma que a aposta numa política fiscal não é a solução mais adequada, pois medidas como o IRS Jovem, por exemplo, acabam por só beneficiar quem ganha mais, agravando as desigualdades. “Por outro lado, pelos menos nas várias entrevistas que fiz a jovens, nunca ouvi um jovem dizer que põe a possibilidade de sair deste país por questões de fiscalidade. Nunca ouvi esse discurso, mas no entanto é o que está na base das políticas públicas”.
“Acho que há uma dissonância muito grande entre a realidade que nós vivemos neste país e as respostas políticas”, acrescenta.
Os desafios atuais enfrentados pelos jovens são distintos daqueles enfrentados por outras gerações, daí que João Seixas, geógrafo, urbanista e Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, afirme que, embora os jovens tenham hoje mais educação e preparação, “ao mesmo tempo também têm um nível de expectativas reduzido”. “Isto é um enorme paradoxo, que cria frustração mais que justificada”, pois não encontram garantias de estabilidade.
“Ser jovem hoje em dia é ser nativo digital, é compreender que a habitação está numa situação de precariedade e de carência económica gravíssima. É compreender que o mundo do trabalho não é, de todo, como foi o dos dos nossos pais”, diz João Seixas.
Embora os jovens tenham consciência ser necessário fazerem parte da construção de soluções futuras, grande parte das instituições sociais e políticas ainda respondem com propostas ineficientes, feitas para o passado, acredita o investigador.
Concretizando a análise no seu objeto de estudo – as cidades – , o geógrafo frisa a importância de criar as condições, no espaço urbano, para o desenvolvimento pessoal dos indivíduos. Um exemplo muito particular é o do alojamento estudantil, fator que, pelo agravamento dos preços, tem vindo a gerar cada vez mais dificuldades no acesso ao ensino superior.
“É uma situação gravíssima, de catástrofe social e que provoca o aumento das desigualdades, não só pela razão em si mesma, mas porque reproduz as desigualdades das famílias de origem. Não é isso que queremos como sociedade”, afirma.

João Seixas
Geógrafo, urbanista e Pró-Reitor da Universidade Nova de Lisboa
No já citado estudo da FFMS Os Jovens em Portugal, Hoje, foram abordados vários aspetos da vida dos jovens. Uma das conclusões foi a importância da formação. “O nível de escolaridade tem influência em todos os âmbitos da vida dos jovens”, afirma Laura Sagnier, coordenadora do estudo, em entrevista ao Gerador.
Quanto maior for o nível de estudos, mais pessoas têm trabalho pago, refere a especialista. Em contraste, dentro do universo dos que apenas concluíram o ensino básico, a percentagem de jovens sem trabalho pago é maior. Além disso, a remuneração também é maior para quem tem mais estudos, bem como a estabilidade do vínculo contratual.
Mas a formação também tem influência noutros aspetos da vida que não o laboral, nomeadamente nas relações de casal. “Quanto maior o nível de estudos, mais os casais, quando começam a viver juntos, falam de como vão dividir as despesas”, exemplifica a investigadora. Um exemplo: “entre os jovens heterossexuais que vivem juntos e têm educação superior, em 75% dos casos, falam de como vão partilhar as despesas, enquanto aqueles que fizeram ensino básico, só falam em 57% dos casos”, cita.
A par disso, a questão da formação também se reflete nas conversas sobre a repartição de tarefas domésticas e responsabilidades parentais, de acordo com Laura Sagnier.
“O nível de instrução tem também muitíssima relação com as relações de fragilidade”, em particular casos de pessoas que tentaram pôr fim à vida, tentaram infligir lesões ao seu próprio corpo e com distúrbios de alimentação, segundo apurado no estudo de 2021.
Note-se que nada disto diz apenas respeito às competências adquiridas com a educação formal, mas também às experiências de vida acumuladas na passagem pela universidade ou curso profissional, o contacto com outras realidades, assim como a existência de condições financeiras e familiares que tornaram tudo isso possível.
Daí que neste estudo os dois aspetos considerados com maior influência na vida dos jovens são a idade – que marca as várias fases da sua emancipação – e o nível de empoderamento. Dentro deste último, o primeiro critério é, precisamente, a educação.
Numa fase seguinte, quando a formação está concluída, importa, para João Seixas, “inserir os jovens na sociedade”, dando-lhes as condições necessárias para o fazer: mobilidade urbana e nacional eficiente e tendencialmente gratuita, equipamentos sociais e culturais acessíveis, etc.
A par disso, é relevante para o urbanista a formulação de programas de incentivo à participação comunitária. “Isto não são palavras vagas, [o que defendo] é mesmo chamá–los para intervir, para debater, para proporem o que pode ser melhorado na sua cidade, na sua freguesia, no seu bairro, de forma não se sentirem tão sozinhos e desfasados da sociedade”.
Isto não quer dizer, no entanto, que os jovens não tenham participação cívica. Ela existe, mas é feita de outras formas, de acordo com a professora da Universidade do Porto e investigadora do CIIE-Centro de Investigação e de Intervenção Educativas, Isabel Menezes. “As pessoas participam mais do que gerações anteriores, mas essas formas de participação são formas muitas vezes mais líquidas, mais específicas, mais motivadas por causas particulares e isso quer dizer que a sua eficácia também é variada.” São exemplo as manifestações, preenchimento de petições, discussões públicas, entre outras.
E a eficácia destas formas de participação cívica é “variada” – podendo mesmo ser nula, na visão da docente – pois a própria demografia do país não a favorece.
Segundo dados de 2024, recolhidos pela Pordata, Portugal é o país mais envelhecido da UE, a par com Itália. Mais de 2,5 milhões de pessoas têm 65 anos ou mais. “O envelhecimento verifica-se ainda no número de indivíduos em idade ativa por idoso: há 2,6 ativos por cada idoso. Há 20 anos, eram 4 ativos por cada idoso“, segundo a base de dados.

Isabel Menezes
Investigadora de psicologia da Universidade do Porto
Daí que Isabel Menezes acredite existirem dificuldades acrescidas. “Os jovens são hoje menos do que eram, em termos comparativos com as outras gerações e, portanto, isso também significa, do ponto de vista, por exemplo, dos discursos eleitorais dos partidos políticos, que, apesar de alguma retórica se manter, as questões de juventude são, na prática, menos relevantes”, frisa.
“As nossas democracias, em termos de pirâmide etária, têm mais pessoas velhas do que havia na década de 1970 e, portanto, a juventude não é uma prioridade política”, diz a investigadora.
Este artigo faz parte do projeto Lisboa faz-te feliz?, um projeto jornalístico audiovisual no qual entrevistamos 25 jovens que residem, estudam, trabalham ou frequentam a cidade de Lisboa. As entrevistas, disponíveis em vídeo, vão ser publicadas entre outubro de 2025 e março de 2026. O projeto inclui, ainda, 2 debates ao vivo e a apresentação de um documentário.