Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
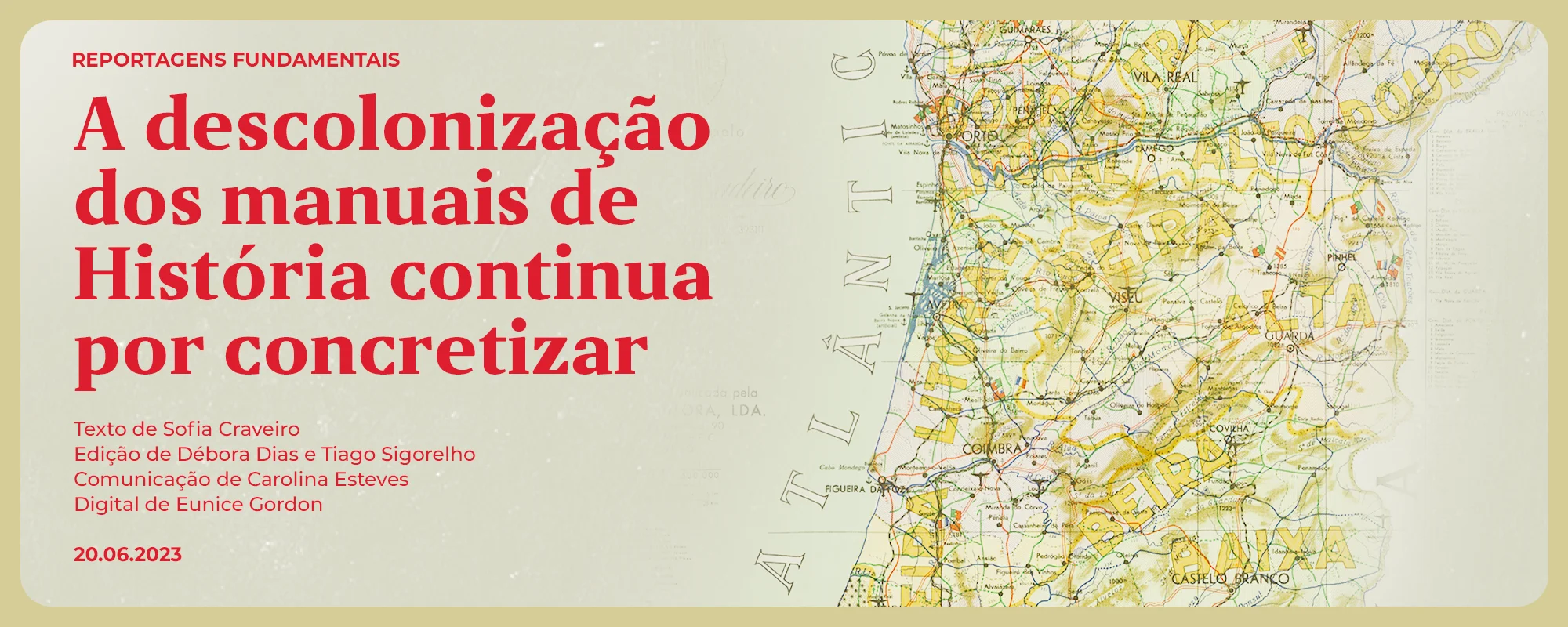

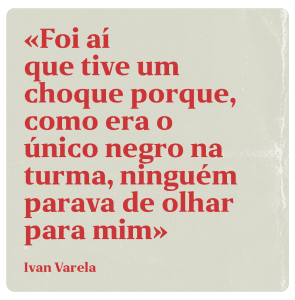
Ivan Varela tinha 10 anos quando, pela primeira vez, se viu representado num manual escolar. «Até então nunca tinha visto um outro negro num livro», conta. As memórias que tem dessa aula de História e Geografia de Portugal, do 5.º ano de escolaridade, estão marcadas pelo desconforto provocado pela violência das imagens que observava. «[Estava retratado] um homem branco [perto] de uma fila de negros, com correntes pelo pescoço, nos braços e nos pés». O tema era os «Descobrimentos» e o «comércio de escravos». «Foi aí que tive um choque porque, como era o único negro na turma, ninguém parava de olhar para mim». Perante aquela representação de seres humanos como mercadorias sem contextualização, Ivan sentiu-se «pequeníssimo». «Acho que se deu um certo complexo de inferioridade perante os demais. Não sei explicar…». O jovem, que hoje tem 23 anos, não colocou questões, só «absorveu» a imagem. «Era uma situação constrangedora, em que tinha toda a gente a olhar para mim e a última coisa que eu queria era falar.» Daí que nem tivesse pedido ao professor qualquer contextualização sobre aquela imagem que o marcou. Não sabia como agir.
Aos poucos, começou a conhecer outras perspetivas da História, que o ajudaram a perceber as falhas da narrativa transmitida em sala de aula. «A minha mãe tem vários livros em casa que contam a história africana contada por africanos, não por portugueses e eu comecei a estudar história em casa», conta o jovem. «Lá para o 7.º ano eu já tinha uma visão de que a história [era ensinada] com uma narrativa completamente descabida.»
De facto, as incongruências são muitas e demonstradas: uma abordagem pouco fiel à realidade, que cultiva uma narrativa de um «colonialismo suave» português; uma simplificação dos acontecimentos e tendência para minimizar a violência exercida sobre outros povos; uma visão marcadamente eurocêntrica; frequente trivialização da escravatura e uma naturalização das relações de poder entre povos. Todas estas conclusões foram reveladas na investigação Raça e África em Portugal. Esta foi desenvolvida entre 2008 e 2012 por um grupo de académicos, sob a coordenação de Marta Araújo, investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, que tem vindo a estudar este tema de forma contínua. Nos últimos 11 anos mais estudos surgiram, mas poucas mudanças foram feitas.
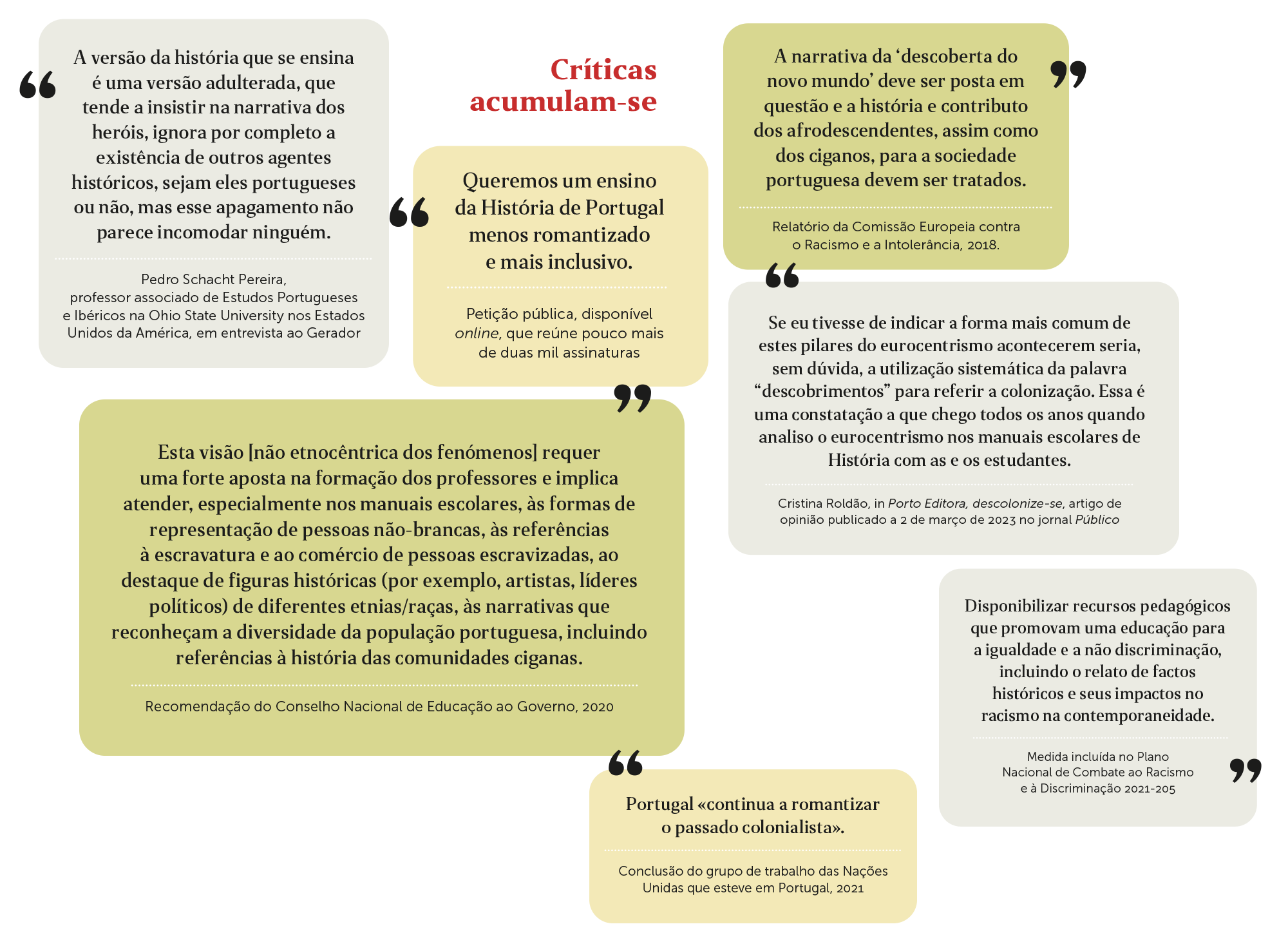

A organização dos currículos do ensino básico e secundário foi alterada por diversas vezes nos últimos anos. Implementadas em 2012 – sob bastantes críticas dos docentes – as Metas Curriculares (MC) foram substituídas, em 2018, pelas Aprendizagens Essenciais (AE) atualmente em vigor. Formalmente, os documentos têm em comum o objetivo de definir o que os alunos devem aprender, mas na prática são bastante diferentes. O número de descritores de desempenho – uma espécie de metas relativas a conteúdos que os alunos devem consolidar – desceu para menos de metade e foi dada mais liberdade aos professores para gerir os programas.
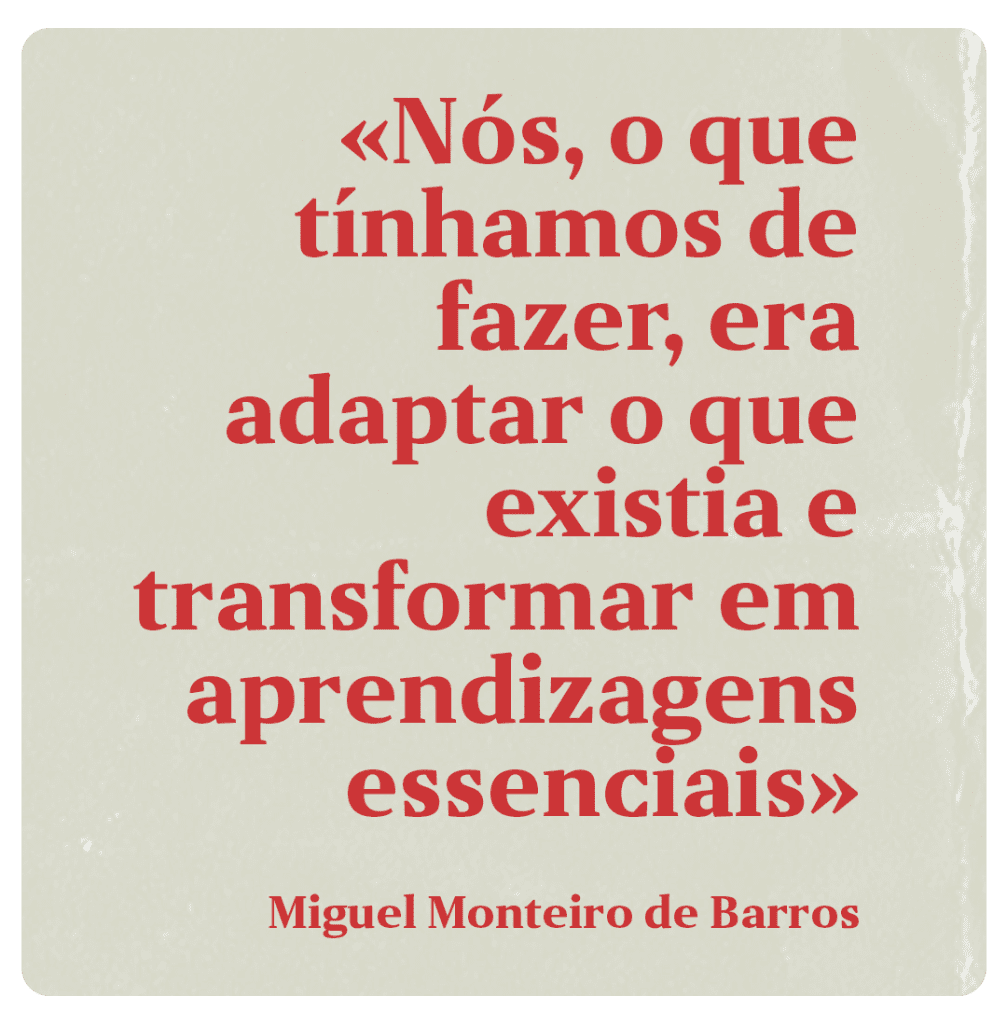
A decisão de reduzir os currículos em 30 % foi tomada após ser aplicado um inquérito nacional aos professores «que consideraram o currículo demasiado extenso, inibidor do desenvolvimento de abordagens pedagógicas diversificadas e demasiado prescritivo», conforme explica Hélder Pais, diretor de serviços de desenvolvimento curricular da Direção-Geral de Educação (DGE). Também as associações e alunos foram auscultados sobre esta questão previamente.
A tutela não definiu quaisquer diretrizes relativas a conteúdos espe- cíficos, e delegou a tarefa de redefinição de currículos nas associações representativas de cada área. Miguel Monteiro de Barros, atual presidente da Associação de Professores de História (APH), integrou o grupo de trabalho que, em 2016, levou a cabo esta tarefa. «Nós, o que tínhamos de fazer, era adaptar o que existia e transformar em aprendizagens essenciais», diz o responsável que frisa que nada podia ser acrescentado.
Por exemplo: nas MC estava descrito, na parte relativa aos séculos XV e XVI, o «Expansionismo Europeu», dividido por cinco descritores de desempenho. «Conhecer e compreender o pioneirismo português no processo de expansão europeu», era o primeiro, que, por sua vez, se dividia em tópicos muito específicos que envolviam a caracterização do crescimento demográfico e comercial europeu e ainda os contextos sociais, técnicos e culturais portugueses, entre outros aspetos. As AE reúnem os conteúdos e tornam as indicações mais abrangentes. O exemplo referido e seus tópicos adjacentes desaparecem e condensam-se em «referir as principais condições e motivações da expansão portuguesa».
Assim, houve uma redução significativa de conteúdos previstos e as orientações tornaram-se menos específicas, dando mais espaço a cada professor para trabalhar a matéria conforme entender.
A necessidade de realizar alterações ao sistema curricular prende-se com o que Miguel Monteiro de Barros chama de «manualização do ensino», ou seja, o facto de «as escolas começarem a considerar,não os programas como documento regulador das aprendizagens, mas os manuais». «Os manuais tornam-se programa», explicita.
Esta prática está, segundo o responsável, na origem do curriculum overload [sobrecarga dos currículos], já que é resultado de um constante enriquecimento dos manuais escolares com recursos e conteúdos, feito pelas editoras para ganhar vantagens competitivas. «Como o mercado é livre em Portugal e há competição, eles vão introduzindo mais coisas, mais conteúdos, mais uma coisa aqui, outra ali para serem mais atrativos», explica o responsável que também é autor de manuais escolares. «Às tantas temos situações em que, dez anos depois, os professores nem sequer se lembram do que é realmente o programa.»
Mas, se assim é, não deviam as AE ser mais específicas e restritivas, para limitar esse problema? «Considerou-se que tinham de ser um pouco abrangentes para poder caber um todo. Depois percebemos que quando as pessoas vão elaborar os manuais… se calhar isso tinha de ser muito mais clarificado.
Mas muitos outros temas têm de ser muito mais clarificados», assume Marta Torres, docente de História, autora de manuais e membro do grupo de trabalho que elaborou as AE.
É que a interpretação da matéria está sempre dependente dos autores dos manuais que têm «autonomia sobre a forma como as temáticas são abordadas», sendo os manuais posteriormente «certificados e avaliados por entidades independentes», conforme referido por Hélder Pais, da DGE.
Seja como for, as mudanças que foram feitas são um fraco remédio para um problema que Miguel Monteiro de Barros e Marta Torres consideram
ser mais complexo. «Para isso mudar radicalmente, tem de ser algo estrutural e nem sempre é em dois, três ou quatro anos. Aliás, as AE são de 2018. Houve uma resistência imensa e às vezes
ainda há pessoas que ainda lecionam com [as antigas] MC», diz a docente.
Além disso, o que é ensinado em sala de aula depende, em última instância do(a) professor(a), dos seus métodos de ensino, e da sua interpretação das AE. Este é um aspeto muito sublinhado pelos responsáveis que referem,assim, que cada docente pode sempre mencionar e aprofundar outros aspetos que considere relevantes.
Apesar de não terem sido adicionados novos conteúdos, as AE trouxeram algumas mudanças no que respeita à forma como os mesmos são enquadrados. A discussão pública em torno da temática do colonialismo, que tem vindo a ganhar destaque, foi tida em conta pelo grupo de trabalho que elaborou as AE de História. «Houve muita reflexão sobre isso», diz Miguel Monteiro de Barros.
Uma evidência desta preocupação é a inclusão do tópico «reconhecer a submissão violenta de diversos povos e o tráfico de seres humanos como uma realidade da expansão», que surge em substituição da MC «caracterizar a escravatura nos séculos XV e XVI e as atitudes dos europeus face a negros e índios».
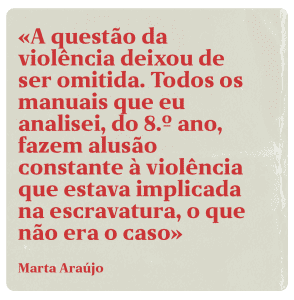
Neste sentido, surgem, nos novos manuais de História de 8.º ano – que foram certificados por universidades antes do presente ano letivo -, páginas inteiramente dedicadas ao tema da «submissão violenta de povos». A palavra racismo está ausente.
Para Marta Araújo, investigadora do CES que tem estudado manuais de forma sistemática, este é um sinal positivo. «A questão da violência deixou de ser omitida. Todos os manuais que eu analisei, do 8.º ano, fazem alusão constante à violência que estava implicada na escravatura, o que não era o caso», refere.
Além disso, a especialista afirma que nos manuais mais recentes – cuja análise ainda está a desenvolver – «a violência é tratada não só na questão da violência física sobre as pessoas que foram escravizadas, mas também no plano simbólico, por exemplo, a violência dos processos de assimilação, de cristianização, de perda de língua, de identidade quase coletiva». Anteriormente, os mesmos «eram apresentados sempre muito no eixo do encontro de culturas».
Também a professora Alexandra Silva, que leciona História na área da Grande Lisboa, reconhece melhorias, mas frisa que ainda existem muitas questões a apontar aos manuais atuais. «Passou a ser essencial fazer entender aos alunos, não que nós, os portugueses, fomos um povo grandioso que conquistou além-mar, mas [que exercemos violência].» Ainda assim, diz encontrar, nos textos de autor dos manuais, passagens «que resvalam para esse enaltecimento dos feitos dos portugueses».
Há vários exemplos de narrativas contraditórias. No manual Vamos à História 8, da Porto Editora, a página dupla que é dedicada ao tema da submissão violenta dos povos – e que faz até referência aos protestos Black Lives Matter para ilustrar que a violência e a discriminação persistem -, é seguida por duas páginas intituladas «Portugueses e Espanhóis trouxeram um encontro de culturas?», onde, entre outras coisas, está escrito que «ao “descobrirem” novos mundos, novos continentes e novas gentes, desencadearam o encontro de culturas, processo de contacto entre diferentes culturas, a que se dá o nome de aculturação».
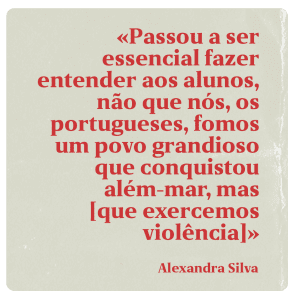
Também no manual Somos História 8, da Areal é possível detetar as duas visões, ainda que neste caso, esteja expressamente descrito, a negrito, que «os contactos entre Europeus e não europeus não foram um processo pacífico, atingindo, em alguns casos, relações de hostilidade». Também é referido, mais à frente, que «a aculturação não se realizou de igual forma, uma vez que envolveu populações em diferentes estados de desenvolvimento».
Já no manual H8, da Asa, lê-se que, «no império português, houve contactos entre culturas – europeias, africanas, americanas e asiáticas – que permitiram a troca de experiências, hábitos e costumes. Esta aculturação verificou-se de diferentes formas […]». É mencionada a «miscigenação, forçada ou consentida», que é exemplificada com a população brasileira atual que «resulta da relação, mui- tas vezes imposta, entre povos nativos, colonizadores europeus e seres humanos escravizados africanos […]».
A questão é que as próprias AE referem a necessidade de aplicar os conceitos de «aculturação/ encontro de culturas», «missionação» ou «globalização». Para Miguel Monteiro de Barros, não existe, necessariamente, uma contradição aqui, já que a ideia era mostrar que a diversidade de culturas já existia nos territórios. «Encontro de culturas e aculturação [são usados] para também se perceber que a própria identidade portuguesa é marcada por essa gente», explica.
Daí que, na sua opinião, o problema não esteja nas AE, mas sim na interpretação que delas é feita pelos autores de manuais. «Nós estamos a montante, isso já está a jusante», acrescenta.
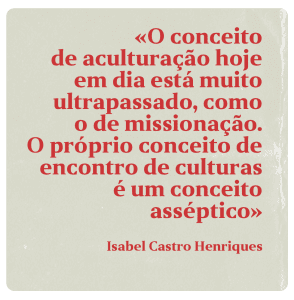
Para a historiadora Isabel Castro Henriques, especialista em História de África, colonialismo e relações afro-portuguesas, estes conceitos estão desatualizados. «O conceito de aculturação hoje em dia está muito ultrapassado, como o de missionação. O próprio conceito de encontro de culturas é um conceito asséptico», afirma.
«Quando se elabora um programa tem de se pensar na perspetiva historiográfica, naquilo que é correto, digamos assim, e que nós conhecemos hoje em dia, aquilo em que o conhecimento historiográfico já avançou», diz a historiadora. Para Isabel Castro Henriques, esses conceitos devem ser «desconstruídos», mas tal nem sempre é feito nos textos dos manuais referidos, onde a ideia de hierarquização de culturas «está presente». «Não sei até que ponto, ao escrever-se este discurso e ao privilegiar um certo número de conceitos e de categorias de análise, há consciência de que se está efetivamente a cair num quadro lusotropicalista», considera Isabel Castro Henriques.
Marta Torres que, em conjunto com Miguel Monteiro Barros, assina o manual Hoje Há História! 8 da Raiz editora – e que também esteve envolvida na definição das AE – refere que não se pode «branquear» todos os aspetos da história, assim como não se deve negar os aspetos positivos. «Nós temos de contextualizar claramente as aprendizagens que vão ser realizadas, com os conteúdos que temos nos manuais. Há um encontro e um grande desencontro [de culturas]», refere.

Desde os 10 anos de idade que «Patrícia» (nome fictício) recorda constrangimentos vividos em sala de aula. A disciplina era História, o tema era a Expansão Marítima e a exploração de recursos nos territórios ocupados pelos portugueses. «Havia muitos produtos a ser comercializados e um desses “produtos” eram pessoas. Eu fiquei mesmo muito… não sei… comecei a sentir-me desconfortável.» Ficou incomodada e não quis sequer ver o vídeo que a professora mostrou de seguida. «Não era bem medo, mas acho que poderia sentir receio de [isso se vir a passar] comigo. Eu ficava realmente muito triste e, muitas vezes, começava a chorar.» Baixou a cabeça e não disse nada. Se a memória não lhe falha, a professora nem sequer se apercebeu. «Não me lembro de alguma reação [dela]», conta.
Desde essa aula do sexto ano, «Patrícia», hoje com 16 anos, viu a representação de pessoas como produtos repetir-se ao longo dos ciclos de escolaridade. «Tenho ideia de que, na maioria dos manuais que eu tive até agora, isso aconteceu». «Agora não me faz tanta confusão porque eu sei que aconteceu e acho que já estou mais madura e mais preparada para isso», assegura a jovem.
Apesar de já existirem manuais que empregam o termo «pessoas escravizadas» outros ainda referem o «tráfico de escravos», ou listam seres humanos como produtos. A terminologia não está uniformizada, porém, é mais comum a referência à violência e ao sofrimento dessas populações. Também aqui, tudo depende dos autores.
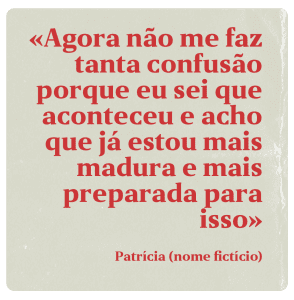
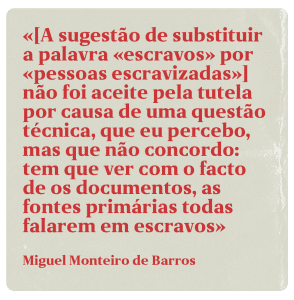
Marta Araújo deteta melhorias face aos primeiros manuais que analisou, há cerca de uma década. «Parece-me que há um maior cuidado na maneira como se refere as pessoas que foram escravizadas, inclusivamente em alguns casos já se usa a palavra “escravizados” em vez de “escravos”, que desnaturaliza um pouco.» Apesar disso, reconhece que ainda surgem mapas esquematizados nos quais «a figura do escravo é tida como equivalente à figura do ouro e dos produtos que circulavam».
No manual HSI – História Sob Investigação 8, da Porto Editora, por exemplo, a palavra «escravos surge numa tabela que lista os produtos comercializados pelos portugueses, mas contém um asterisco que, no fundo da página, indica que «nesta época os escravos eram considerados produtos».
«O que se nota aqui são pequeninos passos, para dar um pequeno sinal de que as coisas estão a mudar, mas não mudaram suficientemente», acrescenta Marta Araújo.
Miguel Monteiro de Barros relata que, durante a elaboração das AE, a Associação de Professores de História pediu para uniformizar a terminologia e definir que seria apenas usado o termo «pessoas escravizadas», em vez de «escravos». «[A sugestão] não foi aceite pela tutela por causa de uma questão técnica, que eu percebo, mas que não concordo: tem que ver com o facto de os documentos, as fontes primárias todas falarem em escravos», esclarece. Já Marta Torres, afirma não se poder “desvirtuar o conceito de escravo, porque ele existe». «Enquanto professora de História, tenho à partida, a capacidade de [fazer] a contextualização», acrescenta.
Perante a incoerência, há docentes que preferem assumir uma voz ativa e consciencializar os alunos para a importância das palavras. A professora Ariana Furtado, que leciona Estudo do Meio ao 1.º ciclo e é coordenadora da Escola Básica do Castelo, em Lisboa, desenvolveu, em conjunto com a DJASS – Associação de Afrodescendentes, o projeto Com a mala na mão, contra a discriminação que, entre outras iniciativas, procura desconstruir as narrativas patentes nos manuais escolares. «Este projeto iniciou-se há quatro anos e, quatro anos depois, eu tenho o mesmo manual, que tem a mesma visão», lamenta a docente.
Daí que, em sala de aula, trabalhe diariamente para fomentar uma visão crítica nos alunos, trabalho que diz estar a dar frutos. «Há dias uma aluna minha desenhou, por baixo da imagem do Infante D. Henrique, a rainha Nzinga [de Angola, que resistiu à ocupação portuguesa]. E ela disse: “Professora, estou a corrigir a História.”» Ariana Furtado diz ter ficado comovida. «Estas duas páginas onde eles começam a estudar a expansão marítima, são muito elucidativas de como o olhar é muito branco e não há nenhum tipo de referência aos povos que estavam em África», lamenta.
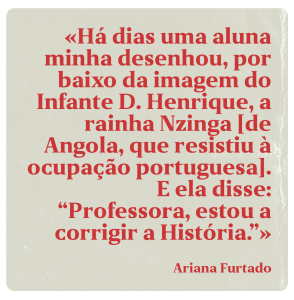
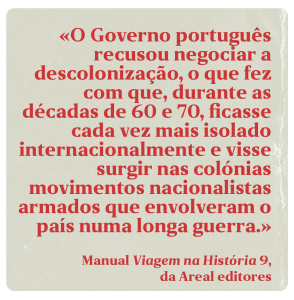
No 9.º ano de escolaridade, surge nos currículos a temática do Estado Novo, das contestações ao regime e da Guerra Colonial. Em muitos manuais – que, frise-se, estão em vias de ser substituídos no próximo ano letivo – o papel dos movimentos de libertação africanos é relegado para segundo plano, sendo muitas vezes uma pequena nota de rodapé.
No manual Viagem na História 9, da Areal editores está escrita a seguinte frase: «O Governo português recusou negociar a descolonização, o que fez com que, durante as décadas de 60 e 70, ficasse cada vez mais isolado internacionalmente e visse surgir nas colónias movimentos nacionalistas armados que envolveram o país numa longa guerra.» Esta descrição, particularmente a denominação «movimentos nacionalistas armados» é, para Julião Soares Sousa, investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra uma «deriva intencional que visa desvalorizar esses fenómenos nos conteúdos». «A ideia é ir retirando estes temas e outros dos manuais. No fundo, trata-se de uma estratégia de silenciamento dessas memórias, de as tornar invisíveis», acrescenta o especialista.
«Em lugar de transmitir essa imagem negativa de movimentos armados, os manuais deveriam ser capazes de explicar às crianças e aos jovens por que razão os movimentos independentistas optaram pela luta armada. É óbvio que a estratégia atual prejudica a compreensão de fenómenos», diz o académico.
Nas AE de História do 9.º ano, não é feita qualquer referência aos movimentos de libertação africanos, mas, para Marta Torres, que integrou a equipa que as elaborou, a importância dos mesmos está implícita. «Se estamos a trabalhar a Guerra Colonial é muito claro, na minha visão, que temos de trabalhar os movimentos libertadores e de resistência face ao domínio e ao controlo português», diz a docente e membro da APH. «Isto não fica além da Guerra Colonial, é a Guerra Colonial.»
No manual Missão História 9, da Porto Editora, as páginas 156 e 157 são preenchi- das com fotografias do período da Guerra Colonial. Uma imagem de um soldado português numa aldeia de Moçambique, ao lado de uma fotografia legendada como «soldados portugueses capturados por guerrilheiros africanos», onde os portugueses estão estendidos no chão indefesos, uma fotografia de um «guerrilheiro africano» e uma imagem de uma criança portuguesa órfã, são aliadas a um gráfico de barras sobre as «despesas extraordinárias do Governo português com a guerra» e uma paisagem de Luanda antes do conflito. «O que não se quer ou não se pode escrever, as imagens acabam por reforçar», diz Marta Araújo.
A investigadora refere que já viu «muitas imagens de africanos armados, com a espingarda até, por vezes, dirigida à pessoa que está a ler o livro e sempre usando as imagens para transmitir a mensagem que eram os negros que eram violentos e nos matavam a nós, portugueses brancos».
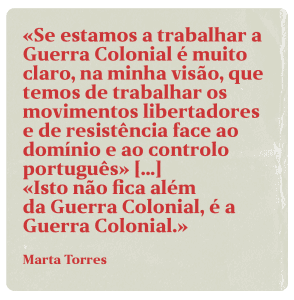
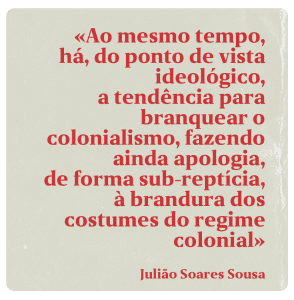
Com este tipo de descrições e representações estão-se a reproduzir «os mesmos clichês que levaram o regime colonial do Estado Novo a recusar sentar-se à mesa com os movimentos de libertação nacional e negociar uma solução pacífica para o problema colonial», diz Julião Soares Sousa. «Ao mesmo tempo, há, do ponto de vista ideológico, a tendência para branquear o colonialismo, fazendo ainda apologia, de forma subreptícia, à brandura dos costumes do regime colonial», acrescenta o investigador que diz haver uma diminuição do número de páginas dedica- das a estes fenómenos nos manuais desde 1974 à atualidade.
Para Julião Soares Sousa, «a história é uma disciplina fundamental no processo de aprendizagem e deve ser ensinada de modo a ampliar os horizontes das crianças e jovens. Deve contribuir, assim, para relevar os bons exemplos e também ajudar a não repetir erros do passado».