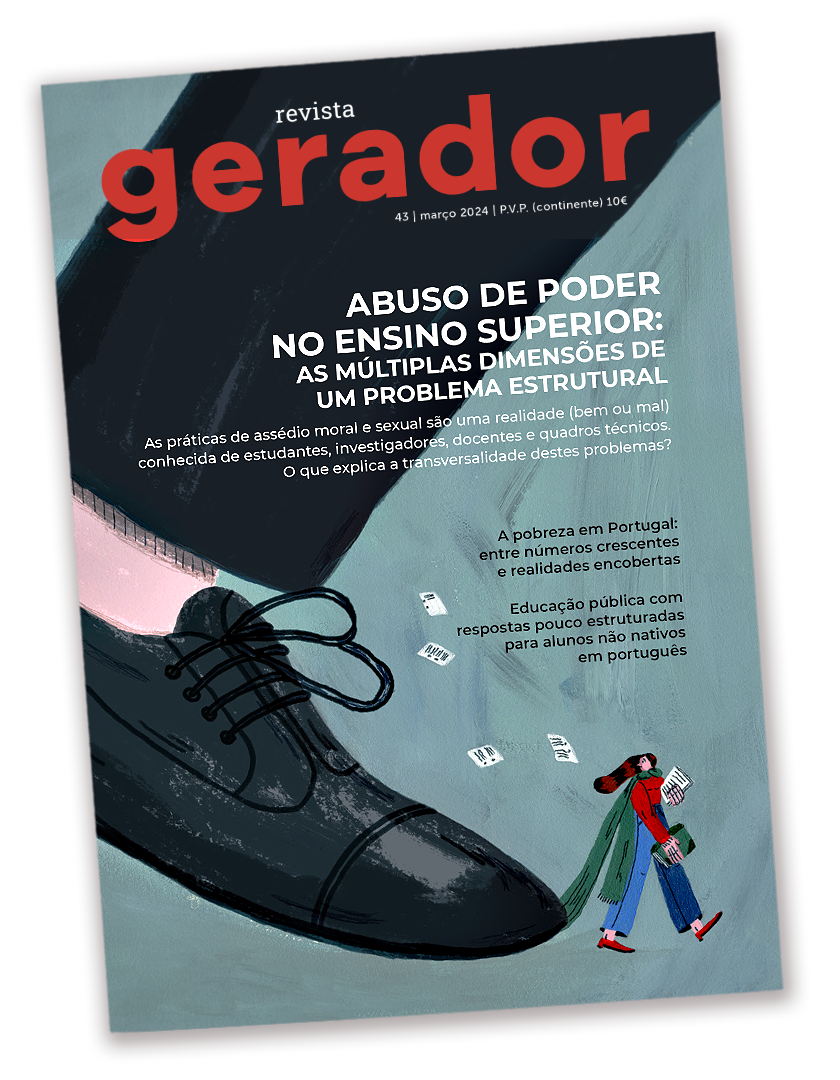Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
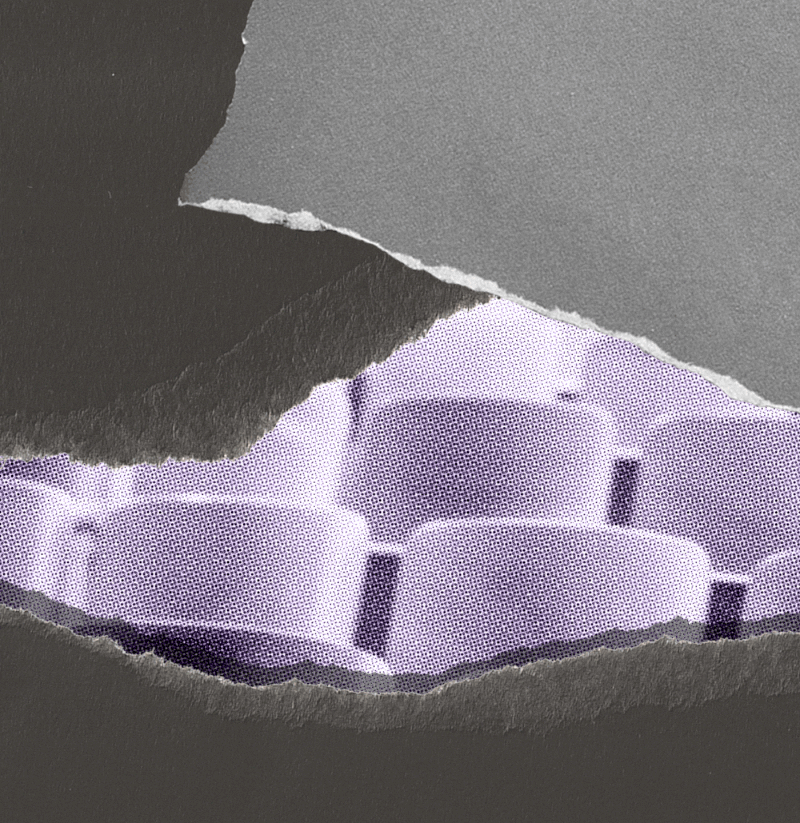
Texto de Débora Cruz e Sofia Matos Silva
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Ilustrações de Frederico Pompeu
Produção de Sara Fortes da Cunha
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Digital de Inês Roque
O assédio moral motiva cada vez mais pedidos de apoio jurídico ao SNESup, a associação sindical que representa docentes e investigadores. Especialistas e académicos entrevistados pelo Gerador apontam que estas práticas são tão “normalizadas” ou “normais” nas instituições de ensino superior que, em muitos casos, os agressores nem se apercebem de que estão a reproduzi-las. De igual modo, nem sempre as vítimas rotulam os comportamentos de que são alvo como abusivos. Para as pessoas que temem consequências resultantes da denúncia, o medo faz-se sentir mesmo quando já se passaram anos desde que se afastaram das instituições onde sofreram os abusos. Entre os provedores e sindicalistas, há quem reconheça várias causas que dificultam a apresentação de queixas: existem docentes que exercem um “poder absoluto” sobre os estudantes e instituições em que o “conservadorismo atroz” se traduz em repressão. Desde comentários humilhantes e insultuosos à desconsideração pela carga de trabalho e o isolamento, as práticas que podem ser consideradas assédio moral são vastas e os efeitos podem ser igualmente nefastos para as vítimas.
Esta reportagem é a terceira da investigação Abuso de Poder no Ensino Superior, publicada no Gerador ao longo dos próximos meses.
Em novembro, divulgámos um formulário para obter relatos de pessoas que tivessem conhecimento, testemunhado ou sofrido algum tipo de comportamento abusivo em contexto académico. Em três meses, recebemos 83 respostas referentes a 22 instituições portuguesas, incluindo universidades, institutos politécnicos e escolas superiores não integradas. O Gerador entrou em contacto com 75 associações de estudantes de universidades e politécnicos portugueses com o objetivo de divulgar o questionário junto dos respetivos estudantes. Apenas duas responderam.
O formulário ainda se encontra disponível online e pode ser preenchido de forma anónima.
Durante muito tempo, Helena [nome fictício a pedido da entrevistada] nem queria ouvir falar de ensino superior. O assédio moral que sofreu durante quatro anos num instituto académico, em Lisboa, culminou com o seu afastamento da instituição e da docência universitária. Tentou esquecer e ultrapassar a situação em silêncio, envolveu-se noutros projetos e chegou a dedicar-se a uma profissão completamente diferente, mas garante que a “dor da injustiça” não passa.
Até hoje, assegura não saber exatamente a causa de todos os abusos que vivenciou. As suas aulas foram boicotadas por colegas, e os projetos científicos que propunha eram rejeitados. As avaliações periódicas do seu desempenho, feitas pelos estudantes através dos inquéritos pedagógicos, diminuíram drasticamente sem razão aparente. “Começou a haver um clima horrível de mexericos”, diz, em entrevista ao Gerador, e os seus colegas, estudantes e funcionários, com quem tinha mantido boas relações, afastaram-se de si, deixando-a isolada.
Enquanto trabalhava na instituição mudaram-na de gabinete, substituindo o anterior por uma sala mais descentralizada e com piores condições, e foi-lhe retirado o regime de exclusividade, embora o seu número de horas letivas não tivesse diminuído. Propuseram-lhe assumir as horas de um colega que tinha sido afastado em troca de reaver o regime: acumulou horas e disciplinas a mais, mas não recuperou a exclusividade.
Quando o despedimento se tornou uma possibilidade cada vez mais forte, alguns colegas chegaram a sugerir-lhe que aceitasse escrever artigos em nome de outra docente para o impedir. No último ano em que esteve no instituto, viu o seu salário ser reduzido e, embora ninguém a tivesse avisado, quando consultou a distribuição de serviço para o ano letivo seguinte, o seu nome já não constava na lista. Em junho de 2015, Helena foi despedida por e-mail.
Em retrospetiva, o trabalho só correu bem durante dois meses, conta a docente. Quando foi convidada para integrar a nova equipa de um departamento no instituto lisboeta, saiu da universidade onde estava então a lecionar e abraçou o novo desafio, mais aliciante e atrativo para a sua carreira. Mas o convite que Helena recebeu foi enviado pelo seu orientador de doutoramento que, crê a docente, queria formar uma equipa “muito coesa” e “subordinada” com o objetivo de assumir a direção do instituto.

“Só que eu não fui informada dessas intenções. Apercebi-me, a dada altura, de que havia ali um problema de luta de poder e que eu fazia parte de uma das alas”, revela. Quando as pretensões do seu orientador se tornaram inviáveis e uma nova direção assumiu a liderança do instituto, desconstruir o núcleo de uma potencial resistência tornou-se num objetivo dos novos dirigentes. Helena acredita que foi isso que sucedeu e, durante anos, foi alvo destas práticas de assédio, que alega terem sido reproduzidas para que, perante a pressão, pedisse a demissão.
O caso que pensa ter dado início a estes abusos aconteceu há mais de dez anos, quando começou a dar aulas a uma turma com um grupo de jovens estudantes que caracteriza como “extremamente agressivo”: desestabilizavam a aula, interrompiam-na, eram desagradáveis com os colegas e faziam comentários inconvenientes. Durante o primeiro semestre de Helena no instituto, este grupo entregou um trabalho para avaliação que a docente alegou ter sido feito por estudantes em anos anteriores, devido às datas dos dados apresentados e pelo facto de a temática nada ter que ver com a disciplina lecionada.
Depois de consultar os seus colegas e o diretor do departamento sobre a melhor forma de agir, acabou por anular o trabalho. “A partir daí, tudo piorou”, conta. Helena sustenta que o diretor do instituto a submeteu a uma reunião (ou “julgamento”, como lhe chama) com os estudantes visados, sem nunca lhe ter sido dada qualquer oportunidade de explicar a sua versão dos factos ou de se defender. A docente guarda, até hoje, os sucessivos e-mails em que os alunos a ameaçaram com processos legais e recorda que o caso chegou a ser analisado pelo Conselho Pedagógico. “Não sei exatamente o que se passou nessa reunião. Sei que o diretor do departamento, no fim, veio dizer-me que me tinha salvo a pele”, declara. Helena continuou na instituição, mas não viria a dar mais aulas a essa turma.
A docente sente as consequências desta situação até aos dias de hoje. Tinha receio de voltar a lecionar, mas, no ano passado, após vários anos de afastamento, as circunstâncias da sua vida pessoal fizeram-na ocupar, de novo, a função de professora. Atualmente, Helena é responsável por três turmas numa nova instituição, e as aulas têm corrido bem, mas a docente já se deu conta de “um certo trauma” que ainda não foi resolvido.
Com duas das turmas, Helena sente-se “descontraída”, e as aulas decorrem com muita naturalidade. A terceira, por outro lado, fá-la lembrar-se da situação que viveu há mais de uma década, ainda que as turmas não tenham quaisquer semelhanças. Aliás, o “gatilho” prende-se com o simples facto de se tratar de uma turma diurna (por oposição às suas turmas pós-laborais). Ainda assim, com estes jovens estudantes, a professora está sempre “ansiosíssima” e “cheia de medo”.
Há anos que Carolina Amante se tem dedicado à defesa de trabalhadores vítimas de assédio moral e refere que os casos que tem acompanhado, como advogada, traduzem sempre um comportamento padrão. “Não existe necessariamente uma discussão em que acontece alguma coisa. Muitas vezes, estas práticas surgem associadas a mudanças de chefias. Aos poucos, a pessoa começa a ser afastada, a ser discriminada de alguma maneira e a ser posta de parte”, explica, em entrevista ao Gerador. A advogada dá conta de que é comum as entidades empregadoras reproduzirem este tipo de práticas para fragilizarem os colaboradores. “Quando as pessoas já se encontram mais frágeis do ponto de vista emocional, abordam-nas para uma saída, e elas aceitam.”
Existem muitas formas de infligir assédio moral, esclarece a advogada. A sobrecarga de tarefas, ou o esvaziamento de funções, o isolamento, a mudança de local de trabalho sem razão aparente, e-mails e mensagens que são ignoradas, ou a exclusão da participação em reuniões são, para além de atitudes ou comentários insultuosos e ofensivos, algumas das práticas que podem constituir assédio moral em contexto laboral. Carolina Amante explica ainda que, ao contrário do assédio sexual, o assédio moral não engloba tantas práticas genderizadas: estes comportamentos não são necessariamente motivados pelo género ou maioritariamente reproduzidos por homens sobre mulheres, ainda que comentários sexistas possam constituir assédio moral.

O assédio moral não constitui crime, em Portugal, sendo considerado, no entanto, uma contraordenação muito grave no Código do Trabalho. Desta forma, é comum que as definições deste tipo de práticas sejam associadas ao contexto laboral.
No lexionário do Diário da República, o assédio moral é descrito como o “comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador […].”
Por sua vez, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego enumera uma série de exemplos de situações que podem constituir assédio moral:
• Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores/as, forçando o seu isolamento face a outros colegas e superiores hierárquicos;
• Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas reiteradas, ou comentar sistematicamente a vida pessoal de outrem;
• Fazer brincadeiras frequentes com conteúdo ofensivo referentes ao sexo, raça, orientação sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde etc., de outros/as colegas ou subordinados/as;
• Criar sistematicamente situações objetivas de stress, de modo a provocar no destinatário/a da conduta o seu descontrolo;
• Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos de colegas ou de subordinados sem identificar o autor das mesmas;
• Transferir o/a trabalhador/a de setor com a clara intenção de promover o seu isolamento.
Se algumas destas situações configuram de forma óbvia práticas abusivas e inadequadas, outras não são tão evidentes. Alguns comportamentos não parecem, pelo menos à partida, configurar assédio moral. Ainda assim, são muitas vezes praticados com o objetivo de intimidar, desestabilizar, humilhar ou pressionar de alguma forma as vítimas. Estas práticas podem provocar um ambiente de trabalho hostil que acaba por ter consequências nefastas para os trabalhadores e a sua saúde mental, sobretudo quando praticados de forma sistemática:
• Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho;
• Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas;
• Pedir sistematicamente trabalhos urgentes sem necessidade, assim como estabelecer prazos inexequíveis ou metas e objetivos impossíveis de atingir;
• Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à categoria profissional ou proceder à falta de ocupação efetiva ao não atribuir quaisquer funções aos trabalhadores;
• Contabilizar o número de vezes e contar o tempo que o trabalhador/a demora na casa de banho.
No ensino superior, algumas destas práticas são normalizadas, afirma Carlos Gouveia, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro eleito pelos professores e investigadores no Conselho Geral da instituição. “[Algumas práticas] são tão naturalizadas e estão tão enraizadas no quotidiano das instituições que as pessoas não se apercebem, efetivamente, de que estão a praticar assédio.” Ao mesmo tempo, defende, as pessoas que são objeto do assédio, muitas vezes, também não se apercebem de que estão a ser assediadas. “[Este] é o legítimo funcionamento das instituições: as instituições funcionam assim e as pessoas aceitam, mas não deveriam aceitar.”
“NÓS NÃO TEMOS PLENA CONSCIÊNCIA DO QUE É QUE SE ESTÁ A PASSAR NO MOMENTO”
Ao longo do seu percurso e carreira académica, Joana [nome fictício a pedido da entrevistada] foi alvo de assédio moral em múltiplas situações. Em entrevista ao Gerador, recorda um professor que usufruía “constantemente” do seu poder hierárquico para reproduzir atitudes abusivas e justificar comportamentos inapropriados. A ex-estudante conta que o docente universitário tinha por hábito reunir-se com os alunos, coautores ou assistentes de investigação em sua casa. “As minhas experiências foram sempre positivas, mas lembro-me de que a primeira vez que fui estava em pânico, e tinha uma pessoa no carro à minha espera, porque eu não sabia o que é que havia de esperar.”
Quando era estudante de mestrado, o professor quis agendar uma reunião consigo no âmbito de um trabalho, mas como era assistente de investigação num outro projeto, não iria conseguir deslocar-se a tempo para o compromisso e pediu para reagendar. “Ele foi bastante rude e altivo na resposta”, conta. “Não sei se podemos chamar uma ameaça, mas [fez] uma tentativa de [me] humilhar um pouco ao usufruir do seu poder hierárquico. Disse-me, claramente, que eu não tinha interesse em escrever e desenvolver aquela pesquisa com ele, porque se tivesse, não lhe ia dizer que não. [Disse-me] que havia muitas pessoas interessadas, quase como se isto fosse uma questão da lei da oferta e da procura.”
Joana confessa que, na altura, a situação a “marcou” de forma bastante negativa. A ex-estudante garante que este tipo de situações não eram casos isolados e aconteciam também com outros estudantes, mas salienta que a consciencialização da gravidade destes problemas não é imediata. “Quando estas situações acontecem em contextos tão assimétricos de poder na academia, nós não temos plena consciência do que é que se está a passar no momento, principalmente se formos jovens. Eu não tinha essa consciência, e acho que isso faz com que tudo [estes problemas] se perpetue.”
Anos mais tarde, enquanto investigadora, Joana também testemunhou e viveu situações que afetaram sua integridade moral, bem como a de colegas. Recorda situações reproduzidas por um investigador que tinha “vários comportamentos repreensíveis” que continuam até aos dias de hoje. “[Ele] ataca os colegas e, por vezes, fá-lo publicamente e também nas redes sociais, denegrindo as credenciais dos mesmos. É claramente uma pessoa que tem uma postura de superioridade face aos outros, a somar-se a uma atitude clara de bullying, tornando o espaço de trabalho difícil e minando também a nossa confiança, autoestima e as nossas relações com os demais colegas.”
O objetivo, assevera, é a humilhação: por se tratar de “um investigador que, apesar de jovem, tem muita visibilidade nos meios de comunicação (por ser polémico) e na área disciplinar (neste caso, por ser bom investigador [e ter] muita produção académica)”, Joana acredita que as atitudes e comportamentos abusivos têm um “efeito perverso” ainda maior.
Ao Gerador, Carlos Gouveia admite que, ao longo da sua carreira, também foi alvo de assédio moral. “Sempre que temos uma pessoa afetada, afeta-se um conjunto de pessoas. Uma prática de assédio nunca é de um para um, é sempre de um para vários, porque dessa prática de um para um, resultam outras redes. São coisas interconectadas que provocam danos colaterais. Isto é muito grave e acontece sistematicamente”, sustenta. O docente universitário garante ainda que este tipo de comportamentos acontecem a “todos os níveis” nas instituições de ensino superior. Apesar do foco frequentemente concedido a situações ocorridas entre docentes e os seus superiores, ou a casos que envolvem estudantes e professores, as práticas de assédio são também visíveis entre o pessoal não docente e não investigador.
Ao fim de 17 anos a trabalhar como técnica superior na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade NOVA de Lisboa (FCT-NOVA), Maria [nome fictício a pedido da entrevistada] demitiu-se. Durante os últimos sete anos, foi alvo de assédio moral e a situação fez com que abdicasse do seu posto de trabalho. “Saí por causa disto, já não aguentava mais. Era muito desgastante”, conta em entrevista ao Gerador. Maria acredita que tudo começou quando a direção da faculdade decidiu fazer reestruturações organizacionais. Os colegas com quem então trabalhava foram transferidos, e a técnica superior foi a única da sua equipa que transitou para uma divisão distinta.
Já com a nova equipa, passou a secretariar a sua chefe de divisão. “Uma vez, assim do nada, virou-se para mim e disse: ‘Tu nunca hás de sair desse lado da secretária’. Como quem diz: ‘Nunca hás de ser chefe’”, conta. Este tipo de situações tornaram-se muito frequentes, e Maria passava os dias “à espera” do próximo comentário para se defender. A técnica superior alega que a chefe de divisão tentava sempre rebaixá-la e humilhá-la em frente aos seus colegas. “Sentia-me perseguida por ela. Pedia-me para fazer coisas e estava à procura da vírgula que estava fora do sítio para dizer que estava mal. Andava sempre à procura de um pretexto qualquer para dizer mal do trabalho que eu fazia.”
Durante anos foi este o seu quotidiano, até que decidiu apresentar queixa. O atual canal de denúncias da Universidade NOVA de Lisboa não existia nessa altura. Ao mesmo tempo, não existia (nem existe) na instituição um provedor institucional ou direcionado para o pessoal não docente, pelo que Maria decidiu enviar um e-mail ao diretor da instituição. “Estive três anos a tentar que o diretor me ouvisse, mas como a secretária do diretor tinha sido colega dela [chefe de divisão], interceptava sempre as minhas mensagens”, alega. Decidiu, então, enviar um e-mail para o endereço eletrónico pessoal do diretor. “Quando enviei mensagem para o seu e-mail pessoal, o diretor recebeu-me logo. Ele ficou completamente de boca aberta.”
Ainda assim, o então diretor encontrava-se no final do seu mandato e iria abandonar a direção da faculdade, pelo que a situação de Maria continuou por resolver. Decidiu, então, enviar a sua denúncia para a Inspeção-Geral de Finanças que, por sua vez, a encaminhou para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC). “A IGEC não inspecionou nada. Passou o caso para a alçada do reitor da universidade, que nomeou, na FCT, um professor como inquiridor, que era amigo dela [chefe de divisão]. Portanto, o caso foi enviado para a própria faculdade, que arranja metodologias de ilibar [os acusados].”

“A INSPEÇÃO NÃO INSPECIONOU…”
A Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) exerce a sua atividade no âmbito da educação pré-escolar e da educação escolar, junto dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública e das redes privadas, cooperativa e solidária. “Cabe à IGEC acompanhar, controlar, avaliar e auditar os estabelecimentos de educação e ensino […] tendo em vista garantir a confiança social na Educação e informar os decisores políticos e a opinião pública”, lê-se no portal de serviços públicos ePortugal.
Na plataforma digital é explicitado que é possível “fazer uma exposição” ou “apresentar uma queixa” à IGEC sobre factos ocorridos num estabelecimento de ensino ou serviço do Ministério da Educação, e que a exposição ou queixa será tratada de forma confidencial. No entanto, pode ler-se também que só se deverá recorrer à exposição ou queixa se “não conseguir resolver a situação pelos órgãos competentes do estabelecimento de ensino ou do serviço do Ministério da Educação.”
Durante os meses de fevereiro e março, o Gerador solicitou informações à IGEC via e-mail, seguindo orientação dada pelo secretário, durante o contacto telefónico. As perguntas tinham o objetivo de perceber qual o procedimento adotado no caso de apresentação de uma queixa de assédio à entidade. De igual modo, questionou-se qual a política de atuação no caso de o denunciante não ter conhecimento dos órgãos competentes no seu estabelecimento de ensino para lidar com este tipo de casos, ou se não se sente confortável para apresentar queixa na sua instituição. Até a publicação deste texto, o Gerador não obteve resposta.
Quando o caso foi transferido para a universidade, Maria já tinha abandonado a instituição há cerca de um mês. Ainda assim, foi a primeira a ser ouvida no processo de auscultação, entretanto iniciado, das partes envolvidas no caso. Apesar de terem presenciado as práticas de assédio a que foi sujeita e, em alguns casos, serem também alvos dessas mesmas práticas, segundo a técnica superior, os colegas não testemunharam a seu favor. “Eles continuavam sob a alçada dela [chefe de divisão] e penso que, se calhar, foi por causa disso. Só uma pessoa, uma professora que não estava diretamente sob a sua alçada, é que disse a verdade.” Por falta de provas e de testemunhas, o caso de Maria acabou por ser arquivado.
O atual diretor da NOVA FCT, José Júlio Alferes, que assumiu funções em junho de 2022, alegou que, por motivos de agenda, não poderia conceder uma entrevista presencial ou por videochamada ao Gerador sobre o tema. No entanto, respondeu às questões enviadas por escrito, via e-mail. Sobre a denúncia de Maria, garante que: “Todos os trabalhadores da NOVA FCT são incentivados a basear a sua atuação em critérios de total respeito pelos direitos humanos. Acreditamos, assim, na boa conduta dos nossos trabalhadores quando questionados sobre qualquer situação, não havendo, por isso, motivos que se configurem como inibidores à [sua] auscultação, sempre que se afigure necessário o esclarecimento de uma qualquer situação.”
Quanto à isenção dos inquiridores nomeados para a averiguação das exposições apresentadas, o diretor sustenta que a nomeação cabe ao reitor da universidade, que “procura sempre garantir a maior independência dos inquiridores.” Acrescenta ainda que: “existem os mecanismos legais para os envolvidos nos processos poderem contestar as nomeações dos inquiridores, por incidentes de suspeição, ou outros.”
Passou-se quase uma década desde que Helena foi despedida da instituição na qual foi alvo de assédio moral. Apesar de não ter, neste momento, qualquer vínculo ou ligação com o instituto, preferiu o anonimato para contar a sua experiência. Se não se encontrasse a lecionar numa nova instituição com um vínculo precário, teria preferido ser identificada, confessa, mas tendo em conta as circunstâncias, ainda teme possíveis consequências, como más recomendações. Durante os anos em que esteve afastada da docência universitária, ainda tentou regressar algumas vezes, e em duas das ocasiões em que foi rejeitada teve sérias dúvidas sobre se a recusa não teria que ver com solicitações de informação feitas sobre si à instituição da qual foi demitida.
“Tenho muita pena de ter medo de denunciar mesmo, ou seja, de mostrar a cara e de dizer quem foram as pessoas. Este mundo, infelizmente, é muito pequenino e eu não quero problemas. [As instituições de ensino superior] são círculos muito pequenos. Não é esquisito [ainda temer represálias], porque as pessoas comentam, estes assuntos vêm à baila e os mexericos são normalizados”, explica. De facto, o receio de represálias, motivado pela partilha de experiências de assédio com o Gerador, tem sido demonstrado por todos os entrevistados até ao momento.
OS CASOS DO INQUÉRITO DO GERADOR
Das 83 respostas ao formulário do Gerador, divulgado em novembro, cerca de 50 referiam situações que sobrepunham vários tipos de assédio moral, nomeadamente a humilhação e a apropriação de trabalho intelectual. Destas pessoas, oito identificaram-se como homens, uma pessoa preferiu não identificar o seu género e as restantes identificaram-se como mulheres. Dos participantes que reportaram casos de assédio moral, cerca de 18 afirmaram ter recorrido a apoio psicológico devido a este tipo de práticas. Entre os participantes que não se demonstraram disponíveis para uma entrevista, alguns decidiram, ainda assim, partilhar as suas experiências.
“Os meus anos de mestrado foram dos mais traumatizantes da minha vida. O abuso verbal e psicológico era comum, e eu só percebi realmente quão tóxico o ambiente académico era quando mudei de país e experimentei outras realidades em que os comportamentos dos superiores hierárquicos com que trabalhei jamais seriam aceites. O mais triste é que a minha história é ecoada por vários colegas que trabalharam com algumas das mesmas pessoas que eu, [e] outros com [superiores que tinham] comportamentos semelhantes”, escreve uma das participantes.
Clara [nome fictício] era técnica superior numa instituição universitária. “O relacionamento entre os vários serviços da faculdade é péssimo devido a quezílias pessoais entre coordenadores de área ou [do] núcleo. Por isso, muitas vezes, fui impedida de fazer o meu trabalho, que depende muito do trabalho em conjunto com outros órgãos”, conta. Clara sente que o seu profissionalismo era repetidamente posto em causa devido ao ambiente tenso entre colegas. “Senti que vivia em constante guerra fria. Isso fez com que ficasse com um burnout e, de momento, estou em casa com baixa psicológica. Só a ideia de voltar àquele sítio dá-me ataques de pânico.”
Beatriz [nome fictício] sofreu vários abusos ao longo dos seis anos em que exerceu funções como investigadora. “[Sofri de] humilhação à frente dos colegas de trabalho, desconsideração total pela vida pessoal (marcação de trabalho de campo ou viagens sem o meu consentimento prévio, tendo que organizar a minha vida conforme a vontade da investigadora principal), não podia marcar 22 dias úteis de férias (apenas me deixavam tirar 10 dias úteis de férias por ano, apesar de formalmente ficar registado que tinha tirado os 22 dias úteis previstos no contrato), prazos apertados para a realização de tarefas que implicam elevado esforço intelectual, equipas com poucos membros (uma ou duas pessoas a fazer o trabalho de quatro ou cinco pessoas), etc.” A investigadora conta que todas estas situações culminaram num diagnóstico de burnout e na sua consequente baixa médica.
Meses após ter sido despedida, Helena contactou o SNESup – Sindicato Nacional do Ensino Superior na esperança de poder iniciar um processo contra a instituição por assédio moral, através do apoio jurídico disponibilizado pelo sindicato aos seus sócios. “A advogada disse-me logo que era muito difícil provar as acusações, até porque era necessário ter quem testemunhasse e ninguém o iria fazer.” No entanto, diz, através da advogada, conseguiu uma pequena indemnização e as partes dos subsídios de férias e de Natal a que a “instituição era obrigada, mas a que procurou fugir.”
Responsável por cerca de metade do orçamento, o apoio jurídico prestado aos sócios é a maior despesa do SNESup, de acordo com José Moreira, presidente da associação sindical de docentes e investigadores. O também professor na Universidade do Algarve esclarece, em entrevista ao Gerador, que o apoio jurídico solicitado pelos sócios devido a situações de assédio não representa a maior fatia da despesa, embora os casos se tenham vindo a agravar. “Posso dizer, de uma forma genérica, sem violar nenhum segredo, que [os casos] chegados a tribunal não foram muitos, mas há bastantes consultas com advogados que são motivadas por causa do assédio moral.”
Sem especificar números concretos, o presidente do SNESup dá conta de que o sindicato recebe dezenas de queixas de assédio moral por ano. O aumento do número de casos ao longo dos anos, defende, é motivado pelo crescimento do “conflito dentro das instituições” e pelo facto de se falar cada vez mais deste tipo de práticas. O dirigente sindical acredita que existe uma maior “tomada de consciência” por parte das vítimas, que vão tendo uma maior facilidade a entender que o que estão a experienciar não constitui uma relação de trabalho normal. “[Ainda assim], também posso dizer que, muitas vezes, é só no decorrer da conversa com o advogado que as pessoas acabam por perceber que estão a ser vítimas de um processo de assédio.”

A ligação de José Moreira com o ensino superior começou na década de 1980, com o início do seu próprio percurso académico enquanto estudante. Hoje, com 56 anos, acredita que as práticas de assédio moral não serão “normalizadas”, mas são “normais” no mundo académico. “Parece um pleonasmo, mas não é exatamente. Penso que são cada vez menos aceites, nesse aspeto, não estão normalizadas, não são a norma. Mas, estatisticamente, penso que existem práticas de assédio moral, sobretudo no ensino superior, [porque] há relações de poder muito fortes”, sustenta.
O sindicalista explica que, quando os sócios se dirigem ao sindicato, nem sempre estão à vontade para contar à direção as razões que motivam a procura de apoio jurídico. Nesses casos, o SNESup encaminha os docentes e investigadores para os advogados independentes que trabalham com a associação sindical (estes profissionais não são funcionários do SNESup). “O que está na relação entre o advogado e o sócio, para nós, é perfeitamente desconhecida”, garante.
“Não posso dizer se temos muitos ou poucos casos: é muito difícil fazer esse seguimento, porque fica no segredo da relação entre o cliente e o advogado. De qualquer maneira, é lógico que, depois, em conversas informais com colegas, nota-se sobretudo [a existência] de situações de assédio moral ou laboral”, acrescenta o dirigente sindical.
COLETIVO DE VÍTIMAS CRITICA AUSÊNCIA DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO DA COMISSÃO INDEPENDENTE DO CES
No dia 13 de março último, os resultados da Comissão Independente constituída para investigar os casos de abuso no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra foram divulgados. O relatório demonstra que as pessoas denunciantes relataram situações referentes a assédio moral e sexual, abuso sexual, extrativismo intelectual e infrações ao Código de Trabalho. Os casos de extrativismo intelectual (como a apropriação das ideias e do trabalho de investigadores/as) e as infrações à legislação laboral (como a sobrecarga de trabalho e a exigência de tarefas que não se adequavam às funções e categorias profissionais dos/as investigadores/as) denunciadas pelas vítimas podem enquadrar-se na definição de assédio moral. Ainda assim, a comissão esclareceu que não se iria focar na análise destes casos. “Separadamente, cada uma destas questões reveste-se de uma complexidade muito significativa, pelo que seria uma tarefa quase intangível querer responder a todas no período de tempo definido”, justificaram os autores. A comissão entendeu que os casos de extrativismo intelectual deveriam ser analisados pela Comissão de Ética do centro de investigação.
Na 6.ª carta do Coletivo de Vítimas do Centro de Estudos Sociais, representado legalmente pela advogada Daniela Félix, as autoras contestam esta decisão. As investigadoras asseveram que, em virtude da abordagem escolhida, uma “parte estruturante das situações de assédio moral e de abuso de poder reportadas” não foram analisadas pelas entidades, nomeadamente a “exploração da força de trabalho de estudantes e investigadoras e o extrativismo intelectual com vista a sustentar os índices de produtividade académica de investigadores seniores.” O coletivo diz possuir “evidências suficientes de más práticas” por parte de Boaventura de Sousa Santos que se enquadram nessas categorias e que devem ser analisadas. “Cabe à Comissão de Ética do CES agir imediatamente sobre essas denúncias, abrindo um canal apropriado para receber denúncias e informações, reunindo-se com a Comissão Independente para se inteirar das situações e dos casos que já foram denunciados”, reivindicam.
Na carta, as mulheres que integram o coletivo abdicam do anonimato para se juntarem a três denunciantes já conhecidas publicamente: Moira Millán, Miye Nadya Tom e Lieselotte Viaene. “Na esperança de que nossos esforços vão repercutir não só numa mudança cultural e política, mas institucional (legislações dos diferentes países, estatutos das universidades, regimentos, etc.), apresentamos abaixo nossos nomes, levantando nosso anonimato e nos comprometendo publicamente com esta agenda”, escrevem as autoras: Aline Mendonça dos Santos, Carla Paiva, Élida Lauris, Eva Garcia-Chueca, Gabriela de Freitas Figueiredo Rocha, Julia Suárez-Krabbe, Isabella Gonçalves, Mariana Cabello Campuzano, Moira Millán, Miye Nadya Tom, Lieselotte Viaene e Sara Araújo.
Há cerca de oito anos, Inês Machado estava a iniciar o seu percurso no ensino superior. A Universidade do Minho foi a instituição que escolheu para esta nova fase da sua vida e, vinda de uma escola católica, o ambiente universitário, que prometia “zero julgamentos” e “todas as oportunidades”, era aliciante. No primeiro ano, motivada pela curiosidade, decidiu frequentar a praxe. Embora admita que, na altura, “não sabia muito bem o que é que era aceitável ou não”, a antiga aluna confessa que, em retrospetiva, viveu e assistiu a múltiplas práticas que “afetavam a integridade moral” dos estudantes.
“Brincavam com a sexualidade e com a raça de colegas meus. Tinha uma colega chinesa e, literalmente, chamavam-lhe chingling, entre outros nomes, e ela tinha só de aguentar. Durante um mês aguentou, mas, durante os nove meses de praxe, houve momentos em que se foi mesmo abaixo. Já não era uma piada, era só racismo. Outra colega, que é cabo-verdiana, metiam-na a falar crioulo”, conta Inês, em entrevista ao Gerador. A antiga estudante acrescenta que o machismo e a misoginia eram também frequentemente incorporados na praxe através de comentários dirigidos às alunas.
XENOFOBIA E MISOGINIA
Múltiplas respostas ao questionário do Gerador eram referentes a casos de xenofobia, sobretudo para com estudantes brasileiros, além de misoginia e homofobia. Uma participante diz ter vivido e testemunhado vários casos de xenofobia na sua instituição de ensino, reproduzidos por docentes e estudantes. “Mesmo que denunciados, [os casos] não são tratados com seriedade. Muitas vezes são ignorados ou relevados pela diretoria”, escreve. Por sua vez, Raquel [nome fictício] foi estudante imigrante durante os anos 2000. “Quando me perguntam sobre a xenofobia e os abusos sofridos em Portugal durante esse período, constato que o pior lugar, onde a xenofobia é maior e mais terrível, é na comunidade académica. As humilhações foram diárias e constantes.”
Bianca [nome fictício a pedido da entrevistada] é brasileira e decidiu vir para Portugal para fazer o seu doutoramento. Desde então, a estudante foi alvo de múltiplas situações discriminatórias que a levaram a interromper o seu percurso académico na instituição que inicialmente havia escolhido. “Sofri assédio moral pelo meu tema de investigação, pela minha escolha de orientação e, às vezes, pela minha nacionalidade. O programa [doutoral] cria um ambiente extremamente tóxico e opressivo e eu e três outros colegas desistimos justamente por isso: cheguei no final do primeiro ano em depressão, no segundo e terceiro não estava nada bem”, confessa, em entrevista ao Gerador.
Um dos principais problemas, conta, eram as aulas de seminário de investigação, que eram sempre lecionadas por mais do que um docente. “Parecia haver entre os professores uma competição para mostrar quem era o que tinha mais conhecimento e essa competição descia para nós.” Bianca afirma ter ficado “espantada” com a falta de camaradagem entre os docentes e entre os estudantes, sobretudo em momentos de crítica e de avaliação dos trabalhos. “Críticas vazias” e comentários destrutivos e pouco edificantes eram a norma, alega.
“Por exemplo, eu ouvi coisas do tipo: ‘Não tem sociologia no seu trabalho’. Quando o meu trabalho estava cheio de autores da sociologia, mas não tinha ainda, por falta de conhecimento meu, autores de sociologia portuguesa. Então, o que a professora deveria ter dito era: ‘Senti falta do autor X, Y, Z. Faltam aqui mais autores portugueses’. E em vez de dizer isso, fazia sempre críticas muito pejorativas que deitavam abaixo os alunos”, conta.
Numa das aulas a que assistiu, Bianca fez uma questão a um dos docentes, apesar de o teor da pergunta não se relacionar com a sua área de especialização. “Os professores associavam conhecimento ao poder e quando não tinham conhecimento sobre alguma coisa eles se sentiam desempoderados. Aí, o que eles faziam era humilhar os alunos e esse professor fez comentários muito machistas para mim.” Um outro professor, conta, fazia frequentemente comparações entre os temas analisados e tarefas domésticas. “A maioria da turma era composta por mulheres, sendo que muitas eram brasileiras. Ele fazia comentários que estabeleciam comparações com coisas domésticas, como se para perceber o que o professor queria dizer, tínhamos de ter uma correlação entre aquela disciplina e a cozinha.”
Mas os comentários machistas eram feitos também pelas professoras, diz a estudante. “Escrevi o meu trabalho inicialmente partindo da premissa de que há um jogo de opressão onde a mulher é a oprimida e o homem é o opressor, e isso já é sabido na sociologia, na antropologia, nos estudos de género. [Ainda assim], duas professoras, no primeiro semestre, se sentiram muito ofendidas com isso, porque elas não enxergavam a mulher como oprimida. Na cabeça delas não havia opressão, porque, afinal de contas, elas estavam ali, num espaço de poder”, conta.
Bianca alega que as docentes criticaram de forma destrutiva o seu trabalho devido a esta situação. “Isso me surpreendeu muito, porque eu pensei: ‘Meu Deus, eu estou no século XXI. Eu estou num país europeu e preciso de explicar a duas sociólogas que há opressão do feminino.”
Inês recorda-se que numa das praxes em que participou, um dos doutores (nome dado, por norma, aos estudantes com duas ou mais matrículas que praxam os caloiros) cuspiu-lhe nos óculos e esfregou a saliva nas lentes com o dedo indicador. Esse estudante também usava óculos, conta, e justificou a atitude dizendo a Inês que já lhe tinham feito o mesmo. “Diziam-nos: ‘Nós já passámos por isto, aguentem! Já foi muito pior!’. Diziam que, na vida real, íamos ter patrões e outras pessoas que nos iam fazer frente dessa maneira, que tínhamos de estar preparados e de ter a pele rija. Só que no mundo real ninguém vai cuspir nos nossos óculos e esfregar o cuspo.”
Face a este tipo de práticas, os estudantes praxados não eram, por norma, confrontacionais. A antiga estudante alega que as possibilidades de o protesto ser produtivo eram reduzidas, tendo em conta que, em caso de altercação, os caloiros seriam castigados fisicamente ou gozados de alguma forma. Apesar de, gradualmente, deixar de se identificar com as atividades e comentários feitos em contexto de praxe, Inês tinha receio de que, se deixasse de participar, viveria o resto do seu percurso académico isolada.
“Até certo ponto tinha mesmo pânico. Eu sentia que queria sair, porque não me identificava com algumas coisas, mas sentia pânico… Sentia-me já vinculada àquilo, não havia maneira de fugir”, confessa. Foi continuando a participar até que o terceiro ano da sua licenciatura chegou, o ano em que, no seu curso, os novos doutores poderiam começar a praxar os novos caloiros. Inês sentia que este seria o momento em que ela e os seus colegas poderiam “fazer as coisas de forma diferente” e ser “um tipo de doutores diferentes” para os estudantes recém-chegados à universidade.
Ainda assim, e apesar de ter testemunhado e vivido experiências abusivas durante o seu primeiro ano de licenciatura, Inês admite que o que mais a perturbou em toda a sua experiência académica foi perceber que os “abusos” e “jogos sociais” com que tinha sofrido, estavam a ser reproduzidos pelos seus colegas. “O que mais me chocou, pessoalmente, foi [ver] amigos que tinha feito que, ao meu lado, também começaram um bocado inocentes, a abusarem desse poder, ou desse estatuto, que ganharam enquanto doutores”, explica.

Aos poucos, começou a afastar-se, mas quando decidiu confrontar os colegas, sentiu-se ostracizada e isolada. “Faziam uma pessoa sentir-se mesmo pequena por não querer aderir. Reforçavam a ideia de que temos de ser um e passar a ideia de uma frente unida, [diziam que] tínhamos de estar na praxe todos os dias.” Segundo a antiga aluna, inicialmente, os colegas desvalorizavam, de forma subtil, as suas opiniões de contestação, até que começaram a fazer comentários desagradáveis. “Diziam que eu me achava a rainha da verdade, entre outras coisas. Não incentivavam o suicídio, mas passavam a ideia: ‘Não estás aqui a fazer nada. És uma amiga da onça, ninguém vai dar pela tua falta’.”
Entretanto, a sua saúde mental começara a deteriorar-se. “Porque é que passados dois anos de ter sido praxada, ainda sinto esta pressão para aparecer todos os dias? E se não aparecer, sinto que vou perder estes amigos que, supostamente, eram para a vida? E, se não for sair à noite com eles, estou a perder memórias incríveis e já não estou a par na semana que vem?” Durante o terceiro ano, Inês não formalizou nenhuma denúncia, mas procurou ajuda psicológica profissional e a sua situação começou a melhorar. “Comecei a ver, lentamente, que não era preciso submeter-me àquilo, e que na vida se fazem amigos de várias outras maneiras.”
Na AAEUM (Associação Académica da Universidade do Minho), os dirigentes recebem “todo o tipo de denúncias”, ora relacionadas com práticas de assédio, ora referentes a questões pedagógicas e ao alojamento, entre outras. No entanto, a presidente da AAEUM, Margarida Isaías, frisa, em entrevista ao Gerador, que o papel da associação é o de encaminhar os casos recebidos para os órgãos competentes em cada Escola da instituição, e o de garantir que o devido acompanhamento é feito a cada caso.
A dirigente académica defende que a instituição minhota tem vindo a apostar em medidas de prevenção e de combate ao assédio, nomeadamente através da Estratégia Para a Prevenção do Assédio na Universidade do Minho, publicada em junho de 2022. No entanto, a estudante de Medicina sustenta que existe uma distância compreendida entre as medidas previstas e a respetiva implementação, ainda que dê conta de que a instituição já alocou verbas para criar uma plataforma de denúncia e para implementar medidas de sensibilização. “Falta pôr muito em prática e, para isto, é importante e é necessário financiamento, e a UMinho, com o subfinanciamento crónico que atravessa, tem dificuldades”, atesta.
O CABIDO DE CARDEAIS
Na Universidade do Minho, o Cabido dos Cardeais, composto pelos estudantes com cinco ou mais matrículas, é o Órgão Máximo da Praxe. “O Cabido tem por importante função a de zelar por uma correta interpretação deste Tratado, para que a Praxe seja sempre respeitada, e as suas noções compreendidas e cumpridas”, lê-se no Código de Praxe da Academia Minhota.
Nos dias 23 de fevereiro e 4 março, o Gerador tentou contactar o Cabido dos Cardeais, via e-mail, o único contacto disponibilizado, solicitando uma entrevista e dando conta do conhecimento de uma estudante que havia sido alvo de assédio moral em contexto de praxe. Até ao momento, não obteve resposta.

Ainda que separados por cerca de 370 quilómetros, a experiência de Hugo [nome fictício a pedido do entrevistado] é semelhante à de Inês em vários aspetos. Ambos testemunharam dinâmicas de grupo entre estudantes que permitem, facilitam e agravam a reprodução de práticas de assédio moral. “A dinâmica era muito simples, na verdade”, diz Hugo, em entrevista ao Gerador, “a leitura que faço da situação é a de que cada um deles se sentia bastante inseguro em determinadas coisas, só que em grupo pegavam nas inseguranças de outras pessoas e sentiam-se validados em fazer o grupo rir: era o sentido de comunidade que eles criavam. Quando estávamos um para um, ou eram supercalados, ou até tentavam ser amigáveis.”
Durante o primeiro ano em que estudou na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), no ano letivo de 2020/2021, Hugo começou a escrever e a lançar música em nome próprio e, através das redes sociais, divulgava as suas criações. Rapidamente começou a receber reações, com emojis a rir, às stories que publicava no Instagram, tanto de colegas, como de pessoas que não conhecia, mas que sabia pertencerem a um grupo de estudantes já conhecido por incomodar alguns colegas. “Depois, passou para comentários nas publicações a identificarem outro pessoal do círculo, a comentarem coisas que, imagino, sejam piadas internas. Não se percebia muito bem, mas era incómodo. Era incómodo perceber que estava ali qualquer coisa que não era construtiva ou para elogiar”, conta.
Algum tempo mais tarde, quando estava em casa, por volta das 2h30 da manhã, recebeu uma chamada de um número privado. Quando atendeu, identificou “claramente” as vozes de alguns dos estudantes do “círculo”, que começaram a tocar músicas suas e a rir em tom jocoso. Hugo desligou, mas as chamadas continuavam, até os alunos desistirem de ligar. Durante cerca de seis semanas, o procedimento repetiu-se: ligavam de madrugada, tentavam humilhá-lo, Hugo desligava, e eles insistiam.
Este tipo de situações não aconteciam apenas à distância ou através das redes sociais. Na instituição, Hugo alega que era frequente os estudantes olharem para si, fazerem comentários e rirem-se. “Isto não é coisa de paranóia mesmo. Era tão recorrente que comecei a perceber que: ‘Eles estão mesmo a olhar para aqui e estão mesmo a rir-se de mim e a gozar comigo’”, reitera. Este tipo de atitudes continuaram durante o resto do seu percurso na ESML.
Hugo assevera que estes “comportamentos tóxicos”, a par da “competitividade intensa” que se sente na instituição, fazem com que seja frequente estudantes abandonarem os estudos. “Toda a gente neste meio conhece, pelo menos, uma pessoa que desistiu da música à custa destas situações, seja a nível universitário, seja a nível do secundário.” O antigo estudante alega que este tipo de práticas eram perceptíveis também em alguns dos docentes, que singularizavam estudantes, em contexto de sala de aula, com comentários que Hugo considera serem pouco construtivos ou edificantes.
Mas mais comum que esses comentários, diz, era a existência de um “ambiente de passivo-agressividade” que Hugo considera ser ainda mais destrutivo, e que se estendia para fora das paredes das salas de aula, sendo “palpável” também em concertos ou jam sessions. O antigo aluno acredita que muitos artistas e docentes do meio artístico musical acabam por reproduzir uma “cultura de alta competição” que promove “atropelos a colegas” com o objetivo de alcançar objetivos pessoais. “Em vez de olharem para isto como uma experiência negativa, escolhem replicar essa cultura com a qual toda a gente já sofreu, de uma forma ou outra, mesmo os que agora participam nela. É um bocado aquela lógica do mandar abaixo porque constrói caráter, e nós sabemos que isso é treta.”
Hugo chegou a falar sobre este ambiente aos docentes com quem tinha mais confiança e a contar-lhes sobre a situação que tinha passado com os colegas. “Todos eles me respondiam com desilusão por saberem que estas situações continuam a acontecer, porque aconteciam no tempo deles, [ainda que] com outros feitios. Todos eles mostraram desilusão, mas notava-se um sentimento de impotência, quase como se já tivessem havido n denúncias e n tentativas de resolver a coisa. Mas o problema é tão estrutural que é difícil encontrar uma solução.”
Em entrevista ao Gerador, o presidente da Associação de Estudantes da ESML (AEESML), Miguel Dias, defende que o “ambiente extremamente competitivo” é característico do meio artístico musical devido à “escassez de postos de trabalho” e à “constante exposição” a que os estudantes têm de se sujeitar. “A ESML, nisso, não é exceção”, remata o estudante da licenciatura em Música, que acredita que este ambiente é sobretudo impulsionado por alguns docentes. “Por falta de imparcialidade acabam por favorecer mais uns alunos do que outros, obviamente que a personalidade de cada estudante também é fundamental para se concretizar esta fórmula.”
Ainda assim, através da sua “experiência” e “conhecimento”, Miguel Dias considera que o ambiente em sala de aula é “bastante relaxado, produtivo e acolhedor”. O estudante sente que a existência de aulas práticas e individuais (ou com pequenos grupos) possibilitam a criação de laços fortes entre os alunos e o pessoal docente, mas não desconsidera que as experiências possam ser negativas. “Somos obrigados a contactar com um professor de forma próxima, no mínimo, uma hora por semana, e quando a pessoa não nos compreende ou acolhe da forma certa, esta experiência pode tornar-se num enorme pesadelo.”
Desde que assumiu a presidência da AEESML em fevereiro de 2023, Miguel Dias diz ter recebido apenas uma queixa de um grupo de estudantes referente ao abuso de poder e práticas de assédio moral por parte de um docente. Foi assim que teve o seu primeiro contacto com o Provedor do Estudante do Instituto Politécnico de Lisboa. “O trabalho, abertura e disponibilidade que o Doutor Trindade Antunes demonstrou para connosco, associação, e para com os alunos, foi impecável”, admite. Ainda assim, confessa que a maioria da comunidade estudantil da ESML não reconhece a existência do cargo.
A ESML E AS RESPOSTAS INSTITUCIONAIS
O Gerador solicitou uma entrevista ao atual diretor da ESML, Adélio Carneiro, com o objetivo de saber mais sobre as políticas de atuação da Escola perante eventuais casos de assédio e dando-lhe conhecimento do caso de Hugo. O diretor respondeu que só assumiu funções em finais de julho de 2023 e que desconhece a situação descrita no e-mail enviado. Posteriormente, o Gerador esclareceu que, ainda assim, gostaria de saber mais sobre as atuais políticas de atuação da instituição, não sendo necessária a discussão de casos específicos ou das situações que ocorreram quando ainda não era diretor da instituição. Ainda assim, o diretor não respondeu. O Gerador mantém-se disponível para ouvir a sua perspetiva das questões apresentadas.
O Gerador tentou também contactar o Provedor do Estudante do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Trindade Antunes. No entanto, mencionando a “natureza de confidencialidade aplicável” ao cargo, o provedor disse não estar disponível para qualquer entrevista. O Gerador esclareceu que não estaria interessado em saber de casos concretos, singularizar situações ou em identificar os estudantes que contactam a provedoria, mas em conhecer os procedimentos existentes para eventuais queixas. Ainda assim, não voltámos a obter resposta. Por fim, o Gerador tentou contactar o presidente do IPL, Elmano Margato, via e-mail, através do seu secretariado, mas não obteve qualquer resposta.
Até ao momento, o Gerador contactou 16 fontes institucionais, incluindo provedores, antigos provedores, reitorias e diretores e presidentes de instituições de ensino superior. No total, obtivemos nove respostas e, dessas, seis aceitaram conceder uma entrevista no âmbito deste trabalho. Por sua vez, das seis respostas positivas, apenas três pessoas aceitaram uma entrevista presencial (o Provedor do Estudante do Porto, Carlos Costa, e a diretora da Faculdade de Belas Artes do Porto, Lúcia Matos) ou por chamada (o primeiro provedor da Universidade de Lisboa, Raul Bruno de Sousa). Duas pessoas (o diretor da NOVA FCSH, Luís Baptista, e a provedora do estudante da Universidade NOVA de Lisboa, Alexandra Curvelo) aceitaram conceder uma entrevista por escrito, mas, após a sugestão do Gerador para que fosse feita por videochamada ou modo presencial, não retornaram o contacto até à publicação deste texto.

Sentes que os estudantes acabam por não formalizar denúncias por receio de represálias por parte da direção ou dos docentes? “Sem qualquer dúvida, afirmo que sim”, atesta Miguel Dias. O presidente da AEESML acredita que, devido à reduzida dimensão do meio institucional em que se inserem, o corpo docente acaba por ter um grande poder sobre a comunidade estudantil. “Os docentes têm na sua mão o poder para interferir substancialmente com o nosso futuro profissional, existindo docentes, como o [alvo] da queixa supra referida [a única queixa que recebeu desde fevereiro de 2023], que o usam como uma arma de defesa.”
O dirigente académico acredita que existem situações similares à que lhe foi reportada pelo grupo de estudantes que apresentou queixa junto da associação estudantil, mas “ainda não foram expostas devido ao medo” de represálias. “Mesmo a [situação] que foi exposta está parada e demorou imenso tempo a ser apresentada, pois os alunos têm receio das consequências que possam vir a sofrer devido à influência do docente em questão no nosso meio”, revela.
Na Universidade do Porto, o medo de retaliações parece não ser sentido por todos os alunos de igual forma. Ao longo dos seus anos como Provedor do Estudante, Carlos Costa admite que as diferentes unidades orgânicas da universidade se relacionam de modo distinto com as suas comunidades estudantis, e o conservadorismo de algumas ajuda a explicar os reduzidos pedidos de ajuda que recebe. Em entrevista ao Gerador, sem referir exemplos, o provedor argumenta que se trata de uma questão de cultura das diferentes áreas. “De forma abstrata, por exemplo, [existem unidades nas quais] o corpo docente manifesta formas de poder à moda antiga. Posso dizer que os estudantes têm que se portar bem, ‘senão’… Existe uma grande questão de poder do professor face ao estudante, poder absoluto, digamos assim.”
Já o presidente do SNESup, José Moreira, acredita que as diferentes dinâmicas de poder e as relações estabelecidas entre os membros da comunidade académica não serão uma consequência suscitada por diferentes áreas científicas, mas antes pela cultura de cada instituição. Salvaguardando que se trata de uma opinião pessoal e não uma conclusão de um qualquer estudo científico, José Moreira diz existirem instituições “em que há um conservadorismo atroz e as práticas do senhor professor catedrático sobre os professores mais abaixo, ou dos professores sobre os alunos, é mais vincado”.
Mesmo dentro da própria instituição, entre faculdades, escolas ou departamentos, o dirigente sindical diz existirem, por vezes, diferenças significativas. “Estou na Universidade do Algarve e as relações entre docentes e discentes também variam muito de faculdade para faculdade, e até de departamento para departamento”, exemplifica. José Moreira explica que as instituições mais pequenas tendem a ser mais repressivas a todos os níveis. “Quer nas relações de trabalho, quer nas relações entre estudantes e docentes, normalmente são bastante mais repressivas e mais conservadoras do que instituições maiores.”
A diferença, explica, encontra-se na diversidade: as instituições de maior dimensão são capazes de aglomerar mais pessoas com diferentes culturas e “maneiras de estar na vida”, e isso faz a diferença, sustenta o sindicalista. “Em meios pequenos, o confronto cultural é mais pequeno, portanto, a evolução, no sentido da mudança de hábitos ou de culturas, é muito mais difícil do que em instituições mais cosmopolitas, com pessoas que vêm de várias áreas e de vários percursos de vida. Isso é essencial”, conclui.