Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

A disciplina da História constrói – no tempo presente – narrativas sobre o passado, numa tentativa de o interpretar. As narrativas criadas pelos historiadores baseiam-se em escolhas de fontes (registos) que foram produzidas no passado. São normalmente fontes escritas, pelo facto de a escrita ser muito anterior à fotografia, à gravação de som e ao cinema. No entanto, fontes audiovisuais (som e imagem) podem igualmente revelar muito sobre o passado contemporâneo. São, também elas, escolhas de quem as produziu ou mandou produzir, e, por isso, parciais e em coexistência com outras fontes, tanto audiovisuais como de outras tipologias. Porém, são capazes de nos mostrar para além da palavra, não ficam refém da descrição, de adjetivos – por mais manipuladas (no sentido da montagem) que sejam, têm sempre um fundo documental. Na minha tese de mestrado, analisei um documentário e uma reportagem produzidos pela RTP aquando da independência de Moçambique. As imagens são ricas, mostram-nos coisas que muito dificilmente a palavra seria capaz de abarcar – o que as pessoas cantavam, vestiam, como falavam, eram os seus olhares, etc. –, ajudam a captar o espírito dos tempos. Apesar disso, seria ingénuo vê-las como meras ilustrações do passado – tal como num texto, são fruto de um olhar que se quis transmitir.
Diria que o cinema, talvez mais do que a fotografia, está muitas vezes na minha cabeça quando escrevo. Pensando melhor, acho que é sobre as coisas que imagino poderem estar num filme ou numa fotografia que consigo escrever.
Olhando em retrospetiva, vejo que o tema das relações coloniais (ou do fim delas) tem sido um fio condutor entre aquilo que tenho estudado e algumas atividades que tenho feito. Trata-se de um tema vastíssimo que, até agora, não esgotou a minha curiosidade. É apenas assim que me sinto, como alguém curioso que tenta explorar assuntos que o interessam, e que, obviamente, não se pode escusar a dizer de onde fala – isto em termos académicos. Se decidir pensar os historiadores como intérpretes do passado e interlocutores de uma mesma conversa, posso apenas dizer que espero que a minha tese tenha contribuído para esse debate. No que toca aos textos literários, não me imagino como intérprete ou interlocutora de nada, nem sinto necessidade de explicitar o meu lugar de fala.
O tema do que é ser estrangeiro interessa-me. Porém, não penso que o texto seja uma reflexão sobre o tempo que passei fora de Portugal, apesar de, durante esse tempo, ter assistido a coisas que nele são relatadas.
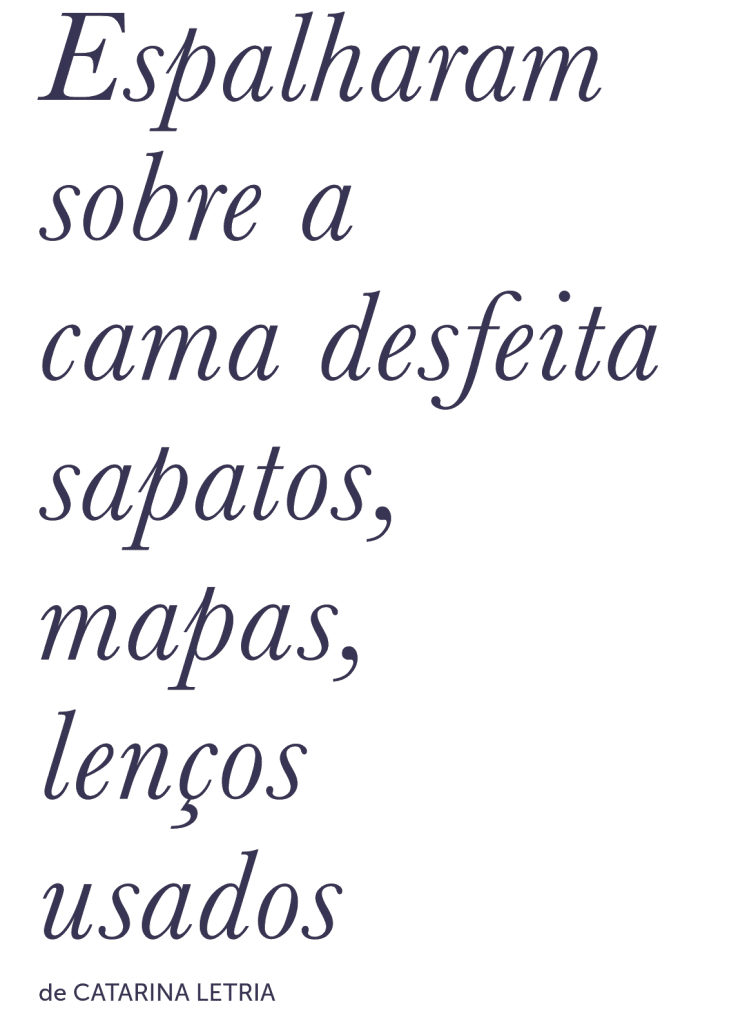
Espalharam sobre a cama desfeita sapatos, mapas, lenços usados. Iam partir, não voltariam àquela que tinha sido a cama dos últimos dias, e, por isso – porque ali não voltariam mais –, podiam enchê-la de coisas que tinham andado no chão. Alguém trataria de a fazer de lavado, fingi-la imaculada para os próximos que chegassem. Tentavam fazer caber tudo na mala, reconstruir como a tinham à chegada – mas havia sempre coisas que se compravam pelo caminho. Deixaram as toalhas usadas no chão da casa de banho. Era o seu pequeno gesto dramático de despedida. Gostavam de encontrar camas benfeitas, toalhas macias e espessas nos toalheiros, mas não se importavam em deixar o tufão da sua passagem pelos quartos que temporariamente habitavam. Estavam resguardados – quem limpasse os vestígios da sua estadia não os chegaria a cruzar. Poderia apenas imaginar a partir do que veria no caixote do lixo, dos cabelos no ralo, das manchas nos lençóis e nas toalhas, quem sabe, marcas de batom.
Aquela cidade, a que vinham sendo cada vez menos estranhos nos últimos dias, era-lhes de novo estranha naquela manhã. Na rua assistiam ao lento retomar do dia, iam dizendo um adeus mental às coisas. Apesar dos vinte graus, os transeuntes usavam casacos de penas. É sabido que os locais se vestem mais de acordo com a estação do ano do que com a temperatura real. Os turistas, esses, sim, não ligam a modas. Há quem viaje para escapar ao inverno, há quem deixe lugares por neles não existirem as quatro estações. A ela, o Natal em África sempre lhe parecera absurdo, Natal com quarenta e cinco graus, ir à praia no dia de Natal, não poder ter um pinheiro em casa. Mas, no hemisfério sul, o Natal é no verão.
No quiosque em frente ao passeio onde apanharam um táxi para o aeroporto, havia um velho desdentado a vender spremuta. Tinha uma certa expressão universal da velhice, os olhos baços dos velhos – deviam ser cataratas. Mais pareciam os olhos dos peixes que as peixeiras fazem passar por frescos aos mais incautos. O velho da spremuta ouvia a exaltação da filha de cabelo quebradiço que ora se punha do lado de dentro do balcão junto ao pai ora do lado dos clientes. Tudo por causa do carteiro que já há uns tempos se enganava na morada, e as cartas que eram para ela acabavam sempre na porta errada. Ao balcão, do lado dos clientes, estava um homem de meia-idade demasiado bem vestido para beber o primeiro café da manhã num quiosque daqueles. Parecia, porém, conhecer pai e filha, entrava na conversa, dava conselhos. Os gelados que estavam na arca frigorífica eram imemoriais, a substância conservara-se pelo gelo. Antes, o velho vendia-os aos que ali compravam o bilhete de autocarro para o aeroporto e queriam aproveitar o último gelado na terra dos gelados. Mas desde que deixara de vender bilhetes de autocarro tinham desaparecido os clientes para os gelados, e o quiosque passara apenas a vender café em chávenas mal lavadas e, muito raramente, sumo de laranja. No rádio ligado, discutia-se como o turismo naquela Páscoa batera recordes. Há coisas que só interessam a quem é dos sítios.
No caminho para o aeroporto, iam-se afastando cada vez mais do centro da cidade, entrando em bairros que nunca tinham visto – primeiro, ricos, depois, cada vez menos ricos, por fim, pobres. Mas para onde quer que olhassem viam montanhas. Passaram por um estádio de futebol, pela sede da televisão com a sua grande antena metálica. O trânsito era caótico, tinham feito bem em ir cedo para o aeroporto. A caminho do trabalho, os condutores sonolentos pareciam autómatos. Viram mulheres a sair do supermercado com o que seria o jantar daquela noite. Apesar da perdição que era aquela comida, as mulheres eram volumosas apenas nos sítios certos. Não se podia dizer que eles não fossem um casal bonito. Vistoso, pelo menos. Mas havia qualquer coisa nos italianos. Eles pensavam se não poderia ser da beleza do país, o meio a influenciar a espécie – num sítio tão bonito as pessoas só podiam ser bonitas também. Tinham dado a volta à ilha como faziam nas longas viagens de carro em Angola, visto o mar e o vulcão.
Agora que chegavam ao aeroporto e se iam desapegando daquela terra, podiam finalmente admitir que tinham saudades do pão de Portugal, e que o caos pitoresco das ruas se tornava insuportável ao fim de pouco tempo. Apesar de ter parecido que a pista ia acabar antes de o avião descolar, de um lado, o mar, do outro, a montanha – mesmo casada com ele, ela nunca perdera o medo de voar –, estavam finalmente a sobrevoar a ilha. Sentiram um certo desprezo por aquilo tudo, terra árida que só dava laranjas e limões. Apanharam turbulência, e um passageiro berrava Porca Madonna, gritava que o tinham feito voar pela primeira vez.
No seu lugar habitual à mesa habitual da esplanada habitual, comendo o habitual queque gorduroso, ela lembrava-se daquela que tinha sido a última viagem dos dois, para comemorar os quarenta anos de casados. Fazia hoje vinte anos, vira por acaso a data há pouco no telemóvel. Fora pouco antes de saberem que ele estava doente. Cancro no pulmão, já não havia nada a fazer quando os médicos descobriram.
Ela acendia outro cigarro daqueles finos, muito direita na cadeira, e absorvia a gordura do queque num guardanapo translúcido. Insistia em continuar a ir àquele café, apesar de o marido nunca ter gostado de lá ir porque achava o dono sovina, um unhas de fome que servia bolos velhos. Mas ela passara ali todas as tardes com amigas que, entretanto, tinham morrido ou sido depositadas em lares. A bem da verdade, era uma das poucas resistentes, e sentia nisso um orgulho secreto que, em certos momentos, vinha ao de cima. Sempre soubera de si ser viçosa. Para além disso, o Sr. Josué já a deixava pagar a conta ao final do mês. Nunca fora nenhuma Sophia Loren, mas junto ao marido fardado de azul da Força Aérea ficava mais bonita. Era baixa – mignone, como se costumava dizer – cara estreita, cabelo pintado de preto. A pele era tão morena que parecia tratar-se de uma máscara, efeito reforçado pelo fúcsia com que obstinadamente pintava os lábios sumidos desde que chegara a velha. Também ela ganhara os olhos embaçados dos velhos.
– Quando voltámos em 1975, fomos para a terra dos pais do meu marido por uns tempos. Os meus sogros insistiram, queriam ver os netos. Eu não pude dizer que não, tive de me contentar. Ficava tudo a olhar para mim na rua, eu era a única mulher a conduzir e a usar calças. Fumava e já era assim morena. Aliás, tenho a impressão de que aquele sol nunca me saiu da pele. Imagine o que é o Natal com quarenta e cinco graus a transpirar. Psicologicamente, a mim que vinha da Beira Alta, aquilo fazia-me cá uma confusão… No Brasil, é igual, também já lá estive, costumávamos ir passar o ano para a praia. A gente veste-se toda de branco, parece que é por causa lá do candomblé. Eu que sou toda pinturas, lá em Angola, nem me pintava, não valia a pena. Escorria tudo pela cara abaixo com o suor. Mas ainda assim prefiro isso ao frio. Os bichos de lá são formidáveis, havia de ver aquelas lagostas…
A interlocutora acenava com a cabeça, arregalava os olhos para parecer que imaginava bichos descomunais, semicerrava-os para fingir que sentia o sabor da lagosta. Hoje, era a dona Luísa – devia andar pelos setenta –, ainda estava a aprender a vida de reformada com as últimas dondocas do bairro.
– Eu casei-me com o meu marido em 1963. Tinha ido ao Ultramar visitar o meu primo direito que era oficial da Marinha e estava lá com o ministro. Ele era mais velho, mas crescemos como irmãos, eu sou filha única. Conheci o meu marido através do meu primo, ele era oficial da Força Aérea e estava colocado na Base Aérea n.º 9, em Luanda. Era sete anos mais velho do que eu. Foi amor à primeira vista. Eu voltei para Portugal, andámos um ano, nem isso, a cartas, casámos logo a seguir. Eu fui para lá, uns tempos depois o meu marido foi colocado no Lobito. Esse foi o meu lugar preferido, tinha as melhores lagostas.
A interlocutora semicerrava de novo os olhos. Nunca tinha comido lagosta.
– Também estivemos em Moçambique. Aí já os miúdos eram pequenos, mas não gostei tanto. Para além disso, o meu marido sempre teve uma queda pelas enfermeiras paraquedistas, eu nunca achei graça nenhuma àquilo. Mas, olhe, nunca me foi infiel, disse-mo ele na nossa viagem de quarenta anos de casados à Sicília, faz hoje vinte anos.