Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


Segundo os últimos censos em Angola, realizados em 2014, cerca de 71 % das pessoas falam o português em casa, sendo este o idioma mais usado no país – o segundo maior de língua oficial portuguesa, depois do Brasil. «É um número brutal que significa a irreversibilidade da adoção do português pelos angolanos como sua língua nacional, ao lado de outras línguas de origem africana, mais concretamente de origem bantu», afirma João Melo. O escritor e jornalista, que se tem posicionado publicamente sobre o tema, acredita que o número de falantes do português deverá aumentar no próximo recenseamento da população – tal como se tem verificado nas últimas décadas –, com o alargamento da urbanização, o aumento do número de jovens e a mobilidade territorial dos cidadãos.

Neste território, o idioma predomina no litoral e nos principais centros urbanos, onde residem perto de 60 % dos angolanos. «Aí, a tendência é as pessoas falarem apenas em português. E muitas famílias não falam nenhuma outra língua», diz João Melo, acrescentando: «É claro que é um português influenciado e marcado pelas línguas africanas.» As diferenças, como explica, existem principalmente na língua falada, não só ao nível do léxico, mas também no plano sintático, ou da pronúncia. «Há alguns fenómenos, como a tendência para cortar o s, quando se faz o plural, que é uma tendência que também existe no Brasil, exatamente pelas mesmas razões», elucida. «As línguas bantas angolanas – e as línguas bantas, em geral – não usam s para fazer o plural. Portanto, na língua falada é comum, sobretudo, pessoas sem muita escolaridade, ouvi-las falar no plural, mas sem s», exemplifica.
Para o escritor, o futuro passará pela formalização de uma variante nacional, mas, primeiro, é preciso estudar as mudanças em curso. «Estudá-las, normalizá-las e estabelecer as normas e as regras dessa variante angolana do português, como os brasileiros fizeram. Esse é o caminho, que, para mim, é inevitável em Angola também.»

Em Moçambique, dados oficiais indicam que o português é falado – como língua primeira e segunda – por aproximadamente metade da população, partilhando espaço com dezenas de outros idiomas – sobretudo do grupo bantu –, dominados por mais de 80 % das pessoas. Porém, o mosaico linguístico vivido no país não se espelha nas políticas vigentes, sendo o português a única língua oficial, conforme consigna a Constituição da República – não obstante, o documento valorizar também as línguas nacionais.
Na pérola do Índico, como é conhecida esta nação da África Austral, o português é indissociável da vida administrativa e económica. «Para conseguir um salário do Estado, para se formar, para poder trabalhar no banco, o português é importante», conta David Langa, linguista e professor da Universidade Eduardo Mondlane. «As línguas nativas, que não o português – as bantas –, não têm acesso a esses espaços. Os funcionários podem falar essa língua entre eles, podem falar com uma pessoa se souberem que essa pessoa fala a língua, mas não podem fazer os requerimentos, por exemplo, para oficializar o espaço onde vivem.» Na opinião do docente, tal situação traduz-se num «preconceito linguístico», dada a «função vazia» desses idiomas.
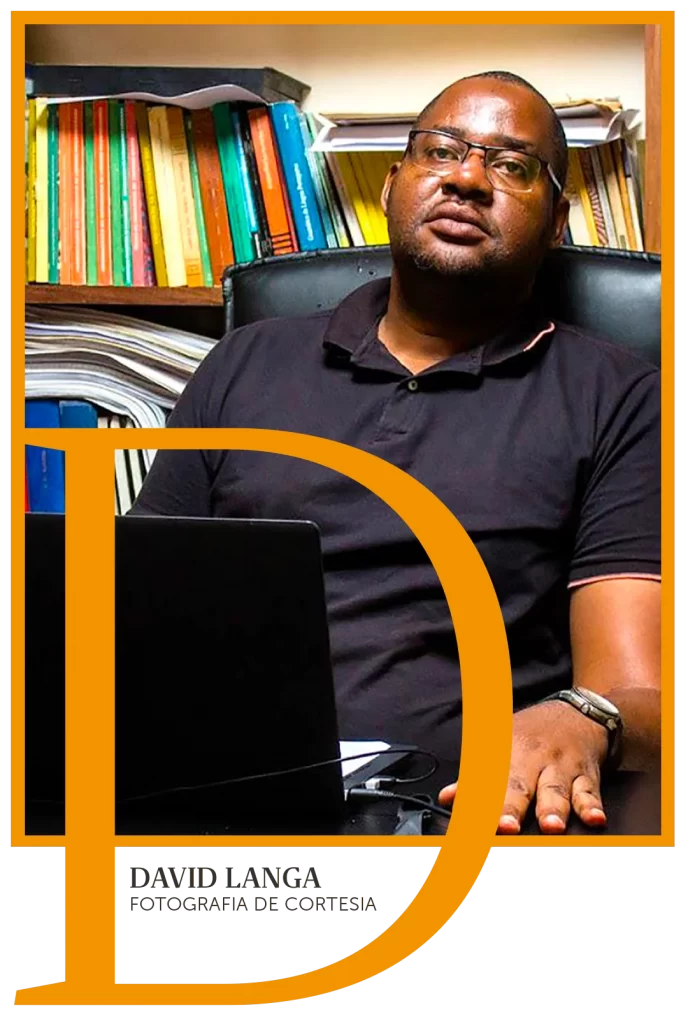
Os censos, realizados em Moçambique, têm revelado uma tendência de redução do número de falantes das línguas bantas – cujo ensino foi proibido durante o período colonial. Contrariamente, a língua portuguesa tem vindo a ganhar expressão. De 1,2 %, em 1980, o número de moçambicanos que usam o português, enquanto língua materna, foi crescendo ao longo dos anos (6 % em 1997 e 10,7 % em 2007), representando, em 2017, quase 17 % da população – uma percentagem que, também nesta geografia, aumenta nas cidades. «O português é uma língua que tende a ser mais urbana do que rural. Há mais frases de português nas cidades do que fora delas», refere David Langa, elucidando que a crescente urbanização e o maior número de crianças no ensino formal justificam a expansão do idioma no país. «Isso é bom!», sublinha. «Mas também não é mau as pessoas falarem as suas línguas nativas.»
O linguista participou num projeto que procurava compreender as atitudes e usos de cerca de 18 línguas nacionais, partindo das perceções de estudantes, de Maputo, Quelimane e Caia. «Devido ao estatuto de diglossia [uma relação desigual do ponto de vista social entre as duas línguas] que caracteriza Moçambique, em que temos uma língua portuguesa como língua oficial – a língua da administração, da escola, do poder, da entrevista – e as línguas bantas como as línguas mais de casa – e sem uma função formal claramente estabelecida –, muitos estudantes tendiam a dizer que não iam passar a sua língua materna, banta ou moçambicana, aos seus filhos, dado o contexto em que se envolviam e a função própria da língua portuguesa.» Os motivos prendiam-se com o facto de o português ser encarado como a língua de acesso à economia, ao emprego e de formação.
De acordo com a constituição do país, «o Estado valoriza as línguas nacionais como património cultural e educacional e promove o seu desenvolvimento e utilização crescente como línguas veiculares» da identidade moçambicana. E, nesse sentido, Langa defende que há boas práticas, nomeadamente, na educação – em Moçambique, o modelo de ensino bilingue é possível, desde 2003, da primária ao sétimo ano, embora tenha pouca expressão. Para o docente universitário, todavia, é preciso desenvolver uma «política linguística expressa», que inclua todos idiomas.
Para Mbiavanga Fernando, professor do Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda (ISCED-LUANDA), o facto de a maior parte da população angolana ser capaz de se expressar em português lança o desafio de não excluir aqueles que não falam o idioma: «Sem a língua portuguesa, nos termos em que a constituição e a lei de bases colocam esta língua, as pessoas ficam excluídas daquilo que é a participação significativa nos assuntos da sociedade angolana.» O linguista defende, por isso, «uma certa equidade e solidariedade para com as outras línguas».
Dos quase 26 milhões de habitantes recenseados no país, em 2014, mais de sete milhões falam pelo menos uma língua nacional em casa, sobretudo nas zonas rurais – onde 51 % dos cidadãos não comunica em português. «Sendo a língua oficial e de escolarização, toda a comunicação da máquina angolana é feita através da língua portuguesa», explica o docente. «Quando as nossas autoridades visitam esses espaços, precisam de tradutor para poderem comunicar com as comunidades. É muito melindroso, e muito constrangedor também.»
No seu entender, a inclusão das línguas locais contribuiria não só para a preservação desses idiomas, como para o desenvolvimento dessas comunidades. Mbiavanga Fernando reforça, no entanto, que tal realidade «não ia, de maneira nenhuma, chamuscar, muito menos afetar o valor que o português tem.»
No mesmo sentido, João Melo defende o desenvolvimento de políticas linguísticas, sobretudo ao nível da alfabetização, e nas regiões onde o português ainda não é a primeira língua falada em casa. «Faria todo o sentido que a alfabetização das crianças começasse por ser feita na língua que elas conhecem.» Mas, para isso, defende: «Já não basta um discurso, não basta reclamações. É preciso meter a mão na massa, estudar e adotar políticas linguísticas efetivas. É preciso formar professores. Não basta falar uma língua para ensiná-la, como todos sabemos. Em suma, é preciso menos demagogia e mais ciência.»

Na Guiné-Bissau, não existem dados oficiais recentes que permitam conhecer o número de falantes do português. Mas, segundo a linguista Zaida Pereira, a língua «está sobretudo confinada ao domínio escrito, sendo utilizada como língua de escolarização e em situações onde alguma formalidade assim o exija». A ex-reitora da Universidade Católica no país fala numa «situação de línguas em contacto, no quotidiano» e lamenta a falta de dados estatísticos atualizados sobre quem fala o português, quando fala e porque fala ou escreve. «É como se tivéssemos tacitamente aceitado que, por ser a língua oficial e de escolarização, não precisamos de fazer estatísticas, o que é um paradoxo tendo em conta que somos um país multilingue», critica.
Questionada sobre a hipótese de um ensino bilingue, Zaida Pereira refere que o tema está presente naquele território, desde o início dos anos 80. «Pelos nossos sobressaltos, essas questões foram sendo marginalizadas. Porque há questões mais prementes. Mas vêm sendo discutidas há bastante tempo, sobretudo, porque a luta de libertação também deu esse exemplo», menciona. «Foi preciso alfabetizar os guerrilheiros, e isso foi o embrião daquilo que podemos dizer o ensino bilingue, crioulo-português. Não se tinha domínio das outras línguas para se poder ensinar.»

No arquipélago de Cabo Verde, a maioria da população aprende a língua portuguesa em idade escolar. Como explica Amália Lopes, linguista e investigadora da Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa, o crioulo cabo-verdiano «é a língua materna da quase totalidade» das pessoas, e o português «funciona como língua segunda».
Também aqui, toda a instrução é feita em português, tendo atingido em 2010, segundo os censos, 98 % da população dos 15 aos 24. «Estamos numa situação de bilinguismo, em que as duas línguas são conhecidas», afirma a também presidente do Conselho Diretivo da Associação da Língua Materna Cabo-verdiana (ALMA-CV). Não obstante, ressalva, «a proficiência nessas línguas não é equilibrada».
Considerando toda a população, estima-se que só metade fale português fluentemente. Para o escritor Germano Almeida, é evidente que a língua cabo-verdiana é a «língua oficiosa», mas «não há muita gente» que seja bilingue: «A vida decorre em crioulo, estudamos é em português.»
Também neste país, o português é dominante no modo escrito e na «comunicação oral formal». Já o crioulo de Cabo Verde, que não é ensinado nas escolas, predomina na oralidade. «Nas situações do quotidiano, é a língua nacional e veicular, ou seja, é conhecida, compreendida e falada pela quase totalidade dos cabo-verdianos», explica Amália Lopes.

A par do bilinguismo, a investigadora identifica também «uma situação de diglossia», que considera ser, atualmente, «instável». De acordo com a própria, está-se «a romper esta compartimentarização restrita do uso das línguas», seja nos domínios formal e informal, seja nas questões oficiais. «Temos verificado alguma extensão da língua portuguesa para os domínios menos formais, mas [temos verificado] uma extensão, muito mais importante, em termos da língua cabo-verdiana para os domínios de uso mais prestigiados, situações mais formais, mesmo na Assembleia Nacional», expõe. «Não é incomum um deputado usar a língua cabo-verdiana numa situação em que quer alcançar a maioria da população.» Outro exemplo é a expressão nas redes sociais: «Os jovens ou as crianças utilizam a escrita nas situações de escolaridade, quando têm trabalhos escritos, mas, nas redes sociais, servem-se de uma escrita espontânea que nasce de uma necessidade que eles têm de escrever. E nessas circunstâncias, o que os jovens usam é a língua cabo-verdiana predominantemente.»
Conforme dados divulgados pelo Afrosondagem, este ano, 64 % dos nacionais apoiam a oficialização do cabo-verdiano como língua oficial. Todavia, Amália Lopes garante que a manutenção da língua portuguesa não está em causa e, nesse sentido, partilha os resultados de alguns estudos: «A esmagadora maioria da população é a favor da manutenção das duas línguas e pela resolução desta questão da diglossia, e não pela perda do português.» A investigadora julga, por isso, que «a oficialidade ou ensino da língua cabo-verdiana não põe em causa, antes pelo contrário, a continuidade do estatuto oficial da língua portuguesa ou mesmo do seu ensino», e deixa claro que «os movimentos que são a favor da língua cabo-verdiana não são movimentos contra a língua portuguesa».
O que se questiona, reforça Amália Lopes, é a relação de «supremacia da língua portuguesa, pelo estatuto de única língua oficial, por ser a única língua que é ensinada e a única língua que é usada como meio de ensino». No seu entendimento, essa situação dá origem a várias tensões. «A língua oficial é o português; a língua materna é o crioulo; a língua do Estado é o português; a língua da Nação, do povo, é o crioulo; na comunicação formal é o português; na comunicação informal é a língua cabo-verdiana», descreve. «[São] várias dicotomias que se vão estabelecendo na sociedade e que têm efeitos perversos para as duas línguas, nomeadamente para os mais jovens, que, quando chegam à entrada da escola, lhes é dito: «Aqui só se fala português.» Esse cenário, problematiza, tem efeitos negativos, mesmo nas atitudes das crianças e jovens face ao português. «Sentem-no como uma imposição», clarifica, «quando [o aluno] vai aprender a ler e a escrever numa língua que não sabe». Como tal, defende, o ensino bilingue deve ser encarado «como uma questão de desenvolvimento humano, considerando a interação que existe entre a questão linguística e as questões da cultura, do desenvolvimento social e do desenvolvimento económico».
Já Germano Almeida, Prémio Camões em 2018, é da opinião que a variação do crioulo entre as várias ilhas do arquipélago não permite pensar, para já, na sua oficialização. «Cada ilha tem uma forma particular de falar crioulo e, portanto, também do que seria escrever o crioulo. Enquanto não centrarmos em qualquer coisa que seja comum às ilhas, não teremos crioulo como língua. Não teremos língua cabo-verdiana».

Inocência Mata, natural de São Tomé e Príncipe, considera que o crioulo forro, praticado no país, não tem condições de se tornar a segunda língua oficial da nação. «Há muitos estudos sobre a história da língua forra, mas poucos estudos sobre a estrutura», lamenta a professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Comparatistas (CEComp/FLUL), lembrando também que, para oficializar e ensinar uma língua, é preciso sistematizá-la e criar instrumentos, como dicionários, gramáticas ou prontuários.
Atualmente, relata, o forro é utilizado sobretudo em ambientes políticos, mas, cada vez mais, tem ficado relegado ao folclore. «Poderia ser uma língua mais acarinhada», defende. «Podia ser uma língua que tivesse, da parte do poder político, políticas públicas que incentivassem os jovens a aprender [esse idioma].»
Neste arquipélago, o português é «uma língua hegemónica, falada transversalmente em todas as instituições e em todas as situações», declara. Segundo os últimos censos, de 2012, a quase totalidade da população (98,4 %) tem o português como língua materna. «O que não quer dizer que toda a gente se entenda em português, isto é uma outra questão», afirma Inocência Mata. «Há níveis tão díspares do português que, muitas vezes, existe uma incomunicabilidade», relata a investigadora, referindo-se a um «português popular que está muito afastado da norma».
Para se pensar na oficialização de uma variante do país, Mata reforça que é preciso levar a cabo um estudo sistematizado sobre a língua portuguesa, «que é falada por pessoas instruídas, não por pessoas não instruídas». A docente estabelece assim a diferença entre aquilo que pode ser considerado uma variante e uma interlíngua. O tema existe, confirma, mas «não existe um projeto de descrição da língua portuguesa falada e escrita em São Tomé e Príncipe».

Para Inocência Mata, há ainda uma mentalidade colonial que menospreza as línguas nacionais. «No tempo colonial, as famílias da elite proibiam os filhos de falar o forro», explica, mencionando a política do assimilacionismo cultural. «Todas essas línguas, sejam os crioulos, sejam as línguas autóctones de Angola, de Moçambique e da Guiné-Bissau, eram consideradas dialetos.» Essa é uma ideia que ainda persiste. «Não vemos essa relação com as línguas próprias – como eu prefiro chamar – em outros países de colonização francesa ou inglesa», diz. «Posso concluir que, de facto, essa relação que temos com as línguas africanas, sejam elas crioulos, sejam elas línguas autóctones, é uma relação ainda muito colonial, que os poderes políticos do pós-independência, não conseguiram extirpar.»
Nesses países, o português é ainda visto «como uma língua de civilização», assegura a docente universitária. «Utilizo a palavra consciente da sua semântica preconceituosa», clarifica. «As pessoas veem o português não apenas com uma língua de oportunidades, o que seria perfeitamente normal, aceitável e legítimo, mas como uma língua que me permite afirmar como um cidadão civilizado», afirma. «Isso é em São Tomé e Príncipe, isso é em Angola e isso é na Guiné-Bissau.»
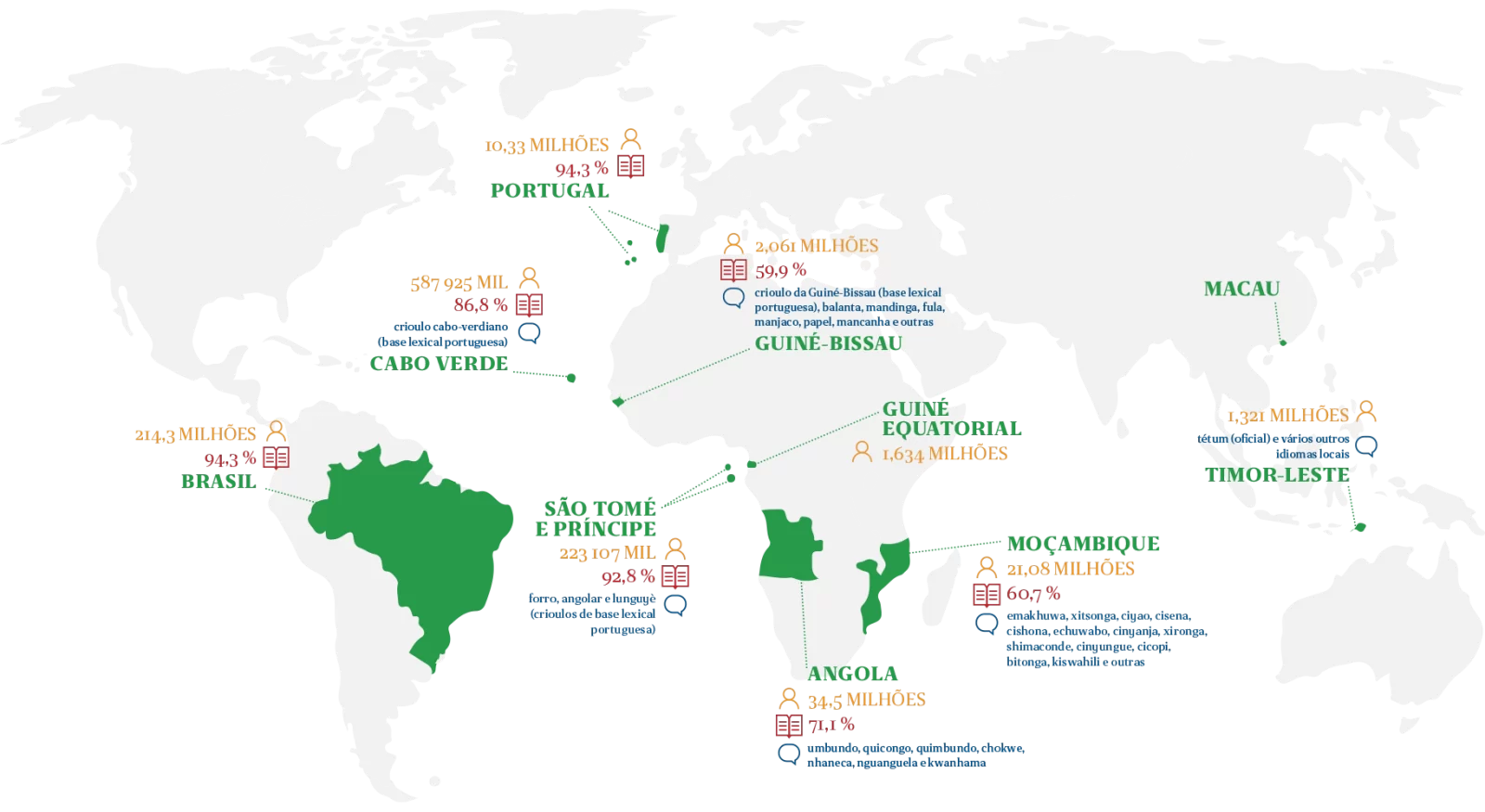
Não obstante o cenário de diglossia que marca a realidade do país, Amália Lopes considera que o português tem vantagens sobre a língua cabo-verdiana, «como língua de comunicação mais ampla, na CPLP e global.» Além disso, acrescenta, os cabo-verdianos têm «uma ligação afetiva e histórica», com o português, que é, para muitos, «um fator de identidade» e «um património linguístico» que deve ser preservado e mantido no país, enquanto «herança cultural».
Germano Almeida concorda que o português é o idioma que põe o arquipélago «em contacto com o mundo». «A língua cabo-verdiana é para uso interno entre os cabo-verdianos. Quer nas ilhas, quer na diáspora, contactamos em crioulo. Mas o crioulo não nos tira desse limbo, dessa bolha, que é a bolha cabo-verdiana», vaticina. «Sobretudo num país pequeno, como Cabo Verde, temos interesse em ter relações internacionais. Em crioulo, não vamos chegar lá», avalia. «Todos os jornais, todos os livros, todas as revistas, até todos os noticiários, salvo uma ou outra pequena exceção, são feitos em português. Temos de saber a língua portuguesa, porque é em português que vamos para Portugal, para o Brasil, para a Guiné, Angola e o resto.» De acordo com o escritor, a importância da língua portuguesa em Cabo Verde, «nos últimos tempos, tem vindo a ser menosprezada, mas com grave prejuízo nacional».
Já na Guiné-Bissau, diz a linguista Zaida Pereira, há uma maior aproximação do português, «porque se valoriza a parte instrumental da língua». O facto de haver uma taxa de escolarização cada vez maior, bem como uma valorização do ensino superior, «faz com que as pessoas olhem para a questão da língua não só como um instrumento de dominação, mas agora como um instrumento para o acesso ao conhecimento». Todavia, ao mesmo tempo, nota ainda, há um «movimento muito consciente» acerca da importância das línguas nacionais. «Hoje é muito raro ouvir alguém dizer que devíamos aprender só numa língua, ou que não devíamos aprender.»
Em Moçambique, explica David Langa, há sentimentos diferentes em relação ao idioma português, que variam sobretudo consoante a geração. «Algumas pessoas que passaram pelo sistema colonial, que não foi nada pacífico nem elegante, têm uma resistência. O português é mesmo associado à colonização», afirma. «Para os mais novos, que não têm referência a esse passado colonial, o português é algo que adoramos dos portugueses e que utilizamos hoje para ter acesso ao mundo.» Segundo o estudo em que participou, sobre os moçambicanos bilingues, as pessoas não sentem que os idiomas nacionais sejam inferiores nem superiores à língua de Camões – e também de Machado de Assis, Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Corsino Fortes, Alda do Espírito Santo, José Craveirinha, António Ramos Horta e tantos outros. «É uma língua que está disponível como ferramenta de comunicação, que as pessoas podem utilizar», acrescenta Langa. «Mas dizem que a pessoa é genuinamente moçambicana se falar pelo menos uma língua banta. Se não falar, é moçambicana e não há problemas com isso, mas não é genuinamente moçambicana.»
O mesmo sentimento é vivido em Angola, explica Mbiavanga Fernando. «Há aqueles que acham que é a língua do colono, que não precisávamos de investir muito nesta língua, etc. Mas também há aqueles que acham irreversível a questão da adoção da língua portuguesa e consideram a língua portuguesa como um património nosso», avança. «Eu, particularmente, sou daqueles que pensam que já não é possível regressarmos, por mais que tenhamos a vontade de dizer – assim com um certo sentimento paternalístico – que temos as nossas línguas.» O professor universitário afirma: «A língua portuguesa, essa que falamos em Angola, já é um património nosso, independentemente da sua origem». No país, refere, o português desempenha aquilo que linguisticamente se designa língua franca. «É a língua que une todas aquelas comunidades que falam diferentes línguas, os diferentes contextos em que nos encontramos», continua. «O essencial é a partilha do espaço e fortificação dessas línguas, de maneira que todos possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade angolana.»
Segundo João Melo, algo é considerado nacional de uma comunidade quando essa comunidade o absorve. «Isso pode ser por herança genética ou por herança histórica», diz. «Alguma coisa pode ser naturalmente nacional, ou então pode ser nacionalizada. Em Angola, já nacionalizámos a língua portuguesa, tal como nacionalizámos a mandioca que veio da América do Sul e que, hoje, é a base da nossa alimentação», considera o jornalista, crítico também da ausência de políticas objetivas e afirmativas em relação à língua portuguesa.
«No pós-independência, não existia a dimensão afetiva e identitária relativamente ao português», avança, por sua vez, a linguista guineense Zaida Pereira. «Hoje, essa reivindicação identitária, ligada às línguas nacionais, vai esmorecendo, fruto também da emigração e da existência de estudantes guineenses em países de língua portuguesa, mas não só.» No exterior, refere ainda, «a identificação com um espaço lusófono tem contribuído para uma relação menos tensa com a língua portuguesa.»

Em Timor-Leste, país asiático também com uma grande diversidade linguística, a importância do português não é homogénea. «É acentuada para uma boa parte da população, para algumas escolas e universidades, para alguns políticos e deputados, por alguns membros do governo, no entanto, para outros grupos sociais e políticos é desvalorizada, privilegiando-se o inglês e o bahasa indonésia», partilha Manuel Azancot de Menezes, investigador, professor associado e pró-reitor na área de pós-graduação, investigação e cooperação com a CPLP, na Universidade de Díli.
Após a anexação indonésia deste território, em 1975, explica o académico, muitos cidadãos, «para escaparem ao genocídio e ao etnocídio praticado contra o povo timorense», fugiram para países como Portugal, Austrália e Indonésia, onde, durante 25 anos, se foram familiarizando com as suas línguas e costumes. Depois do referendo de 1999 – que expressou a rejeição dos timorenses à integração na Indonésia –, a população na diáspora começou a regressar ao país, «ora falando tétum e inglês, ora falando bahasa indonésia e tétum, ora falando português e tétum, ou seja, em função dos países onde se refugiaram na segunda metade da década de 70».


Este ambiente multilinguístico, reforçado nos anos de transição administrativa das Nações Unidas, levou à inclusão de quatro línguas no texto constitucional do país, aprovado em 2002. «Tétum e português como línguas oficiais, e inglês e bahasa indonésia como «línguas de trabalho em uso na administração pública a par das línguas oficiais, enquanto tal se mostrar necessário», menciona Azancot de Menezes. Tal indicação mantém-se até hoje.
Na opinião do investigador, o «estado da arte» da implantação do português em Timor-Leste é justificado pela pressão externa dos países da região, mas sobretudo, pela «incapacidade dos governantes» e pelo facto de a maior parte dos quadros políticos e administrativos terem sido formados por universidades da Indonésia, alguns na Austrália e, menos ainda, em Portugal e no Brasil. «Em qualquer instituição de ensino superior ou estabelecimento de outra natureza, as únicas pessoas que falam português, refiro-me ao grosso dos diplomados, formaram-se em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique», partilha. «A grande percentagem de professores do ensino superior em Timor-Leste concluíram os cursos de licenciatura na Indonésia e são desafiados pelas mesmas instituições a continuarem programas de pós-graduação também na Indonésia, portanto, não têm contacto com o português e fazem resistência à língua lusófona.»
Neste que é um dos países mais jovens do mundo, há 18 instituições de ensino superior reconhecidas, mas, «apesar de estar legislado que a língua de ensino deve ser o português e o tétum, a realidade mostra que há um incumprimento generalizado das orientações superiores», diz Azancot de Menezes. Para o pró-reitor, há falta de vontade política e até «políticas curriculares que têm prejudicado seriamente a implantação e o desenvolvimento da língua portuguesa», nos vários níveis de ensino.
Na atualidade, descreve, a língua portuguesa em Timor-Leste é usada em cerimónias formais e oficiais do Governo e da presidência da República, em algumas universidades e escolas, uma vez por semana no Parlamento Nacional, num único noticiário da televisão pública do país, em uma ou duas páginas de matutinos, pelos jornalistas de um jornal online denominado «O Diligente», ou por alguns intelectuais e estudantes que frequentam cursos de língua portuguesa.
Os últimos censos apontam que, em 2010, 17 % a 25 % dos timorenses falavam português: 90 % da população utilizava o tétum diariamente, além de outras línguas, e 35 % da população falava bahasa indonésio, principalmente nas cidades. Sem conhecimento de estudos recentes e «credíveis», Azancot de Menezes reconhece que há «uma certa concordância em admitir» que o tétum é a língua mais falada em território timorense. Mas «há lugares remotos em diversos pontos do país onde o tétum é desconhecido ou desvalorizado, optando-se pelas línguas nacionais», atenta. Já a língua bahasa indonésia, declara, «é manifestamente falada por uma boa parte da população», sobretudo a geração que nasceu e cresceu durante a ocupação indonésia.



É comum falar-se do potencial económico da língua e, em Macau, assegura João Veloso, diretor do departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, «enfatiza-se muito o papel do território como uma ponte para as relações comerciais» entre a China e os países de língua portuguesa. «Essa dimensão, como é óbvio, é inegável e é importantíssima», aprecia o também linguista e professor universitário. «Além disso, ou aquém disso, há uma fraternidade intercontinental de povos», continua, «que se entendem muito bem por usarem uma língua comum e por valorizarem esse traço de união», quer em termos simbólicos, quer em termos práticos, menciona, aludindo à «quantidade de estudantes brasileiros nas universidades portuguesas, ou de estudantes africanos na Universidade de Macau».


Nesta Região Autónoma Especial na costa sul da China continental, são línguas oficiais o mandarim e o português, mas é o cantonês que prevalece – mesmo em situações formais e oficiais. «Ouço muitas vezes pessoas que dizem, num certo tom depreciativo, que o português em Macau “não passa de” uma língua oficial, sem qualquer expressão fora dos circuitos administrativos ou jurídicos e que isso, a prazo, acabará por ditar a sua extinção no território», partilha o docente universitário português, para quem esse retrato não parece fiel: «O português é muito mais usado em Macau do que aparenta ser.»
Para João Veloso, o facto de ser língua oficial pode vir a ter um papel determinante para a sobrevivência do idioma naquela região do mundo. «Pensemos, por exemplo, no que se passou nos países africanos que, em 1975, ao verem oficialmente reconhecido o seu estatuto de nações soberanas, escolheram o português como língua oficial», enuncia. «Isso traduziu uma opção política, que teve contextos diferentes de país para país. Não sendo a única razão que o explica, o certo é que hoje, nesses países, em particular nos seus principais centros urbanos, o número de falantes do português – e do português como língua materna – multiplicou-se de forma impressionante.»
Sobre a evolução do idioma em Macau, que tem administração chinesa desde dezembro de 1999, Veloso considera que o português já não é «uma pertença quase exclusiva de uma comunidade minoritária, mas detentora do poder administrativo». Durante a administração portuguesa, refere, residiam em Macau muitos mais cidadãos portugueses do que hoje. «Eram pessoas que, juntamente com a comunidade macaense, tinham o português como a sua língua materna ou principal. Fora desses grupos sociais, o português tinha de certeza uma representação inferior à de hoje, e há estudos que o demonstram», menciona. «Hoje, o número de falantes nativos do chinês que estudam português é muito significativo e é bastante superior ao de há 30 ou 40 anos.»
Atualmente, são várias as instituições macaenses com ensino de português ou em português. «Num número significativo de concursos públicos, o conhecimento do português é obrigatório», e os serviços da administração pública continuam a assegurar formação linguística aos falantes não nativos. «Durante a administração portuguesa, esta oferta de cursos de língua portuguesa, a falantes do chinês, era muito mais reduzida. Não havia a formação universitária em Estudos Portugueses – da licenciatura ao doutoramento – que o território hoje oferece», nota o linguista. «Estamos a falar de realidades completamente diferentes, incomparavelmente diferentes.»