Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.


Para o arranque do projeto Lusotropicalismo, no qual nos propomos trabalhar de forma regular durante os próximos dois anos, quisemos falar com uma série de personalidades, cujo conhecimento e voz importa considerar quando pensamos no tema do colonialismo português, de forma a percebermos quais as preocupações que existem em volta deste tema.
Como base para este arranque, centramo-nos no mito do Lusotropicalismo, teoria desenvolvida pelo cientista social brasileiro Gilberto Freyre, na primeira metade do século XX, sobre a relação de Portugal com os trópicos. Neste modelo social, o cientista distingue o processo de colonização de Portugal do dos restantes impérios europeus, por considerá-lo mais empático, próximo e afeiçoado aos indígenas – ideias que vêm tentar retirar a dureza e responsabilização de processos de ocupação de territórios, agressão e tráfico de pessoas escravizadas.
Assim, chegamos às respostas de Amina Bawa, Aurora Almada e Santos, Beatriz Gomes Dias, Francisco Vidal, Joacine Katar Moreira, Leonor Rosas, Mamadou Ba, Maria Paula Meneses, Miguel Cardina, Myriam Taylor, Paula Cardoso, Sofia da Palma Rodrigues, Solange Salvaterra Pinto a três perguntas:
Descobre as suas respostas, já de seguida, clicando em cada fotografia.

Chefe de redação e relações
internacionais da revista Brasil Mood

Doutorada em História

Ativista antiracista, professora e vereadora da Câmara Municipal de Lisboa

Um imigrante, quando chega ao país de acolhimento, é quase como uma criança quando nasce, pois precisa de absorver todos os estímulos e mensagens que estão ao seu redor. Tendo chegado a Portugal há seis anos, a minha «criança imigrante» tem buscado decifrar o máximo de informação histórica e cultural desta sociedade. Mas não posso deixar de lado a bagagem trazida do país de nascimento e tudo o que é apreendido e discutido por lá.
A relação entre o Brasil e Portugal deu-se de forma díspar dos demais países colonizados, principalmente os africanos e é relevante referir isto, pois é impactante analisar como as práticas culturais portuguesas são diferentes com cada grupo. O passado colonial ainda é bem presente no quotidiano, já sendo questionado por alguns grupos, mas encontrando muita resistência para discussão em outros.
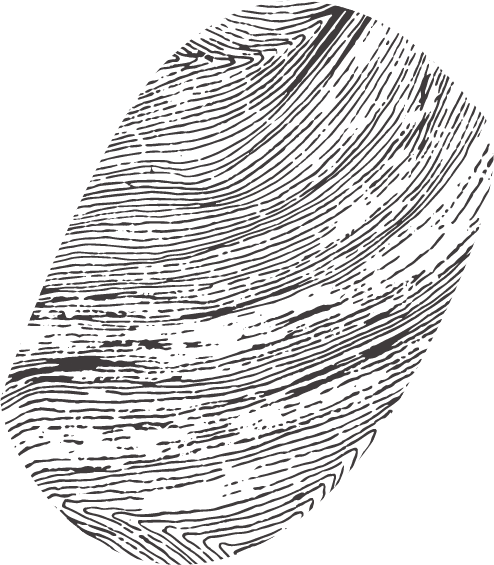
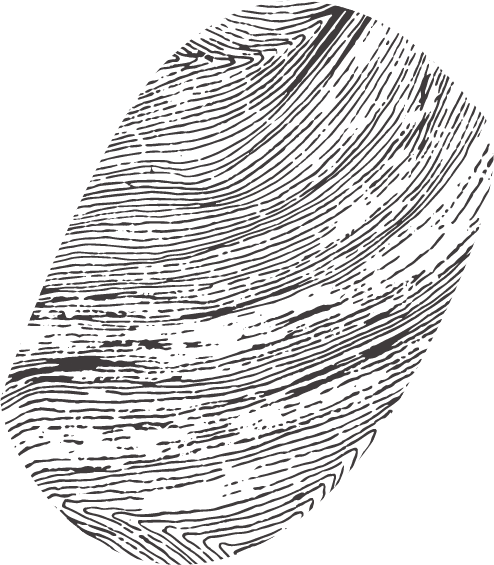
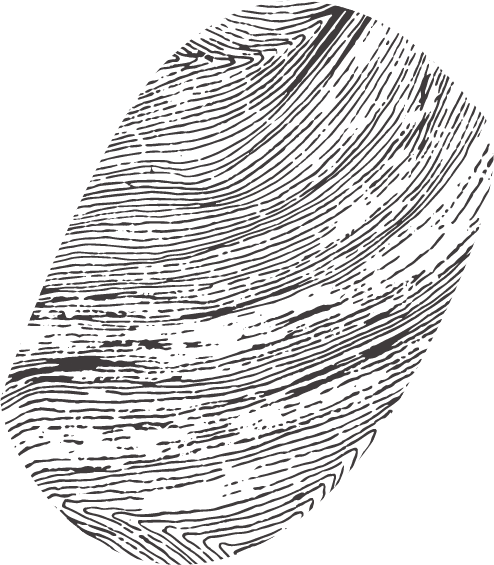
Para responder a esta pergunta, devo apontar a leitura que é feita sobre mim: uma mulher cisgénero, negra/preta e brasileira. Ressalto esta ordem, pois esta teoria desenvolvida pelo sociólogo Gilberto Freyre transmite uma ideia de que está longe da realidade, ainda mais nos trópicos. A miscigenação e a interpenetração cultural, atualmente, não fazem com que as pessoas, em sua maioria negras, estejam bem inseridas nas sociedades brasileiras e portuguesas. O colorismo, teoria da escritora Alice Walker, mostra-nos como o racismo se apresenta institucional e estruturalmente como consequência de um passado pouco discutido e unilateral.
As lacunas existentes precisam de ser preenchidas e apenas através de políticas públicas é que poderemos colmatar os défices que se perpetuam por séculos. Para tal, são necessárias alterações como a criação de leis para a transformação política e económica. Um exemplo seria a criação de quotas nas universidades para as minorias – com a utilização de pesquisa e análise de dados –, assim, teremos em conta um novo grupo de pensadores que partilham as suas experiências não apenas no campo académico como também no campo social.
















O passado colonial português não parece fazer parte das preocupações do quotidiano da população portuguesa e pouco tem sido debatido pela opinião pública. Em geral, os portugueses têm uma ideia positiva do passado colonial do país, considerando, por exemplo, o período da expansão como o momento áureo da história portuguesa. O pouco debate que tem havido na sociedade portuguesa tem em grande parte passado ao lado do que acontece em outros países, onde têm sido adotados passos para o reconhecimento das responsabilidades históricas e morais pela prática do colonialismo. Basta recordar que, sendo Portugal um dos principais envolvidos no tráfico transatlântico de escravos, não existe nenhum memorial ou museu que reconheça o facto. Por outro lado, no currículo escolar dos diversos níveis do ensino, incluindo o universitário, o tema é abordado de forma superficial.
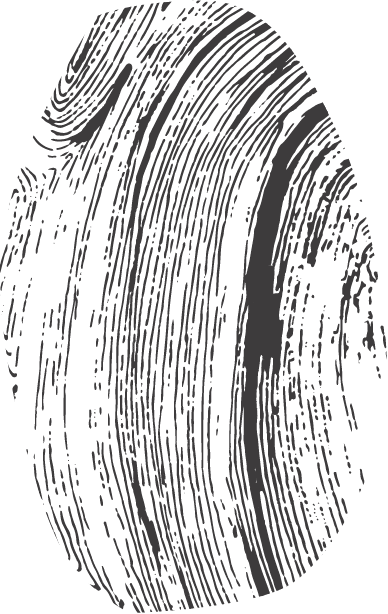
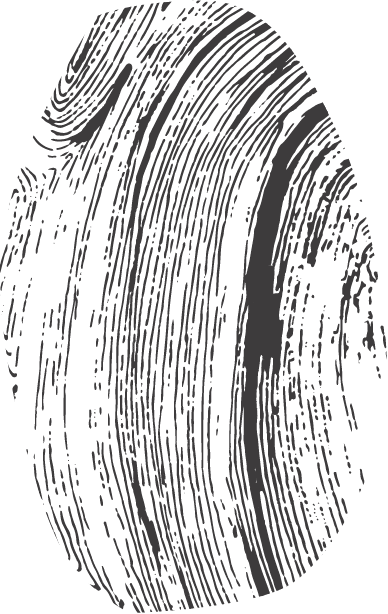
Embora na sua esmagadora maioria os portugueses não o reconheçam, a teoria lusotropicalista continua profundamente enraizada na sociedade portuguesa. É ainda bastante comum encontrar pessoas que exprimem a opinião de que a colonização portuguesa foi diferente das restantes potências coloniais europeias, porque Portugal era menos racista do que, por exemplo, os britânicos. A persistência de tais ideias tem um impacto direto no não reconhecimento do racismo enraizado que afeta a sociedade portuguesa e para as poucas iniciativas adotadas no sentido de o combater.
Portugal ainda não iniciou um debate consistente sobre a questão da reparação histórica. O primeiro passo no sentido da reparação histórica passará pelo assumir das responsabilidades do país na colonização de territórios em África, Ásia e Brasil. Alguns países, como a Alemanha, têm optado por conceder reparações monetárias, mas, no caso português, provavelmente isso será difícil, pelo que talvez a solução passe por uma maior promoção do conhecimento científico sobre o passado colonial português.
















Persiste uma visão fantasiosa sobre o projeto imperialista e colonial português, que oscila entre a ideologia da missão civilizadora de povos considerados primitivos e a crença lusotropicalista num colonialismo brando de vocação miscigenadora. A glorificação acrítica dos chamados Descobrimentos permanece hegemónica e não aceita nenhum tipo de contraditório. Ela baseia-se numa ideia de superioridade civilizacional, cultural e até biológica que oculta e naturaliza a barbárie e a exploração dos povos oprimidos e dos territórios ocupados por Portugal.


A ideia de que os portugueses são mais propensos à miscigenação é um dos mitos da identidade nacional e atravessa todas as dimensões da sociedade. Existe uma convicção generalizada de que as pessoas portuguesas têm uma capacidade inata para lidar com pessoas estrangeiras, o que as torna especialmente aptas para o acolhimento e a integração.
Esta visão absurda e anacrónica promove uma negação ativa da existência de racismo na sociedade portuguesa, pois, segundo a sua lógica, um povo vocacionado para a miscigenação não é, nem pode ser, racista. É uma convicção que está enraizada no imaginário nacional, no discurso público e político, impedindo o reconhecimento do impacto do racismo estrutural nas condições de vida das pessoas racializadas e, consequentemente, o seu combate eficaz.
As reparações são um instrumento necessário para garantir alguma justiça histórica e para corrigir as profundas desigualdades que resultaram do projeto colonial português. É bom não esquecermos que a riqueza e o desenvolvimento de que Portugal beneficiou, e beneficia, resultaram do saque dos recursos naturais, da escravização e do trabalho forçado das pessoas dos territórios ocupados. Por outro lado, o colonialismo português deixou como legado nesses territórios o subdesenvolvimento, o extrativismo e a destruição das suas formas de organização social, económica e política. As reparações visam compensar os efeitos deste violento processo histórico. Elas não excluem, mas não se esgotam nas reparações financeiras, podendo assumir diversas formas, das mais simbólicas às materiais. O importante é iniciar esta discussão, que em Portugal já vem com atraso. A assunção integral da história do país, o reconhecimento do racismo estrutural e o seu combate através de políticas públicas, como medidas de ação afirmativa, a devolução de objetos artísticos, são formas de reparação histórica.


Artista Plástico


Historiadora e Política


Deputada na AM de Lisboa pelo Bloco de Esquerda e ativista estudantil e feminista
















Em pós-pandemia e em tempo de guerra, é mesmo difícil responder e dar características distintivas a um coletivo, não sei mesmo medir não só o conjunto dos portugueses ou outros conjuntos contidos em outras denominações, que me dizem muito sobre si mesmos como parte ou o total desse universo. O que sei eu dizer sobre os americanos ou os espanhóis? Muito pouco. Mas eu tenho amigos americanos e espanhóis. Digo isto como também se diz – eu até gosto de pretos, até tenho um amigo preto. Os meus melhores amigos ciganos são o Ricardo Pinto (trompete) e o Francisco Jordão (basquetebol), o Chico ainda soma mais uma qualidade à qual eu pertenço também. É angolano. E o pai do Sapo tem uma namorada cabo-verdiana. Pensar ou desenvolver noções externas, sobre a condição do outro que me é distante pode ser um ato também paternalista e até colonial. Eu, na pesquisa que tenho feito nos últimos tempos sobre estes assuntos e que começou em 2005, tive sempre esta pergunta a latejar: «Mas por que raio tenho de ser eu a responder a esta questão?!» Talvez seja porque sou português, angolano e cabo-verdiano. É assim que eu encaro o assunto, depois percebo que pouco sei até sobre esses outros assuntos. Depois, descubro que é importante saber quais as pontes internas importantes para que este meu sistema interior se desenvolva. Também percebo que muito pouco sei. A ignorância é sempre uma coisa tramada, no meu ponto de vista. Desculpe, não sabia. A curiosidade, essa ajuda sempre. É bom quando as nossas ideias, mesmo que não sejam percebidas, sejam ouvidas. Percebe-se pouco, sim, sobre as bases da nossa cultura.
O racismo é um problema que nos atrasa muito, todos nós, brancos/pretos ou mulatos, sabemos o que é porque já o sentimos, quem nunca sentiu é porque nunca saiu da sua rua. Se eu fosse brasileiro, nunca usaria a palavra mulato. Mas uma família de mulatos de Benguela nunca terá um problema com isso. Os rótulos são sempre um problema, eu sei, e mulato vem de mula.
Sim, devem acontecer documentos sobre as mais variadas formas que registem a memória dos tempos e dos traumas, para que a opressão de um sobre o outro deixe de ser uma coisa que se encontra assim que se sai da porta das nossas casas nas mais diversas cidades.
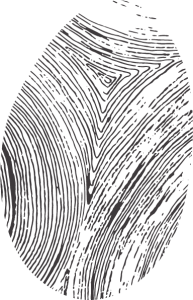
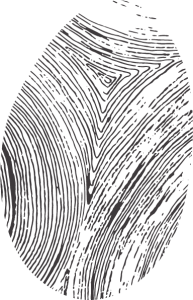
















Penso que se fala e se escreve muito pouco sobre o passado colonial em Portugal. Até porque o colonialismo veio a terminar com as Lutas de Libertação em África, há apenas meio século. O passado colonial de Portugal é história recente também, mas tendemos a pensar neles como sendo somente a história do século XV, XVII e XVIII… A população é educada através daquilo que se evoca em termos de memória. Através do que se escreve, do que se decide expor e discutir. E, infelizmente, continuamos na senda da história de encantar dos Descobrimentos, mesmo quando se lhe muda o nome para Expansão Marítima, e é isso que as pessoas associam ao colonialismo. A uma época memorável da história nacional, da heroicidade do homem lusitano e da grandeza de Portugal. Há uma omissão sistemática da história da violência colonial, da escravatura e do tráfico de pessoas escravizadas, mas também da história da resistência ao colonialismo, que foi bastante e secular. Assim, a memória e o pensamento sobre o passado colonial português continuam a cumprir os desígnios de uma visão nacionalista que é sombria, na medida em que não se conhece nem se dá a conhecer como de facto foi e é.
O Lusotropicalismo persiste porque está na base de uma conceção de identidade nacional, ligada ao colonialismo, que tem muita força na sociedade e nas instituições nacionais e, por isso mesmo, continua a ser definidora da visão e do conhecimento sobre o passado.
É como uma doença que, de repente, se descobriu que faz mais bem do que mal e por isso não se cura. Afeta apenas às pessoas outrificadas pela agenda colonial e, enquanto for assim, estas que se insurjam. Contudo, a doença lusotropical de que padece a sociedade portuguesa – apesar da sua amplitude, abarcando todas as ideologias, partidos, entidades e instituições da universidade às instituições culturais – afeta a visão que se mantém da população africana e seus descendentes, mas sobretudo ajuda a relativizar e a «compreender» as atrocidades e os abusos do colonialismo, à luz da ideia de miscigenação e brandura do colonialismo português, nomeadamente, face a outras potências europeias. O Lusotropicalismo tem alimentado a falácia da excecionalidade colonial lusitana e hoje torna-se contraproducente porque fomenta o negacionismo histórico e o nacionalismo de extrema-direita.
Deve, sim. O Estado pode constituir uma equipa para estudar como pode ser feito.
















O pensamento da sociedade portuguesa sobre o colonialismo é ainda profundamente lusotropical. A ideia de que fomos colonizadores brandos, descobridores e civilizadores e padroeiros da multiculturalidade está sobejamente presente em todas as esferas da nossa vida em comum. Os 500 anos de colonialismo podem ter formalmente acabado em 1975, mas estendem-se até aos nossos dias através da colonialidade, que perpetua o racismo e a dominação epistemológica ocidental sobre o resto do mundo. Olhemos para três exemplos paradigmáticos. Os manuais escolares portugueses continuam pejados de narrativas lusotropicais: continuamos a ter de decorar nomes de «descobridores» de terras que sempre existiram ao invés de sabermos que fomos o maior traficante de escravos do globo – a menção à escravatura vem ligada ao comércio triangular, como se as pessoas escravizadas fossem apenas mais um produto, entre o açúcar, os espelhos e o ouro. O espaço público, especialmente da cidade de Lisboa, continua a veicular uma narrativa imperial gloriosa, que nos leva desde o advento da expansão marítima até à entrada na CEE veiculando uma só ideia: somos um país de empreendedores e descobridores que conectaram o mundo e civilizaram os seus povos. Finalmente, as narrativas oficiais do Estado português continuam a olhar o passado colonial de forma benigna: o presidente da República continua a insistir na mentira de que fomos pioneiros na abolição da escravatura, o primeiro-ministro refere-se à capacidade dos portugueses de ligar vários povos do mundo e o ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa tinha como bandeira construir um Museu da Descoberta.
Como já disse antes, sim. Por um lado, o Lusotropicalismo faz com que os portugueses acreditem em falácias de um país sem racismo. As teorias de Freyre preconizavam que os portugueses nunca poderiam ser racistas, pois tinham conseguido miscigenar-se com os povos colonizados, tendo um ADN inerentemente apto a fazê-lo devido à longa convivência com árabes e judeus na Península Ibérica. Esta teoria deixou raízes profundas: continuamos a achar que, pelo facto de viverem em Portugal muitos imigrantes de origem africana e por termos ainda relações cordiais com os países que colonizámos, somos um país cordial para com as minorias étnico-raciais e no qual o racismo nunca foi uma realidade. No entanto, tal como o que é expresso nas teorias lusotropicais, a maioria dos portugueses continua a olhar para as pessoas racializadas como inferiores, infantis, incapazes. E, quando alguma pessoa racializada ousa afirmar-se como sujeito político da sua própria emancipação, o establishment conservador e branco logo se levanta indignado, afirmando que, afinal, não somos racistas.
Sim. É urgente combater o racismo estrutural e a exclusão social que continua a dificultar o acesso das pessoas racializadas à educação, saúde e trabalho com direitos. Precisamos de inscrever nos currículos escolares a verdadeira história do tráfico de pessoas escravizadas, das «missões de pacificação» portuguesas em África no século XIX, do trabalho forçado nas colónias até à década de 1960 e, ao mesmo tempo, contar a história dos combatentes pela libertação nacional – Amílcar Cabral, Agostinho Neto ou Samora Machel – e da forte resistência que os povos africanos sempre fizeram sentir face à colonização portuguesa.


Dirigente do SOS Racismo


Investigadora e coordenadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES)


Historiador, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES) e coordenador do projeto CROME
















A sociedade portuguesa padece da patologia da excecionalidade do seu «modelo colonial», o que naturalmente dificulta a mais do que urgente catarse histórica coletiva. A relação com o passado continua defensiva e oscila entre o binómio relativização-negação das vilanias da história e a glorificação da empresa colonial. A narrativa e o imaginário coletivo nacional estão profundamente marcados pela obsessão com a absolvição histórica dos crimes coloniais. Isso continua infelizmente a alimentar a recusa de reconhecer os crimes coloniais e os seus impactos no presente. Reina uma esquizofrenia que consiste em querer, ao mesmo tempo, uma hiperbolização da heroicidade da gesta colonial e o silenciamento absoluto dos crimes coloniais, alimentando uma sanha nacionalista em que a memória da história colonial se mobiliza como elemento indispensável para o culto do orgulho nacional. E opera-se, assim, uma disfunção cognitiva muito grande da sociedade em relação à questão racial, em que a «síndrome do espelho» reflete um profundo dilema democrático: o reflexo de um passado que se quer glorioso, mas que aparece monstruoso no presente, através da sedimentação da desigualdade racial.
O que ainda alimenta o Lusotropicalismo é a persistência de uma quimera ideológica que consiste em tentar forçosamente encontrar alguma grandeza política no que foi uma indesmentível pequenez ética e moral, pois o crime colonial não se atenua em nome de uma qualquer virtude da miscigenação. Por exemplo, a celebração da miscigenação oculta a barbárie dos crimes de violação das mulheres escravizadas e indígenas e da industrialização dos seus corpos, enquanto instrumento (re)produtor da força de trabalho e meios de produção e acumulação capitalista. Infelizmente, o Lusotropicalismo continua muito arraigado na sociedade e é transversal a quase todos os setores. A acrimónia ou o despeito com que o antirracismo político é tratado, com argumentos de que o seu modus operandi é anacrónico, polarizador ou enviesado, testemunham o desconforto que a questão racial causa, tanto no espaço político, como no espaço académico. De facto, por força do Lusotropicalismo, o racismo é, doutrinária e epistemologicamente, uma espinha na garganta dos sistemas que regem a política e a academia.
Com o fim formal do colonialismo, este Lusotropicalismo deu lugar a uma patologia social e cultural que se ossificou cronicamente na sociedade, a «colonialidade», que ironicamente gosto de identificar como «colonialite aguda», um paradigma de relações sociais e económicas assentes na naturalização da desigualdade. É esse paradigma que faz com que a sociedade portuguesa e as suas instituições não consigam ver, nem admitir, que o défice de igualdade com que se confrontam as pessoas racializadas advém diretamente da dívida histórica do colonialismo, o albergue primacial do racismo que vivemos hoje. O Lusotropicalismo é o armário onde se escondem os esqueletos putrefatos do lado hediondo da empresa colonial e continua a determinar a negação do racismo estrutural, herdado desta circunstância histórica.
Antes de tudo, convém notar que, em Portugal, o debate sobre a dívida histórica e a sua reparação estão muito atrasados e, na maior parte das vezes, estão intelectualmente canibalizados por setores reacionários e conduzidos com manifesta má fé. Para que não fiquemos presos num impasse político e numa aporia democrática, em que uma parte da comunidade continua a ser vista, no subconsciente coletivo, como não fazendo parte do tecido nacional nem merecedora dos mesmos direitos que a maioria, a reparação histórica é absolutamente indispensável e inadiável. Mas para tanto, convém sobretudo não cair na distração fantasiosa que vê na reparação histórica uma pretensa vontade de revanche histórica ou uma mera operação de perequação económico-financeira.
A reparação histórica não se pode jogar no patético tabuleiro do medo de uma suposta revanche histórica nem num paralisador ressentimento dos herdeiros da violência colonial. Não se trata de um julgamento da história, porque a autoria moral e material do crime colonial está há muito tempo mais do que estabelecida. Reparar a dívida histórica da ferida colonial é assumir a responsabilidade de a sarar com um projeto de sociedade, onde a justiça racial ganha centralidade nas políticas públicas de combate às desigualdades. É, portanto, um projeto de futuro em que as componentes da sociedade, até agora marginalizadas, reencontram o seu justo lugar na sociedade, com justiça económica, social, cultural e política.
A desigualdade racial como todas as desigualdades socioeconómicas estruturais tem um custo, e são precisas políticas públicas que atuem material e simbolicamente para as resolver. Por um lado, a reparação histórica tem de ter uma dimensão simbólica, orientada para as subjetividades políticas e culturais, nomeadamente através da reinvenção de uma narrativa que não romantize a ferida colonial e obrigue o imaginário coletivo a incorporar todos os seus aspetos, valorizando os contributos de quem esteve excluído deste imaginário coletivo nacional. Isso passa por uma mudança radical das políticas educativas nos conteúdos curriculares, nomeadamente o ensino da história, e na composição etnográfica. Por outro lado, são necessárias políticas públicas com medidas de ações afirmativas, através de quotas para o ensino, o emprego e a habitação. Conciliar o material e o simbólico obriga a traduzir a reparação histórica numa estratégia política e orçamental consequente que rompa com a tradição das políticas avulsas e ad hoc.


















O colonialismo não é passado. A colonização, como sublinha Césaire, são milhões de seres humanos a quem inculcaram sabiamente o medo, o complexo de inferioridade, o tremor, a genuflexão, o desespero, o servilismo. Esta violência, com múltiplos matizes, procurou reduzir o outro a um ser inferior, um ser com potencial para ser humano, se convertido e domesticado, pela educação e pelo trabalho, virtudes civilizadoras eurocêntricas. A colonização, enquanto sistema de negação da dignidade humana, perdura nos dias de hoje, ao se insistir em não reconhecer a diversidade de saberes vividos a sul, para além das referências eurocêntricas.
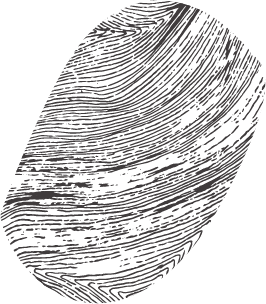
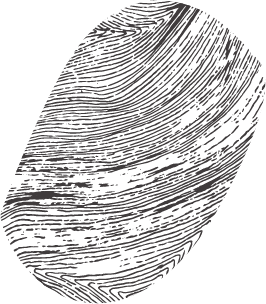
O Lusotropicalismo foi um dos dispositivos desenvolvidos por Portugal para legitimar o colonialismo e que, ao não ser criticamente desmascarado, continua a ser usado para justificar o suposto caráter tolerante e não xenófobo da sociedade portuguesa e a ausência de um racismo estrutural nas suas instituições. Quando os «ventos de mudança» começaram a soprar no continente africano, nos anos 60, Portugal procurou justificar, quer interna, quer externamente, o caráter benigno do «seu» colonialismo, agora apresentado como o «modo português de estar no mundo». Esta autoimagem de Portugal continua a ser ativamente apresentada como uma característica específica da sua identidade: um povo fraterno, de vocação ecuménica, tolerante e não racista.
As reparações são a resposta direta à violência estrutural gerada pelos longos séculos de violência, opressão e negação da alteridade. Por exemplo, a aceitação acrítica de categorias imperiais de conhecimento é um sintoma de como o nosso conhecimento continua a ser moldado pelas estruturas imperiais. Neste sentido, o reclamar por justiça cognitiva, ou seja, o reclamar de uma agenda que insista que o que é estudado sobre a violência colonial não ocorreu «no passado», e que o direito de as pessoas a verem o seu mundo reparado é justificado, exige uma temporalidade e uma agenda não imperial. (Re)parar o conhecimento deve ser parte constitutiva desta agenda, para transformar as mentalidades e as instituições.
















Na sociedade portuguesa, persiste um padrão de leitura sobre o passado colonial que tem esta estranha marca de o imaginar como não-colonial. Eduardo Lourenço tem uma frase em que diz algo nesse sentido: Portugal seria o lugar da mais espetacular boa consciência colonial baseado na ideia de que a violência estaria, no essencial, ausente desse processo. Têm existido debates e movimentos que têm procurado abrir a história e questionar estes modos dominantes de olhar para o passado. Mas eles são ainda minoritários e socialmente circunscritos.
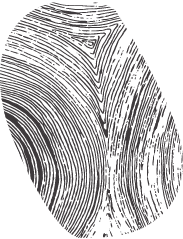
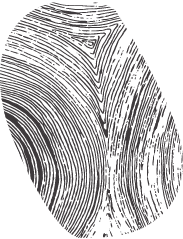
De algum modo, o que afirmei atrás é uma ilustração disso mesmo. A ideia de que o colonialismo português teria sido baseado no encontro e numa apetência miscigenadora benigna continua muito presente: no espaço público, no discurso dos governantes, na escola, na publicidade, etc. E ajuda a explicar porque é que o racismo continua a ser uma realidade negada.
É necessário começar a encetar processos de reconhecimento e enfrentamento desse passado. Há um debate sobre a restituição de artefactos culturais, que é complexo e que deve ser visto caso a caso, que terá de começar a ser feito. Há um debate sobre a descolonização do espaço público em Portugal que também tem de dar passos. Há tarefas comuns entre Portugal e os países outrora territórios colonizados que também importa começar a encetar: falo em políticas da memória, de arquivo, de musealização comuns e articuladas sobre a guerra colonial e o colonialismo. E por aí fora… A França começou a fazê-lo relativamente à Argélia. Nisto, como em muitas outras coisas, não há guiões predefinidos, mas a vontade de começar essa conversa é um primeiro passo.


Ativista


Fundadora da comunidade digital Afrolink


Jornalista da Divergente e doutorada em Pós-Colonialismos e Cidadania Global
















O passado colonial é olhado pela grande maioria da população como um dos períodos áureos da história do país, desse modo o olhar é ainda um olhar colonial, paternalista e distópico.
Obviamente que sim, o que leva a que se tente esvaziar a discussão, à partida, com a não aceitação da premissa de que vivemos em um país que padece de racismo estrutural e sistémico. Se o problema não existe, não há o que resolver.
E as narrativas são muitas e não resisto a reproduzir algumas:
«Em Portugal, até permitimos que os pretos venham para cá, damos-lhes trabalho quando querem trabalhar e acesso às escolas, que era coisa que não tinham no país de origem, o que querem mais? Se estão mal, mudem-se!»
«Eu sou contra as quotas para negros, eu até tenho amigos pretos e não contrato em função da cor, mas mérito.»
«Para mim, o tratamento preto é carinho, sem maldade.»


A reparação tem de necessariamente chegar com medidas de ação afirmativa, criando oportunidades de inclusão destes grupos em todas as esferas e o Estado tem de ser o primeiro a dar esse exemplo. Queremos melhor acesso à educação, a aposta séria na educação escolar e académica, programas de investimento e mentoria no empreendedorismo de impacto social, investimento em ideias positivas que possam contribuir para a melhoria das condições de vida das comunidades. Queremos representatividade nos partidos políticos e Governo, instituições públicas e privadas, queremos uma aposta séria na produção de conteúdos pensados por nós, representatividade nos media e em todos os lugares.
















Encarar significa olhar de frente, enfrentar, algo que a população portuguesa, em termos genéricos, não faz em relação ao passado colonial. Pelo contrário, há em Portugal um desviar do olhar desse passado, para que continue a imperar uma visão míope da história. Encarar o passado colonial implica reconhecer as barbáries cometidas e as suas continuidades, algo demasiado disruptivo para os diversos poderes instalados.
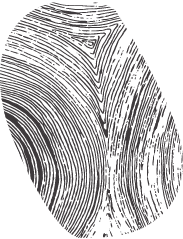
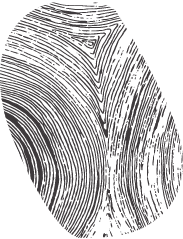
A pessoalização das discussões raciais é bem reveladora do Lusotropicalismo entranhado na sociedade portuguesa. Como se entende que o português está divinamente talhado para o contacto com outras culturas, torna-se impossível explicar a cadeia de privilégios e poderes que sustenta o racismo estrutural. Afinal, como pode o país ser estruturalmente racista, e ter instituições impregnadas de racismo, quando todos até têm um amigo negro, e quando o próprio primeiro-ministro é uma pessoa não branca? Diria que o Lusotropicalismo se alimenta dessa incapacidade de ver além dos próprios privilégios, e de entender que o propalado contacto assentou numa política de abusos sexuais. Há um olhar para o negro como inferior – nunca como par –, e isso evidencia-se no discurso de ódio que se ativa sempre que o mesmo expressa uma opinião contrária à narrativa dominante. Porque o «contacto» é ótimo, mas só e apenas quando a voz branca está no comando.
É urgente avançar com medidas de reparação histórica em Portugal, nomeadamente medidas de ação afirmativa, como as quotas étnico-raciais para acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Neste sentido, a recolha de dados étnico-raciais é vital. Considero igualmente fundamental que se proceda à devolução de obras de arte aos antigos territórios ocupados por Portugal. Mas, enquanto nada disto acontece, que haja coragem para implementar o Plano Nacional contra o Racismo e a Discriminação, com a participação efetiva – e remunerada – de profissionais negros em toda a cadeia de intervenção: das bases ao topo.
















O passado colonial português é um assunto que, quase 50 anos depois de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo-Verde terem conquistado as suas independências, continua a ser tratado com desconhecimento e paternalismo. Por um lado, não existe uma discussão séria sobre os impactos que a ocupação à força do continente africano teve, transversalmente, na sociedade portuguesa; por outro, é um tema sobre o qual continua a reinar uma narrativa única que tende a vangloriar os feitos civilizatórios – como levaram o desenvolvimento – e heroicos – como se debateram na Guerra Colonial – dos portugueses. Esta postura impede que se encare o colonialismo como uma forma de ocupação e exploração não cessada, que tem impactos que se estendem até aos dias de hoje.
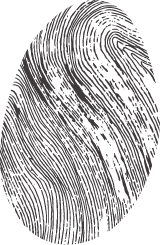
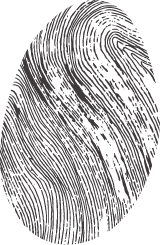
Sim. Na década de 1950, o Lusotropicalismo apoderou-se dos portugueses e nunca mais nos deixou. Para fazer face à onda internacional que criticava os países que colonizavam outros territórios, Portugal adotou, nessa altura, um discurso ameno e benevolente – que romantizava as relações inter-raciais e silenciava a violência que estas ocultavam – para fazer passar uma imagem positiva do império. Muitos portugueses não conseguem reconhecer o racismo estrutural da nossa sociedade, ou admitir praticarem atos racistas porque continuam, até hoje, toldados por esta imagem.
Sim, não vejo uma forma de avançarmos enquanto sociedade que não passe por uma análise crítica do passado. Portugal deve revisitar-se enquanto Estado-nação, permitir que outras vozes penetrem a narrativa nacionalista até agora vigente e fazer comissões de verdade e justiça que, de alguma forma, possibilitem uma reparação – ainda que parcial – das desigualdades que o colonialismo promoveu e que se mantêm, até hoje, no mundo. Resumindo, é preciso que a história de Portugal se desconstrua, se deixe penetrar por outras narrativas e, finalmente, se reerga de uma forma mais democrática.


Empreendedora, ativista social, cultural e política e apresentadora do Perguntas Incómodas na RSTP – Rádio Somos Todos Primos
















A população portuguesa não conhece o passado colonial tal como ele realmente ocorreu. Não conhece, porque os livros e os manuais de história suportam uma narrativa lusotropicalista que escolhe omitir as atrocidades cometidas. Quando se fala em passado colonial, a primeira coisa que vem à cabeça dos portugueses é a expansão marítima dos territórios portugueses, os ditos Descobrimentos, e isto é sempre recordado com o grau certo de saudosismo. Saudosismo da parte daqueles que viveram nas ex-colónias às custas das riquezas locais, recursos que foram sempre negados aos nativos. Ao mencionar o passado colonial, pensa-se nos «retornados», que tiveram de sair com «uma mão à frente e outra atrás» e que foram discriminados à chegada pelos seus concidadãos portugueses. Importantes setores da sociedade portuguesa vivem traumatizados pelo facto das ex-colónias se terem tornado independentes.
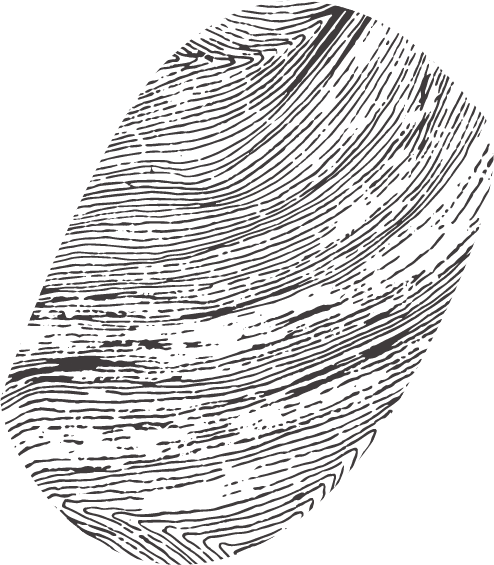
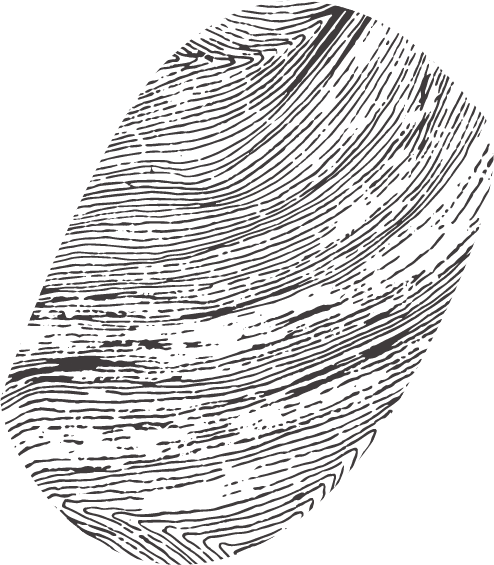
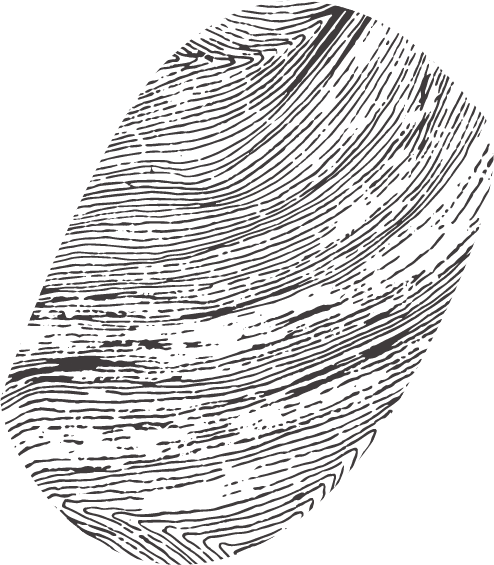
Para muitos portugueses, a onda levantada pelos africanos e afrodescendentes não passa de queixumes sem significado sério. Existe paternalismo, infantilização e também uma desumanização dos corpos negros em Portugal. Não há holofotes para as minorias. Corpos escuros devem ficar em lugares invisíveis. Os portugueses brancos não acreditam que existe racismo, porque – para além de até terem amigos negros, conviverem com negros – foram ensinados, através dos livros da escola e da narrativa dos meios de comunicação, a acreditar que o racismo não existe, que vivemos numa meritocracia. Isto da meritocracia é engraçado, porque, ao mesmo tempo, todo o português sabe o que é uma «cunha». Até temos um primeiro-ministro que é indiano, tivemos uma ministra da Justiça negra, logo, não há racismo em Portugal. Não deixa de ser irónico, porque, quando se apanha os transportes públicos das primeiras horas do dia, a maioria dos passageiros são mulheres negras que entram ao serviço antes dos outros. É preciso que os locais de trabalho sejam limpos longe da vista de todos. A representatividade não tem de ser aceitável, ela tem de ser justa. É preciso que se implementem políticas públicas que promovam justiça social. Queremos é que parem com os entraves ao nosso progresso. A sub-representação na política acaba por afastar os afrodescendentes e os africanos da política. O Lusotropicalismo é uma espécie de reconciliação com a barbárie e, no meu entender, não há lugar para reconciliação com a violência. Há que tratar o trauma que foi para todos nós. Todos nós, porque não ignoramos o sofrimento da população portuguesa naquele período, em que o totalitarismo fascista dominava o Estado português.
É preciso, antes de mais, que Portugal reconheça que o período de escravatura e de colonização foi violento para os povos. A ONU consagrou esta década como a Década dos Afrodescendentes, pergunto, o que foi feito pelas instituições portuguesas? Lanço aqui um desafio ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para que se reúna com as associações, coletivos de ativistas, para debater, despudoradamente, estas questões.
Reparação histórica? Claro que sim. É importante perceber que, quando se fala de reparação, não se está de maneira nenhuma a falar de revenge [vingança] até porque não podemos, não temos poder para tal e nem é isso que nos move. O que nos move é justamente o reconhecimento de que houve uma violência sem precedentes durante a escravatura e durante a colonização. Se não nos curarmos do passado, não teremos um presente profícuo e não estaremos a construir um verdadeiro futuro para as crianças portuguesas de todas as cores e etnias. A escravatura deveria ser um Crime contra a Humanidade, assim como o Holocausto. Reparação significa contar a história do nosso ponto de vista. Reparação financeira e moral? É possível reparar a dignidade? Sim, dando mais liberdade, oportunidades, direitos e dignidade aos descendentes das pessoas escravizadas. Reparação financeira, quem são os beneficiários? Serão todas as pessoas negras e afrodescendentes a viver em Portugal? Recebermos um valor monetário não nos colocaria numa posição de fragilidade? O mais importante é saber que impactos teve a escravatura e a colonização.


































Lusotropicalismo é o nome do projeto que o Gerador vai organizar, de julho de 2022 até dezembro de 2024, que aborda o mito do colonialismo suave português.