Acesso Rápido
Jornalismo
Temas
Formatos
Programas
Conteúdos
Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
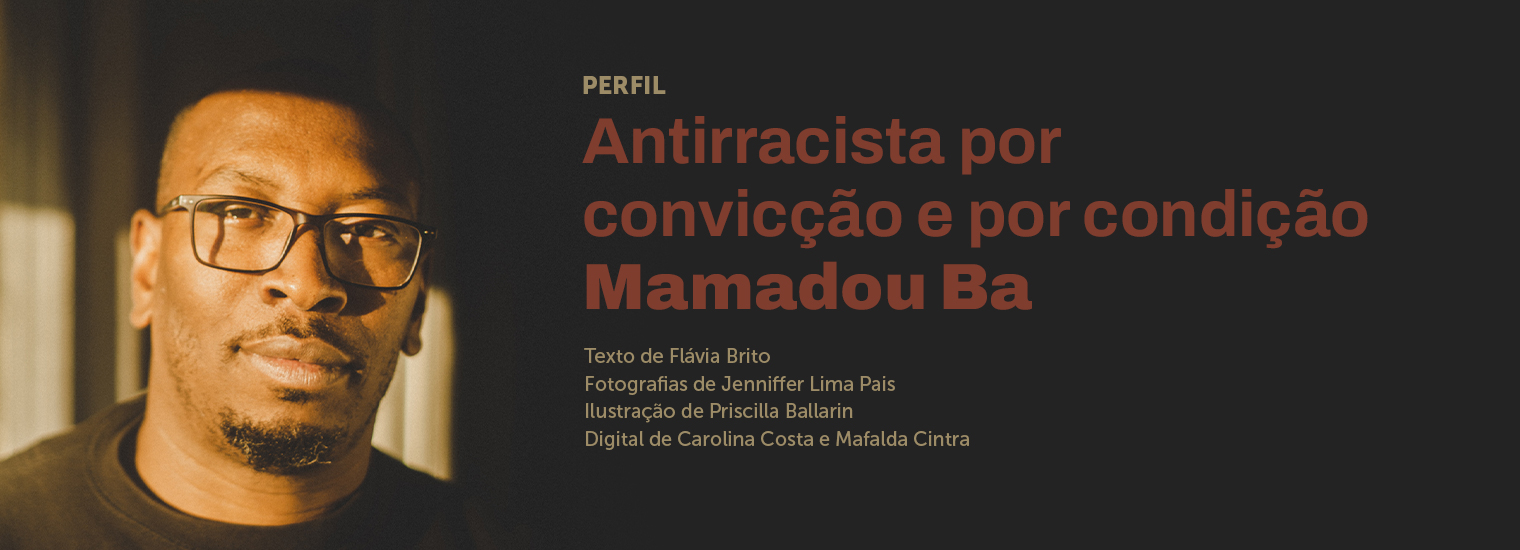
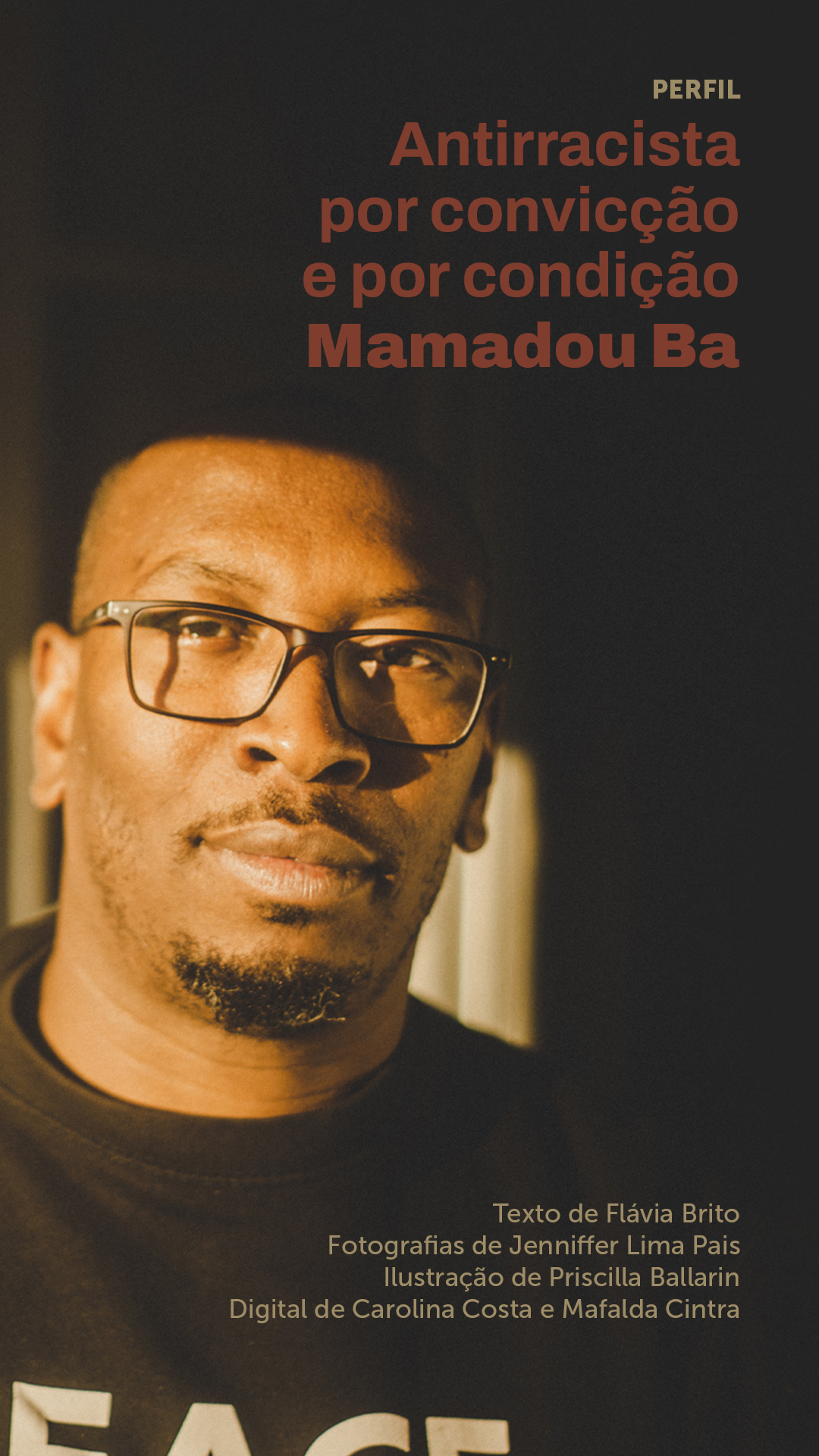

Começou a fazer ativismo muito cedo, ainda na sua terra natal, numa fase «bastante particular» do continente africano. Frequentava o 9.º ano de escolaridade, quando se envolveu no associativismo estudantil, por causa das condições de acesso e de estudo na escola pública. «Foi na altura em que o FMI começou a aplicar os programas de ajustamento estrutural e em que houve um desinvestimento muito forte no setor da educação e em outras áreas do setor público», conta, na sede do SOS Racismo, onde nos recebeu.
Alguns anos mais tarde, e perante uma situação cada vez «mais crítica», Mamadou Ba tornou-se membro da direção da associação de estudantes da Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar, onde se viria a licenciar em Língua e Cultura Portuguesas. E de onde vem o interesse por este curso? De ligações familiares e opções estratégicas, naturalmente.
Era na Guiné-Bissau – antiga colónia portuguesa – que vivia mais de metade da família do luso-senegalês e onde este passava, por exemplo, as férias escolares. Ainda no colégio, escolheu o português como segunda língua e, mais tarde, começou a interessar-se pela literatura: «Quando ia a Bissau, na Feira de Bandim, passava pelos alfarrabistas e comecei a procurar leituras em português, para começar também a aperfeiçoá-lo.» Manoel de Oliveira, Jorge de Sena, Machado de Assis, Jorge Amado ou Fernando Pessoa foram autores com que se foi cruzando e que lhe foram alimentando o gosto pela cultura lusa.
Quando chegou à faculdade, já tinha uma proximidade linguística, mas aquela escolha foi também uma opção política. «Quanto mais crescido estava, mais tinha a noção do que significava o pan-africanismo. Para mim, era importante poder ter uma ligação efetiva com o espaço lusófono, e o Senegal tem dois países lusófonos à sua volta – lusófonos entre mil aspas, porque tenho sempre dificuldade com esse espaço de reconfiguração geopolítica, a partir só da língua.»
Esta consciência política vinha de trás, quase do berço, e remete-nos para um primeiro lado biográfico da sua militância anticolonialista. O pai tinha sido correio do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Pedalava mais de 400 km entre a Guiné-Bissau e a Gâmbia, atravessando o Senegal, para levar mantimentos até aos combatentes. Já os dois tios-avôs tinham estado envolvidos na Primeira e Segunda Guerras Mundiais – um deles, a quem os nazis deram a alcunha de «terrorista negro», foi capturado e fuzilado pelos alemães, quando os combatia, integrado no contingente oriundo do Senegal – na altura, uma colónia francesa. Estas eram histórias que se contavam em casa, onde ecoavam músicas revolucionárias. «Havia todo esse debate sobre o que significava o pan-africanismo», recorda o ativista.
Voltando à Faculdade de Letras, a primeira opção era estudar o português como língua aplicada à economia, mas era um curso pouco valorizado, o que o levou, por obrigação dos pais e de uma tia, a desistir da ideia. «Disseram-me que podia fazer o curso de língua portuguesa, porque podia ser tradutor, intérprete, podia ser professor. Tinha mais saídas profissionais.»

Em 1997, Mamadou Ba aterrou em Portugal, como bolseiro do Instituto Camões, para fazer o mestrado em Língua e Cultura Portuguesa – «Chego como um privilegiado. É bom não ter nenhum equívoco sobre isto.» Mas esse privilégio, relativamente a outros imigrantes estrangeiros, não o poupou de ser confrontado «com a dura realidade de ser um sujeito negro, numa sociedade hegemonicamente branca e racista». Na chegada à residência universitária, situada no Saldanha – e a que tinha direito por ser mestrando –, foi tratado como caloiro e foi-lhe pedido que abandonasse o quarto. «Há toda uma discussão infindável, entre idas aos serviços sociais e às reuniões da população de residentes. Todo um chinfrim enorme. Fiquei no quarto. Recusei, porque era o meu direito.»
O embate tornou-se maior, quando começou a trabalhar na construção civil, em finais de 1998. A exploração laboral de imigrantes e a falta de condições de trabalho eram uma realidade patente. «Já ouvia essas histórias em vários sítios, mas nunca me tinha confrontado com isso pessoalmente», partilha, relatando o episódio em que um subempreiteiro decidiu pagar-lhe menos um terço do que o combinado. «Na altura, não havia contratos por escrito, era tudo contratos verbais.» Perante a insistência do ativista, o subempreiteiro ameaçou denunciá-lo ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). «Só tinha o visto de estudo, que, na altura, não permitia trabalhar, e ele sabia disso». Foi quando recorreu à Olho Vivo, uma associação que ajudava os imigrantes, e conseguiu que lhe fosse pago o inicialmente acordado.
Tudo isto, explica, coincide com um período de diversificação das migrações. Há mais imigrantes de leste a chegarem ao país. «Notas a diferença de tratamento nas obras, entre imigrantes negros e imigrantes da Europa de leste, tanto no discurso, como na própria repartição do esforço no trabalho», esclarece. «Os trabalhos menos qualificados eram para os negros, os mais qualificados eram para os imigrantes de leste. As relações mais estendidas, mais apaziguadas, no ambiente de trabalho, nas obras, eram entre imigrantes de leste e patrões portugueses. Os trabalhadores negros, africanos, eram sempre maltratados.»
Foi neste contexto que viu um colega de quarto, que veio com ele do Senegal, morrer soterrado numa obra no Teatro Aberto – motivo pelo qual se recusava a trabalhar sem condições de segurança. Sempre «reivindicativo» e «refilão», foi várias vezes despedido – uma das quais, quando apareceu na televisão, numa iniciativa da Rede Antirracista, da qual foi membro fundador. «Não queremos cá sindicalistas», disse-lhe o patrão.
«A rede surge da necessidade de responder a uma dinâmica, primeiro, nacional e, depois, europeia, de alargarmos a base de convergências entre o movimento social tradicional – associações de defesa de direitos humanos, de imigrantes, ambientalistas –, para as questões relacionadas com as questões raciais e migratórias», explica o membro do SOS Racismo, desde 1998. Mais uma vez, Mamadou contextualiza: a Rede Antirracista é criada numa altura de crescimento exponencial da imigração em Portugal – «tivemos quase 600 mil pessoas regularizadas» – e em que o país se debatia com as questões da diversidade e da «capacidade, ou não, de o Estado acolher essas pessoas todas» e com que políticas. Simultaneamente, a nível da União Europeia, discutia-se a criação do artigo 13.º do Tratado de Amesterdão, que, segundo o ativista, «queria, claramente, dizer que só eram cidadãos europeus pessoas brancas, com tradição judaico-cristã».
Ao longo dos anos, ia-se desvanecendo a ideia de um país que tinha acabado de entrar numa democracia e que teria aprendido com o percurso das lutas de libertação, «porque se libertou do fascismo, e porque essa libertação nasceu a partir das lutas de libertação nacional, em África, contra o colonialismo», refere. Em 2001, um jogo de futebol entre Portugal e Angola, que acabou em grandes confrontos, fez cair por terra qualquer esperança. «Estava a ver este jogo num café, e nós [as pessoas negras] fomos linchadas de insultos, quando começou a haver desacatos entre jogadores e adeptos. Foi o momento, para mim, que quebra completamente esta ilusão de que, tendo vindo com um estatuto particular, privilegiado, de estudante, poderia estar a salvo deste tipo de coisas. Percebi que não», recorda. «Portugal não tinha feito a sua catarse coletiva em relação à questão racial. Aliás, ela continua.»
Mamadou Ba

Tal como milhares de imigrantes – imagine-se, talvez, por uma questão de equidade –, também Mamadou Ba teve direito a uma odisseia da regularização, em território nacional, com uma série de situações «caricatas» e outras tantas «inarráveis».
Em 1999, foi detido no Aeroporto de Lisboa, no regresso de uma viagem à Finlândia, para a primeira Assembleia Geral da Rede Europeia contra o racismo. Tinha o visto caducado – e o pedido de renovação feito. Recebeu ordem de abandono voluntário do território. Recusou. Recorreu da decisão – uma e outra vez. Andou sem documentos. Ficou numa situação de clandestinidade, durante um período de quase dois anos, sem nunca ter despacho final. Até que foi convidado para um debate, na televisão, para falar sobre as reivindicações de um outro movimento, surgido nos primeiros anos do novo milénio, que protestava contra uma nova figura jurídica, a autorização de permanência, que os ativistas encaravam como «a legalização da escravatura».
«Mas esse debate vai ser com o diretor do SEF», disse-lhe a jornalista, quando se apercebeu de que estava indocumentado, alegando que não queria ser responsabilizada pela sua expulsão do país. Ao que Mamadou respondeu: «Nunca será responsável pela minha expulsão.» E não foi. Curiosamente, no final do programa, foi o próprio diretor do SEF que informou o ativista de que havia na lei a possibilidade de se regularizar, ao abrigo do interesse nacional. Mas o caricato não terminava aqui.
«Quando me dão esta autorização de residência, ficam convencidos de que me tinham domesticado», relata. «Há uma sessão pública, na Associação Cabo-Verdiana, para explicar a bondade da nova lei. Estou na assistência, peço a palavra e digo que a lei não é bondosa coisa nenhuma e que a questão da autorização de residência é uma questão de vontade política, não é uma questão de técnica», narra o agora luso-senegalês, perante toda a direção do SEF. «As pessoas não têm documentos, porque o Estado não lhos quer dar. A mim, deram-me e não sou mais do que ninguém aqui nesta sala», denunciava então.
Porém, a ousadia teve um preço. Esteve vários anos sem poder renovar a autorização residência, a que se seguiram várias autorizações temporárias. E quando, em 2012, resolveu pedir a nacionalidade, esta foi indeferida com dois argumentos: «O primeiro é que não sabia falar suficientemente bem português. O segundo é que não tinha uma ligação efetiva com o território.»
Nessa altura, para além da licenciatura e do curso de tradução em português, que tirou na Universidade de Lisboa, depois de abandonar o mestrado – e que lhe permitiu ir vivendo de trabalhos de freelancer para o consulado do Senegal e outras empresas –, tinha já sido também assessor de um partido político, na Assembleia Municipal de Lisboa, e o filho mais velho – que é português, devido à nacionalidade da mãe – tinha já mais de dez anos. Estes foram os argumentos que fizeram cair por terra o indeferimento – mas só ao segundo recurso.
Era militante do Partido Socialista Revolucionário (PSR), quando este se convergiu com a Política XXI e a União Democrática Popular (UDP), dando origem ao Bloco de Esquerda (BE), em 1999. O dirigente do SOS Racismo entrou na primeira Mesa Nacional, a direção nacional do partido. Fez parte da Comissão de Direitos, da concelhia de Lisboa, onde encabeçou uma lista e esteve nas direções por diversas vezes. Trabalhou na Câmara Municipal de Lisboa, como assessor, depois na Assembleia Municipal e foi também assessor do grupo parlamentar. «O contexto em que entro é uma inerência. O contexto de saída é já de uma divergência profunda, que se vinha materializando, ao longo do tempo», dá conta.
Diz que «ao contrário do que se pensa», as suas divergências com o BE não tiveram só que ver com a questão racial. Elas eram também programáticas e de orientação estratégica, garante. Não obstante, sempre crítico, face à posição do partido em relação às questões raciais e à falta de «substância programática» sobre estas matérias, continuou no BE, ao longo de duas décadas. Mas, em janeiro de 2019, o caso Jamaica e o decorrente «bostagate» – como apelida – viriam a revelar fissuras irreconciliáveis.
Mamadou Ba
Apesar das manifestações individuais que recebeu, diz ter sentido falta de solidariedade do partido, quer nos espaços políticos, quer nos mediáticos. E era claro que o BE o tinha deixado isolado. «Aconteceram coisas que me deixaram bastante convicto de que já era uma pessoa a mais.»
Percebeu que «estava a ser incómodo», «uma espécie de peso morto» e que «toda a estratégia de ataque ao Bloco» tinha começado a passar por ele – nas notícias que saem sobre si, continua a ser, recorrentemente, referenciado como ex-assessor do BE, e acredita que isso não é inocente.
Tomou então a decisão de se demitir – intenção que apenas formalizou em novembro desse ano –, a seguir a uma manifestação na Avenida da Liberdade contra a brutalidade policial, em que vários jovens negros foram dispersos com as bolas de borracha, julgados em tribunal e condenados por motim. «O facto de a única reação – de que tive conhecimento – da direção do meu partido ter sido aconselhar os jovens a terem calma, para mim, foi o suficiente», conta. «E, depois, ao ver o dirigente do PC e o dirigente do PS a atacarem-me diretamente nas redes sociais, e a preferirem fixar-se num vernáculo que disse, em vez de se indignarem com a violência que se tinha abatido sobre a família Coxi, que era óbvia, dizendo que estão com os polícias, e sabendo que parte das pessoas que me estavam a ameaçar de morte eram polícias, percebi que não tinha condições afetivas, nem condições políticas, para me manter dentro do Bloco.»
O ativista não tem dúvidas de que o contexto pré-eleitoral motivou a retração do BE. «Mas isso também diz alguma coisa sobre os partidos», afirma. «Significa que preferem sacrificar uma possibilidade de um programa antirracista a uma gestão tática de contenda eleitoral.» No seu caso, «bater com a porta» foi também a forma que encontrou de mostrar desagrado.
Contudo, apesar da desfiliação, continua a ver o BE e o PCP, «em particular», mas também o PS, «em algumas circunstâncias», como aliados na luta contra o racismo. «Aliás, todos os democratas, para mim, são aliados na luta contra o racismo», clarifica. Há pontos, porém, sobre os quais nunca fará concessões.«Não há tibieza, nem timidez, no combate ao racismo. Não há a possibilidade de estar, por cima do muro, a ver a banda passar, como se diz no meu país. Porque o combate ao racismo é um combate pela democracia», declara, garantindo que não fará parte de nenhum partido, nem organização, que não esteja «frontal e empenhadamente envolvido» na causa.


Mamadou Ba
Muitas vezes acusado de radicalismo, de incitar ao ódio e até de ser racista, Mamadou Ba garante que não se arrepende de nada do que já tenha dito. «Isso prova uma coisa simples: numa sociedade racista, as pessoas precisam de uma distração para não falar do racismo», deplora, sobre o episódio da «bostagate» – em que, no Facebook, qualificou de «bosta» a intervenção policial no bairro da Jamaica, reagindo a um vídeo que a deputada do BE, Joana Mortágua, disponibilizou online, para dar conta de agressões de agentes da PSP a negros. Reitera que o vernáculo não se referia à PSP, enquanto força de segurança, mas à situação em causa. «Ninguém parou para pensar, para olhar para a violência daquelas imagens e sobre elas se indignar. Toda a gente preferiu distrair-se com: Mamadou Ba insulta a polícia.»
Em novembro de 2020, uma intervenção, durante uma conferência online, deixou-o novamente no centro das críticas, quando proferiu as palavras «matar o homem branco» – «como sugeria o Fanon», foi também dito. Nas redes sociais, a frase foi rapidamente isolada, tirada de contexto e interpretada com a maior literalidade. «É uma citação que está na obra do Frantz Fanon. Essa frase foi, aliás, em resposta à intervenção anterior de Thula Pires, que falou dele», esclareceu, na altura, ao Polígrafo. «O que quis dizer foi que, para combater o racismo, é necessário combater a ideologia da supremacia branca, o subconsciente coletivo das sociedades marcadas pelo processo colonial e a ideia de superioridade da raça», disse ao projeto jornalístico online, que, de acordo com o seu estatuto editorial, «tem como principal objetivo apurar a verdade – e não a mentira – no espaço público».
A referência a Marcelino da Mata como «criminoso de guerra», em fevereiro do ano passado – após o CDS-PP propor que a morte do militar negro do Exército Português, que combateu o PAIGC na Guerra Colonial, fosse assinalada com um dia de luto nacional –, levou mesmo à criação de uma petição que pedia a sua expulsão do país.
Sobre a maneira como é retratado nos media, o dirigente do SOS Racismo diz ser uma «esquizofrenia na imprensa portuguesa» e considera que há órgãos de comunicação social que lucram com a sua «diabolização» e com a criação de «espaços de escárnio, de perseguição, de devassa», para uma base social sedenta disso. «Depois há outra imprensa que tenta, muitas vezes, isolar-me», «situar-me num gueto político», prossegue, condenando ainda aqueles que querem falar de si, sem o contactarem – «que é uma prática jornalística deplorável».
Mas vai mais longe: «A imprensa criou um monstro chamado Mamadou Ba, um monstro que foi fabricado para a extrema-direita, e naturalizou esse monstro. Também há imprensa que tenta ser equidistante, séria, mas a maior parte não.»
«Gostam muito de se interessar por questões raciais no Brasil e nos Estados Unidos, mas têm uma dificuldade tremenda em olhar para a questão racial no país e, sempre que se confrontam com a minha forma de pensar a questão racial, estão a ver as suas próprias contradições», completa, acusando parte dos media de ser incapaz de criar «um espaço mínimo de debate sério, de confrontação de ideias, sobre a questão racial, em Portugal».
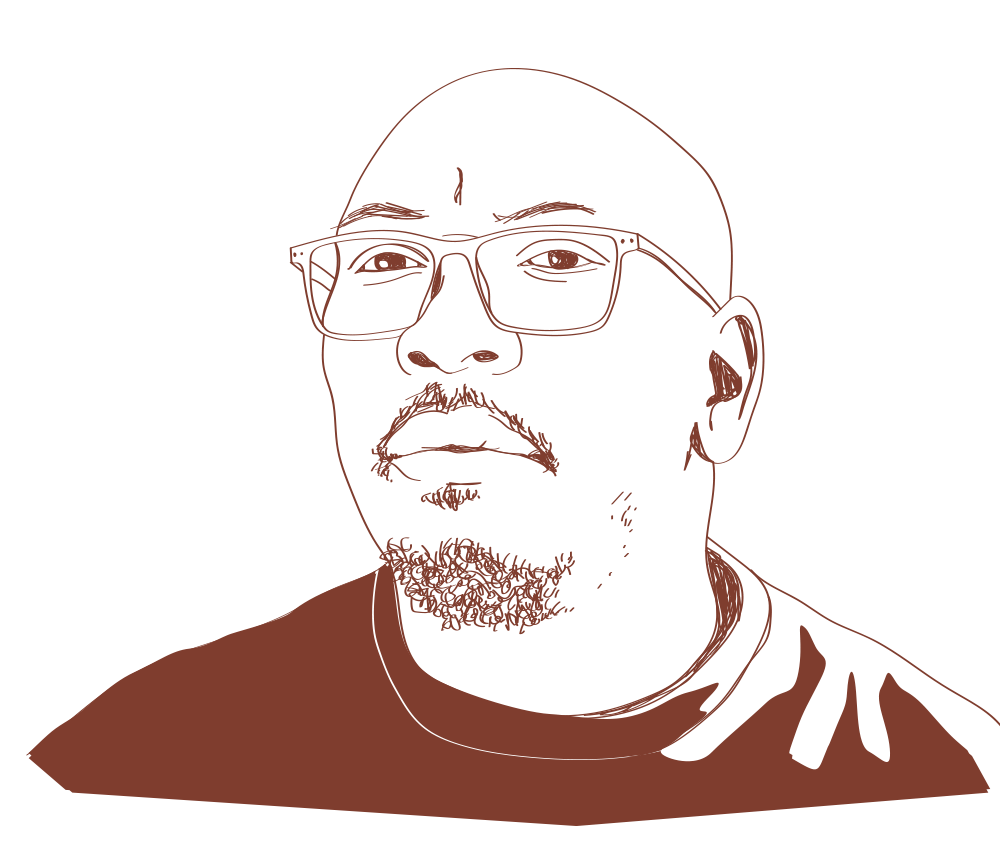
Distinguido, no ano passado, com o prémio internacional Front Line Defenders – atribuído, por uma organização irlandesa de defesa dos direitos humanos, a ativistas em risco –, Mamadou Ba acredita que este reconhecimento aumenta a visibilidade da causa.
Para José Falcão, da direção do SOS Racismo, o trabalho do ativista tem sido, desde a primeira hora, «pôr na ordem do dia a importância da luta contra a discriminação racial, contra o ódio racial, contra a extrema-direita, por uma sociedade em que o racismo e a xenofobia não existam, sejam minorados e combatidos, com propostas de soluções, debates e ideias para fazermos coisas». Sublinhando o «background intelectual e cultural» de Mamadou, nota ainda: «passámos a ter bastante mais capacidade de debate, discussão, participação, coordenação, para chegar a outros sítios, a outras pessoas, às vozes das periferias e da cultura».
Também Ana Gomes, ex-eurodeputada e ex-diplomata portuguesa, realça o papel «notável» do ativista «na integração das pessoas, na sua valorização pessoal, como forma de vencer todos os estigmas que resultam desse racismo larvar ou mais declarado na nossa sociedade». «É um trabalho que não é só académico ou de intervenção dos media, é um trabalho de intervenção social, designadamente, junto de comunidades e de pessoas que se sentem discriminadas», aponta.
«Há muita gente que tenta pintar o Mamadou como um elemento radicalizador, mas é o contrário», acredita a ex-dirigente socialista, reforçando a sua «persistência» e o contexto «extremamente adverso, de quase generalizada negação» do racismo, «com grandes riscos pessoais e para sua família», em que o luso-senegalês tem trabalhado. «Tenho tido testemunhos de muitas pessoas, da comunidade africana, em particular, que, justamente, sublinham a importância que o Mamadou teve nas suas vidas, para não as deixar deprimir, radicalizar», completa Ana Gomes, também ex-candidata à presidência da República Portuguesa.

Mamadou Ba
Alvo de ataques atribuídos à extrema-direita e ao movimento neonazi, o dirigente do SOS Racismo recebeu, no início de 2020, uma carta com uma ameaça de morte e uma bala. É, talvez, das pessoas que mais ameaças à integridade física já receberam no nosso país, mas assume que elas «vão continuar a existir, enquanto existir a possibilidade e a capacidade de mobilização e de luta».
O maior problema, considera o líder associativo, é quando «as mobilizações do medo» partem de estruturas ligadas ao Estado. «Quando é assim tenho medo, porque é muito mais difícil, para um cidadão, lutar contra o aparelho do Estado, e sabemos que há uma parte, nas forças de segurança, que está a ser assaltada pela extrema-direita.»
Mas lembra que o medo também é importante na luta política. «Temos medo para termos consciência de que temos de lutar mais. Temos medo para termos consciência de que a ameaça existe, é real, portanto, é preferível também mobilizarmo-nos contra ela. Temos medo para podermos pensar em estratégias de luta», acredita. «A única função que o medo não pode ter – e é um risco sempre, é possível que aconteça, porque somos humanos – é de ficarmos paralisados.»
Nas palavras de José Falcão, «quem luta, quem trabalha, é chato e incomoda muita gente, porque são os temas que incomodam.» Todavia, se a luta vier das próprias vítimas, incomoda muito mais, defende.
Incisivo nas intervenções públicas, Mamadou Ba não alimenta a ideia de «guerreiro», «herói» ou «mártir». Adepto fervoroso do Benfica, amante de desporto, no geral, literatura, música e culinária, sublinha que é, antes de tudo, uma pessoa, que tenta gerir o medo em função do seu compromisso político: «fazer tudo para que o medo mude de lado». «Quero que quem tenha medo sejam os racistas», declara. «Tenham medo de serem vistos, de aparecerem, de serem condenados, punidos e perseguidos. Esse é o meu combate. Quero mobilizar o medo que querem instrumentalizar contra mim, contra eles.»
E o que não o faz desmoralizar? «Temos de perceber que o antirracismo é um ato de amor à humanidade», responde serenamente este «otimista incurável». «Não é possível viver com o racismo numa democracia. E uma pessoa negra não tem escolhas. Se realmente quer viver com dignidade e em paz consigo própria, sem se inquietar sobre o que pode acontecer, por ser negra, tem de saber que tem de ser antirracista, por condição, e tem de ser antirracista, também por convicção. Porque, democraticamente, é o que está certo e o que é viável a longo prazo», prossegue. «Biologicamente, para me poder sentir bem comigo próprio, tenho de poder viver em liberdade, sem que a minha cor da pele, seja um fator de qualquer constrangimento na minha vida coletiva.» Enquanto isso não for possível, alega, «não há forma de não lutar contra o racismo».