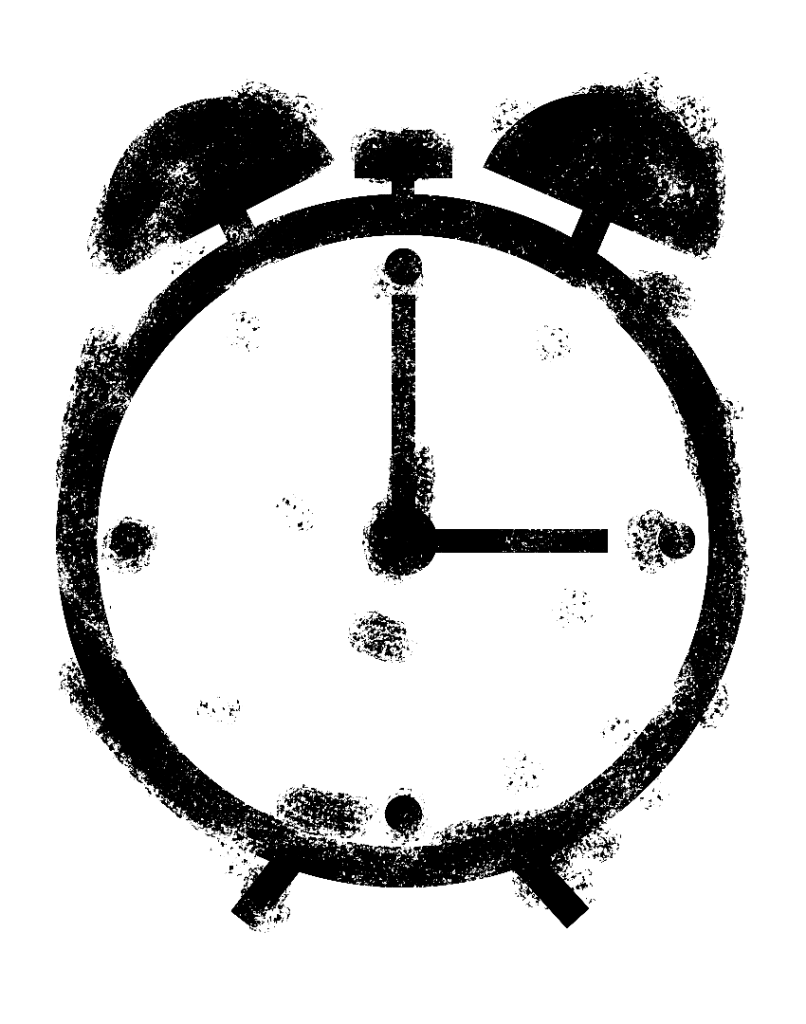Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
Texto de Cátia Vilaça
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Design e Ilustração de Pri Ballarin. Adaptação de Marina Mota
Produção de Sara Fortes da Cunha
Captação vídeo e áudio de Marcelo de Souza Campos
Fotografia de Bárbara Monteiro
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Digital de Inês Roque
25.08.2025

“A peça mais sustentável é aquela que já existe” foi a ideia deixada no workshop de personalização de roupa que Ana Belén Pérez García organizou em dezembro de 2023 na Casa da Horta, no Porto (ver caixa). A ideia, de resto, já é praticada diariamente pelo coletivo, através de uma free shop. O conceito é simples: qualquer pessoa pode entregar peças de roupa, que depois são triadas e dispostas na entrada. Quem precisar, só tem de as levar. “A roupa é um exemplo, mas o exemplo da roupa ajuda as pessoas a pensar noutros exemplos também. Não é preciso comprar constantemente tudo. É preciso questionar porque compramos e qual é a proveniência, porque fazemos o que fazemos”. Quem o afirma é Isabel Diogo que, com Elina Stolde, formam a dupla de voluntárias mais antiga da organização. Nenhuma das voluntárias está na Casa da Horta desde a sua fundação, em 2008, mas Isabel recorda, do contacto com os fundadores, a ideia de criar uma associação alternativa no Porto, iniciar um auto-emprego e ter um espaço onde os voluntários pudessem fazer o que ambicionavam.
A entrada é discreta, mas o papel A4 fixado na porta, a oferecer sopa quentinha a quem precisar, destoa numa zona com bares e restaurantes muito frequentados por turistas. Estamos na Ribeira do Porto, o epicentro da transformação da cidade. Uma mudança que esta associação cultural sem fins lucrativos testemunha desde que se instalou ali, a poucos metros do rio Douro, há 17 anos. O objetivo, lê-se na página do coletivo, é o de contribuir “para o desenvolvimento do pensamento crítico e ao mesmo tempo colocando em prática alternativas ao consumismo antiético”. Essa prática tem-se consubstanciado em concertos, exposições, jantares de beneficência e noites de poesia.

O decrescimento tem uma expressão prática reduzida, como admite Guilherme Serôdio, da Rede para o Decrescimento. Mas muitas práticas tocam os princípios decrescentistas, como a a Casa da Horta, sem que isso esteja inscrito numa carta de valores ou num manifesto. Há muita coisa “absolutamente compatível” com o decrescimento, assegura Guilherme, ainda que poucos tratem o assunto como uma corrente.
Na sua tese de doutoramento, Inês Cosme mapeou um conjunto de iniciativas onde pelo menos houvesse “um certo alinhamento mental por detrás do decrescimento”, nomeadamente modos de estar autónomos do mercado, criação de comunidade ou contributo para a resiliência de um dado local. A avaliação das iniciativas teve por base um conjunto de critérios agrupados em três objetivos: a redução do impacto ambiental das atividades humanas, a redistribuição do rendimento e riqueza dentro do país e entre países, e a promoção da transição de uma sociedade materialista para um modelo convivial e participatório. Estes critérios não foram apenas desenvolvidos para o contexto português, mas fazem parte da proposta da investigadora para avaliar o grau de alinhamento de iniciativas com o decrescimento.
Não se pense, contudo, que a Casa da Horta é um trabalho a tempo inteiro: os voluntários afirmam conciliar o projeto com outras atividades. As receitas, com as quais é necessário pagar a renda e as despesas correntes, provêm da cantina e de financiamentos junto da União Europeia: a Casa da Horta pode enviar ou receber voluntários ao abrigo do Corpo Europeu de Solidariedade, um programa dirigido a jovens entre os 18 e os 30 anos que pretendam fazer voluntariado durante um período máximo de um ano num país diferente do seu. Não admira, por isso, a diversidade de nacionalidades a confluir nos jantares e outras atividades. Segundo Elina, quando a Casa da Horta abriu, ainda havia residentes e crianças a brincar nas ruas da Vitória (que entretanto aumentou para União de Freguesias do Centro Histórico do Porto), mas isso tende a desaparecer. A voluntária lembra que, no início, as pessoas que trabalhavam na associação viviam nas redondezas, mas agora apenas uma pessoa reside permanentemente no Porto. A própria Elina vivia no Rés-da-Rua, uma comunidade autogestionada no centro do Porto, mas quando o senhorio decidiu não renovar o contrato e vender o edifício, os residentes tiveram de fazer as malas. O Rés-da-Rua mudou de nome, chama-se agora Urtigas 70, e de lugar, tendo passado para Ermesinde, mas no número 263 da Rua Álvares Cabral, onde se esperava que tivesse nascido mais um hotel, continua tudo fechado, sem qualquer indicação do que vai acontecer.
“O caso do Rés-da-Rua é paradigmático de como a habitação se tornou numa questão só de dinheiro, da bolsa, de investidores. E quando o negócio não funciona fica tudo assim, abandonado e inacabado”, resume Isabel Diogo. “Depois ninguém pensa nisto como a casa das pessoas. Aquilo pode ser tirado assim e não há alternativas, infelizmente”, acrescenta Elina.

“A Casa da Horta tem resistido a esta voragem. A notícia da venda do prédio, em 2022, fez soar alarmes entre os voluntários, mas quer a associação, quer os restantes moradores se mantiveram. É um edifício antigo e com problemas estruturais, mas ainda assim, Isabel Diogo vê a Casa da Horta como um “oásis”. Um oásis agregador, que não só tem resistido às transformações da cidade, mas também foi capaz de reunir a solidariedade necessária para ultrapassar as dificuldades da pandemia, que obrigou a fechar durante dois meses.
“Isabel sabe que a Casa da Horta é apenas uma gota de água formada por pessoas “que não querem fazer parte desse modelo de crescimento ilimitado”, mas uma gota capaz de criar rede. Um exemplo é o apoio a pequenos produtores, seja de bebidas artesanais ou pão, que começou por ser mais alargado, com entrega semanal de produtos agrícolas. Entretanto, o aumento generalizado dos preços obriga a procurar sempre a opção mais em conta. Mas a rede continua a construir-se pelas portas abertas da Casa: “Nós somos um espaço que está aberto a muitas propostas e podemos ceder o espaço ou o material”, concretiza. É um exemplo, crê Isabel, com capacidade de contaminar.
Numa banca ao fundo da sala, Sofia Araújo já tem sacos alinhados atrás de si, enquanto expõe as frutas e hortícolas da Biogoods, uma quinta policultural de agricultura biológica nas encostas do Douro. A produtora leva quinzenalmente à Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade (AMAP) produtos base como abóbora, batata e cebola, assim como fruta, consoante a época. Quando o Gerador visitou a AMAP, em dezembro de 2023, o forte era a tangerina e o limão, mas ao longo do ano há também cereja, mirtilo, ameixa, figo, dióspiro, castanha, ovos e carne (frango e borrego). Ocasionalmente, há ervas aromáticas e doces feitos para aproveitar a fruta. “Começámos só com os ovos, e na altura nem compensava muito vir cá, mas a gente gostava do conceito e começámos a querer vir, depois começámos a aproveitar todas as oportunidades”, conta Sofia, que, em 2023, começou o projeto com o companheiro Jorge Santos.
A AMAP apresenta-se como uma alternativa ao modelo convencional de distribuição de alimentos, desenvolvida pelas comunidades para servir produtores e consumidores. Consumidores que, aqui, são coprodutores. A designação deriva do compromisso assumido entre as partes, prolongado no tempo, para garantir o escoamento da produção.
Os produtores optam por entregar um cabaz com 50 % de produtos fixos – os tais produtos base – complementados com a fruta da época e alguns produtos mais ocasionais, como os cogumelos santieiros trazidos no mês anterior, aromáticas, ou até urtigas.
Neste momento, 90 % da produção da Biogoods é escoada através da AMAP. Apesar de também comercializar mirtilo através de lojas e revenda, Sofia prefere a relação direta com o consumidor final: “Não nos revemos muito nesse modelo porque o produto fica completamente impessoalizado, perde a relação com o lugar, com as pessoas, e aparece numa prateleira exatamente igual a outro qualquer, quando de facto é produzido de maneira diferente”, explica.
O conceito da AMAP é originário do Japão, onde surgiu, com a designação de TEIKEI, nos anos 1960, mas existe noutros lugares do mundo como CSA, sigla de Community Supported Agriculture ou Comunidade que Sustenta a Agricultura. Em Portugal, as primeiras iniciativas de disseminação do conceito surgiram em 2003. A rede nacional das AMAP seria constituída em 2016, ano em que surgiu o núcleo do Porto, a que se juntam mais pontos de recolha no norte, centro e sul.
No caso do Porto, cada coprodutor assume um compromisso de três meses, no mínimo, para que os produtores possam planear a sua produção sabendo com quantas pessoas contam no momento da colheita. Há quem assuma um compromisso semestral e até anual, como acontece em França, porque três meses pode ser um tempo escasso. Basta ver que, no inverno, as coisas demoram mais a crescer. “A ideia do compromisso é um dos princípios que está na base, mas é um pouco assustadora para o estilo de vida que as pessoas têm hoje em dia, em que podem ir a qualquer momento a um supermercado, até aos domingos, comprar o que querem”, nota Sara Moreira, que integra a equipa de dinamização da AMAP Porto. O ponto de recolha é um espaço da UPTEC, o Parque da Ciência e da Tecnologia da Universidade do Porto, e as entregas fazem-se à terça, entre as 17h30 e as 19h30.
A banca de José Costa abastece 33 coprodutores. José e a sua empresa, Obra d’Horta, juntaram-se à AMAP há dois anos para ocupar um lugar que tinha sido deixado por outro produtor, e até agora o balanço é positivo. José elogia a previsibilidade do conceito, que permite evitar o desperdício.
A Carta de Princípios da AMAP rege-se por três valores que tornam este modelo diferente do massificado: a agroecologia, que considera a produção alimentar humana como parte integrante do ecossistema; a relação de escala humana; e a alimentação como bem comum, não como mercadoria. Deste último princípio resulta a corresponsabilidade na produção, na distribuição e também no consumo, evitando o desperdício.

A visita do Gerador coincidiu com a chegada dos criadores de gado Henrique Godinho e Rafael Costa ao ponto de recolha da AMAP. Os dois produtores estão a implementar o Life Maronesa, um projeto cofinanciado pela União Europeia que assenta num modelo extensivo de produção da raça bovina Maronesa, indígena de Portugal. A ideia é de os animais permanecerem o máximo de tempo possível na montanha, respondendo também à problemática do abandono das pastagens. Um dos objetivos é criar um selo que permita que a ideia perdure para lá de 2025, quando o projeto terminar.
Antes da AMAP, os produtores escoavam a carne através da cooperativa agrícola de Vila Real e com venda direta a restaurantes, mas estão também a começar uma loja online.
Sara Moreira identifica várias razões para a adesão das pessoas ao conceito: por um lado, o acesso a alimentos saudáveis, embora haja também motivações sociais e climáticas.
O decrescimento é assumido como princípio na Cooperativa Integral Minga, de Montemor-o-Novo, que há nove anos atua em áreas necessárias ao desenvolvimento da região, desde a comercialização, habitação e construção, área agrícola e serviços. [podes ler aqui a parte 2 da reportagem onde abordamos o tema do cooperativismo]. O fundador, Jorge Gonçalves, conta que chegou a este conceito como forma de pensar a demografia. Partiu da reflexão de que o crescimento económico se traduziu, em Portugal, num aumento muito grande da dimensão das áreas metropolitanas que, além de esvaziarem o tempo livre das pessoas, esvaziaram também as zonas rurais. O decrescimento era, para Jorge, um caminho para refletir acerca de uma melhor distribuição das pessoas no território, retirando pressão das urbes, onde o custo das infraestruturas, transportes e funcionamento geral faz com que as pessoas trabalhem muitas horas, percam muito tempo nos transportes e vivam pouco em comunidade.
“Nós temos de voltar a ganhar esse controlo do nosso tempo, e é um bocado essa perspetiva filosófica de trazer a convivialidade, de as pessoas estarem mais umas com as outras, menos fechadas nas suas depressões, numa solidão coletiva, que é o que se tornou a vida nas cidades e no meio rural, porque no meio rural as pessoas também estão cada vez mais fechadas sobre a sua própria solidão”, analisa Jorge Gonçalves. No entanto, o próprio afirma ter-se entretanto afastado do movimento em Portugal por considerá-lo muito centrado nos interesses da população urbana. “Quem trabalha no decrescimento é maioritariamente gente da academia, e a academia está nos meios urbanos e como tal esqueceram-se de olhar para a questão demográfica”, avalia, durante uma conversa com o Gerador por videochamada.
O nome Minga é uma expressão sul-americana que se traduz por “ajudada”, e a entreajuda é o pilar da cooperativa. A Minga atua segundo princípios de economia solidária e responsabilidade social e ambiental, com uma estratégia que inclui a redução da intermediação, a operação de uma loja própria, o acesso a produtos e serviços de origem local e a promoção do auto-emprego através do apoio de uma equipa multidisciplinar.
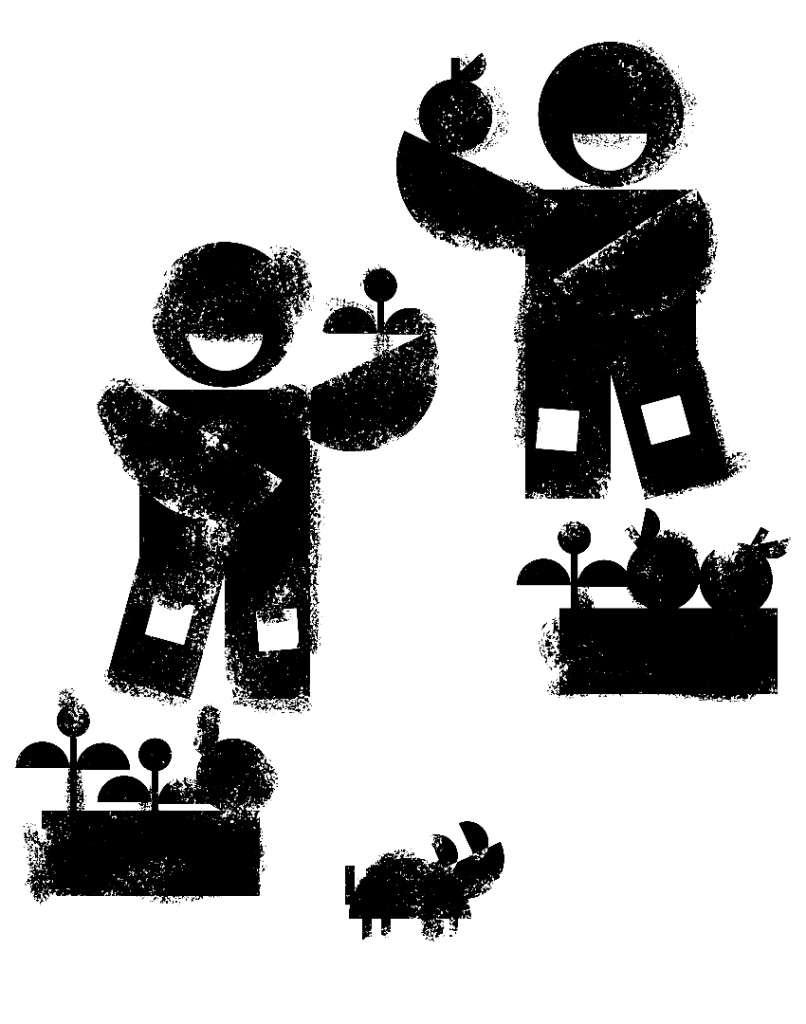
A Rizoma não é uma mercearia igual às outras, ou seja, não basta chegar e comprar, é necessário fazer parte do projeto, ser membro da secção de Consumo. Um modelo em contracorrente com o dominante na freguesia de Arroios, onde se acumulam espaços de hotelaria e restauração. Mas foi este o local escolhido por esta cooperativa multissetorial para se instalar. Fundada a 18 de novembro de 2020, a proposta arrancou como mercearia comunitária. Entretanto, a vertente multissetorial começou a desenvolver-se e, hoje, há um projeto de habitação a aguardar condições para se materializar. Também se organizam eventos, exibem-se filmes e fazem-se pequenos concertos. Os membros podem ainda alugar o espaço para atividades próprias, como aulas. A cooperativa disponibiliza também um espaço de co-work, que ajuda na rentabilização do espaço e traz mais pessoas. Mas por ora, é a mercearia “que tem de sustentar financeiramente a Rizoma”, explica ao Gerador Hans Eickoff, nascido na Alemanha e a viver em Portugal desde 1990, que se juntou à cooperativa pouco depois da sua fundação.






“É só para membros da secção de consumo porque não queremos prestar um serviço. Todas as pessoas têm de participar na vida da cooperativa e dar algumas horas do seu tempo para manter a funcionar, ou fazer caixa, ou fazer a mercearia, fazer a reposição de stocks, limpeza”, esclarece Eickoff. De acordo com o regulamento, o membro de pleno direito pode fazer compras na secção e tem de fornecer à cooperativa um mínimo de três horas de trabalho a cada quatro semanas, havendo também outras categorias de participação. O funcionamento rege-se por uma lógica de cooperação e não de competição, sem o lucro como objetivo. Há apenas duas pessoas com salário – para gestão de stocks e área financeira.
Para além dos produtos alimentares, a cooperativa disponibiliza também outros produtos, como artigos de limpeza, procurando reduzir a dependência dos membros de grandes superfícies. “A ideia é que se consiga satisfazer todas as necessidades dentro do próprio espaço”, resume Hans Eickoff. Em maio de 2023, a cooperativa lançou inclusivamente uma campanha intitulada Viver sem Supermercados, desafiando o público a prescindir destas superfícies durante um mês. Na Rizoma, trabalha-se com agricultura de proximidade e a sazonalidade é respeitada, o que contraria a disponibilidade imediata e permanente a que as grandes superfícies habituaram os consumidores. “[As pessoas] têm de alterar um bocadinho o seu mindset, a sua abordagem e fazer as suas refeições com aquilo que existe, não necessariamente ao contrário”, considera Eickoff.
O contraste entre a lógica da Rizoma e a voragem turística e económica que a rodeia é evidente, mas para Eickoff isso torna o projeto interessante. As sessões de boas-vindas, parte integrante do processo de adesão à cooperativa, estão cheias e com lista de espera.

A natureza intrinsecamente local das iniciativas de transição, como de outras que se alinham com o decrescimento, torna mais difícil, ou pelo menos mais lenta, uma capacidade abrangente de influência. Mas isso não impediu que em 2021 a associação Famalicão em Transição, cujo foco é a conservação do ambiente, tenha contestado, através de uma carta aberta, a retirada de um conjunto de hortas urbanas a uma área do Parque da Devesa, uma área verde de 27 hectares, para aí ser construído um pavilhão do CeNTI, o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, que integra o grupo Citeve (Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e Vestuário), um importante pólo num concelho de lastro industrial. Na carta, a associação argumentava que as hortas, “para além de se constituírem como uma garantia viva da continuidade das práticas agrícolas de religação à terra e ecologicamente responsáveis no cerne do pulmão verde do centro urbano, promovem ativamente a biodiversidade do local, contribuem significativamente para o fortalecimento das dinâmicas sociais e comunitárias do dia-a-dia do Parque, e consequentemente da cidade”. A associação não se mostrava contra a construção do pavilhão, apenas do local escolhido, tendo inclusivamente proposto a ocupação de um espaço de estacionamento para o efeito. A Famalicão em Transição avançou com uma providência cautelar, mas o tribunal acabaria por autorizar a construção do pavilhão, tendo as hortas sido relocalizadas.
À semelhança do que já tinha acontecido no Monte de Santa Catarina, também no Parque da Devesa a associação questiona a primazia dada ao valor económico sobre os valores naturais e de socialização. “Aquilo não é PIB. [O grupo] Citeve é PIB”, resume o ativista José Carvalho sobre a passagem das hortas para outra zona da cidade para abrir caminho à construção do pavilhão. “Se conseguíssemos contabilizar o quilo de tomate/euro que foi ali produzido, as horas de socialização no café [contíguo ao Parque] através do pagamento dos cafés, do consumo que somos obrigados a fazer nesses espaços, há toda uma questão que não é PIB, é bem-estar, é riqueza”, contextualiza.
O histórico recente de contestação a decisões locais revelou pouca margem para influenciar rumos, e o também ativista do coletivo Gil Pereira avança uma explicação simples, que extravasa a realidade famalicense: “O poder político, que é um poder político partidário, funciona segundo uma lógica de manutenção ou de obtenção de poder e de ciclos muito curtos, e está completamente refém de quem automaticamente lhe garante esse poder, que é, em grande parte, o poder económico”.
José Carvalho deposita esperança na soma das partes: “Acredito que podemos ter uma sociedade em que aceitamos que há comunidades e grupos coletivos que têm estilos, formas, de gerir o território de forma diferente e temos de dar oportunidade a esses espaços. E em paralelo, o modelo ir funcionando e ir incorporando e maximizando estes processos de modos de vida alternativos mais condizentes com o equilíbrio e os ecossistemas”, sugere o ativista.
Gil Pereira, que também integra a associação, acredita em mudanças à “escala micro”, mas encara com pessimismo o cenário global, que acredita que será de rutura e culmine numa mudança não planeada e muito mais disruptiva e difícil. Para o biólogo, a equação é simples: “Se vivemos num planeta com recursos finitos, não podemos pensar numa forma de organização de sociedade, do seu todo, da população humana, baseada num sistema que depende visceralmente da utilização infinita e cada vez maior de recursos”.
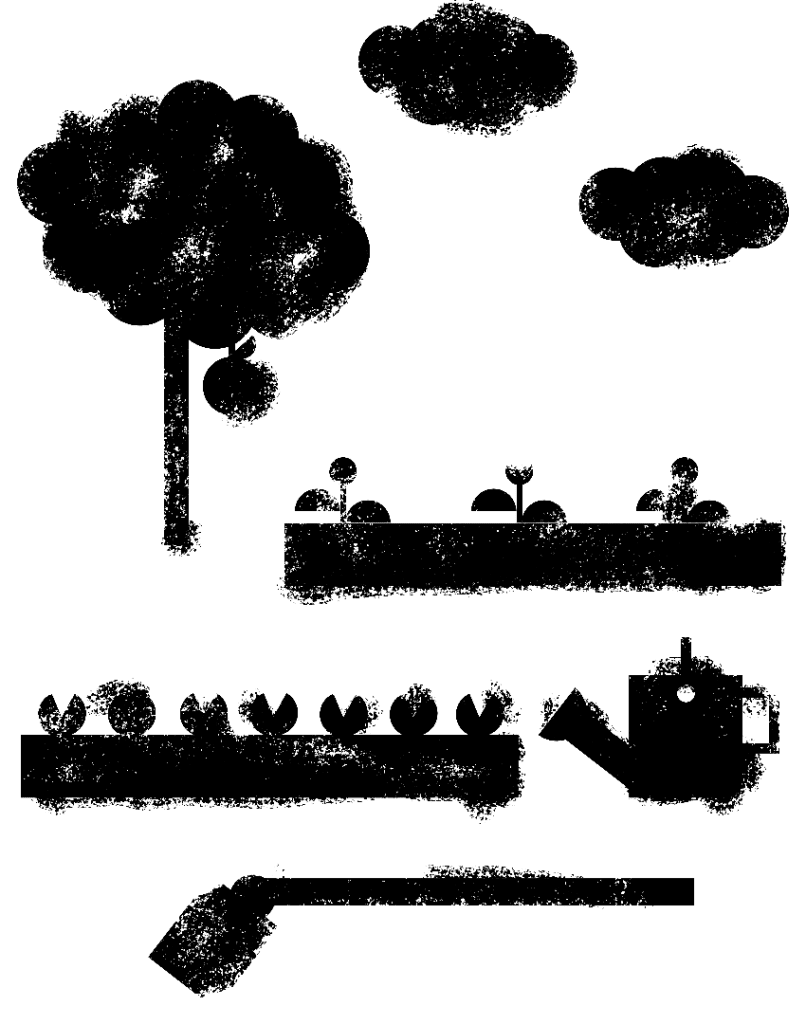
Quando procuramos satisfazer um desejo ou uma necessidade, seja arranjar o jardim, preparar uma festa de aniversário ou experimentar uma aula de ioga, o preço é habitualmente uma variável a ter em conta. E se eliminássemos esse fator da equação? É essa a proposta do Banco de Tempo. O conceito surgiu nos Estados Unidos em 1980, pela mão de Edgar Cahn (1935-2022), em resposta à retirada de financiamento a programas sociais levada a cabo pelo então Presidente norte-americano Ronald Reagan. Cahn concebeu um sistema onde o valor de troca era a hora. Eram os primeiros centros de trocas, que no início da década de 1990 evoluíram para Bancos de Tempo, altura em que o conceito começa também a florescer em Itália. Em Portugal, a ideia implementou-se por iniciativa do Graal, um movimento internacional de mulheres de inspiração cristã, tendo as primeiras agências começado a funcionar em 2002. Hoje, há agências a funcionar em todo o país.
A terminologia bancária não se cinge ao banco e à agência. Aqui também há cheques, créditos e débitos. No final de cada serviço, a pessoa que o recebe passa um cheque de tempo a quem lhe deu esse tempo. A ideia é que tudo isto se faça de uma forma harmoniosa. “As pessoas, quando disponibilizam os serviços, devem pensar em serviços que realizam com gratificação, com gosto. A ideia aqui não é que ninguém se sacrifique por ninguém, mas que as pessoas ampliem o seu bem-estar e obtenham exatamente ajuda para fazer aquilo que fazem com menos gosto ou com mais dificuldade”, explica ao Gerador Eliana Madeira, co-coordenadora da Rede Nacional do Banco de Tempo.
O cheque é depois depositado na respetiva agência do Banco de Tempo, ainda que este depósito possa, por vezes, ser simbólico e não passar de uma comunicação por email ou whatsapp. O importante é que a agência tenha o registo do movimento para poder debitar as horas na conta de quem as recebeu e creditá-las na conta de quem prestou o serviço. Esses registos servem para manter o equilíbrio e respeitar o limite (positivo e negativo) de 20 horas imposto pelo Banco de Tempo.
Se, num primeiro momento, o Graal se dirigiu a diferentes organizações para propor a ideia, a atenção mediática que o arranque do projeto recebeu inverteu a tendência. O Graal passou a receber manifestações de interesse de organizações da esfera autárquica, paróquias, associações, fundações ou escolas, interessadas em dinamizar Bancos de Tempo. A essa manifestação de interesse, segue-se uma formação inicial, onde as pessoas tomam contacto com os princípios e modo de funcionamento do Banco de Tempo. “Os recursos a nível local são muito diferentes, os contextos são muito diferentes, as organizações são muito diferentes e, portanto, é preciso criar um modelo que funcione nos diferentes territórios e adaptado aos recursos disponíveis e às próprias características das organizações”, nota Eliana Madeira.
Depois, cada organização tem de encontrar os recursos, a equipa e o espaço para fazer funcionar a sua agência e divulgá-la. Adicionalmente, propõe-se uma avaliação prévia do interesse das pessoas em integrarem o Banco de Tempo, uma “auscultação da comunidade”, explicita Eliana Madeira.
A rede nacional organiza também encontros bianuais, como forma de promover a partilha de aprendizagens. A promoção de espaços de encontro e de confiança é, aliás, uma das funções basilares das agências, para além do mero encontro entre oferta e procura. É isso que abre espaço para a prestação de serviços que implicam proximidade e empatia, como fazer companhia a uma mãe idosa ou acompanhar alguém num passeio.
Para além da melhoria da qualidade de vida, Eliana identifica outro grupo de motivações por detrás do conceito do Banco de Tempo: o da resistência ao modelo capitalista de desenvolvimento, que “não só põe o dinheiro no centro das relações entre as pessoas como muitas vezes até as desvaloriza em relação ao dinheiro, em particular as pessoas que são pós-produtivas, pessoas reformadas ou pessoas que por qualquer motivo não estão no mercado de emprego”, explicita.
No Banco de Tempo, a igualdade é ponto de partida porque o tempo de qualquer pessoa tem o mesmo valor. “Eu costumo dizer que o Banco de Tempo é como uma espécie de uma casa muito grande que tem muitas portas, tem imensas potencialidades de transformação e que as motivações para nós empreendermos na criação e nos envolvermos no Banco de Tempo podem ser múltiplas”, resume a co-coordenadora.