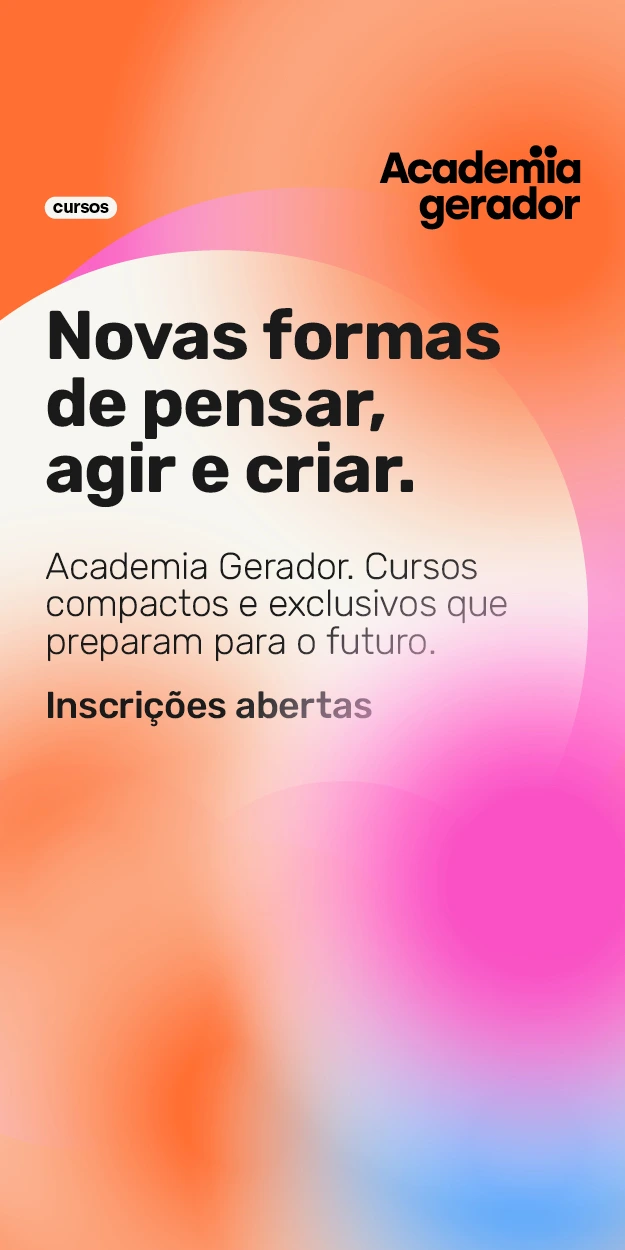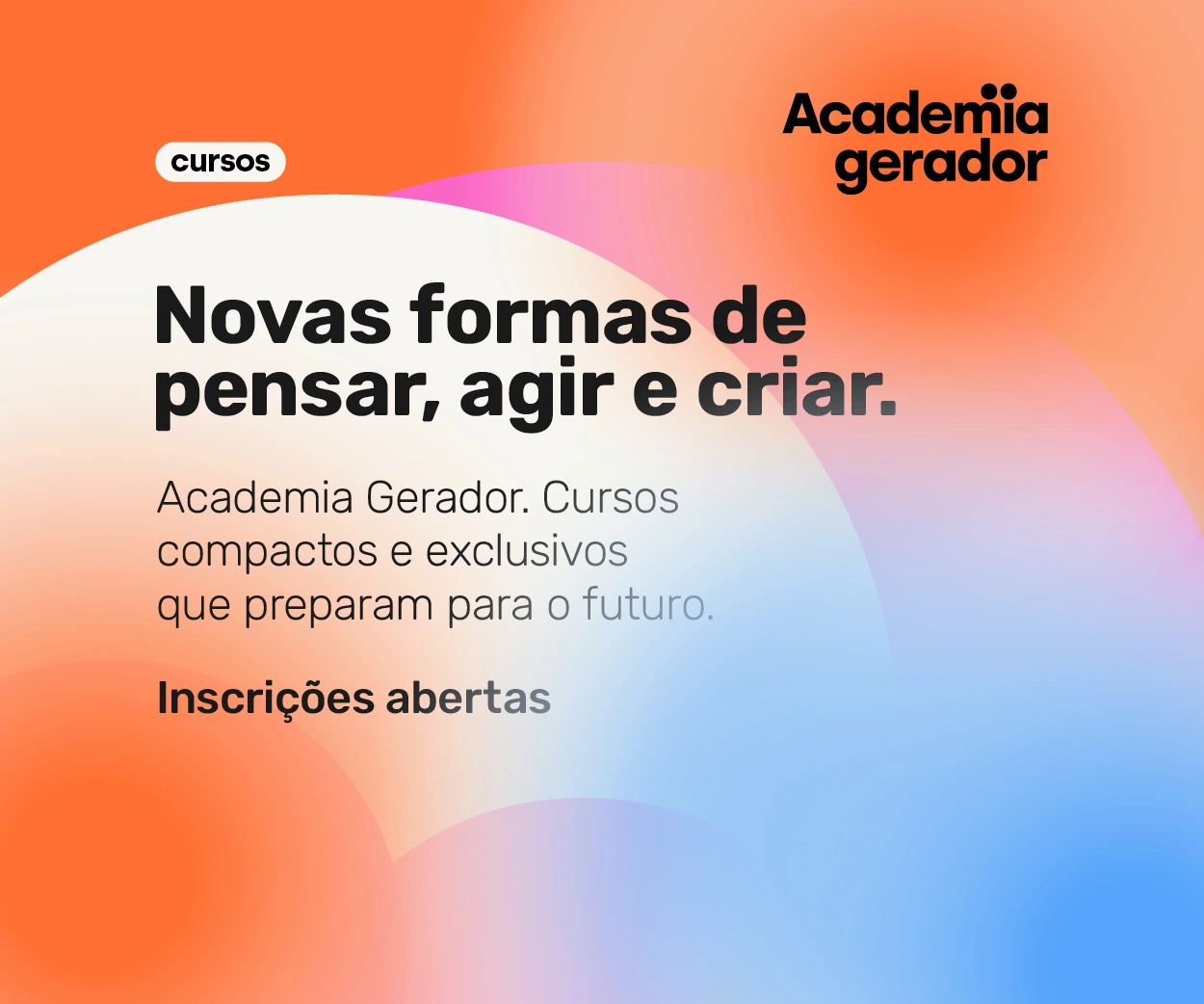Escreveu Jenny Offill na sua obra Departamento de Especulações: “O meu plano era nunca me casar. Em vez disso, ia ser um colosso da arte. As mulheres quase nunca se tornam colossos da arte porque os colossos da arte só se preocupam com a arte, nunca com coisas mundanas. Nabokov nem sequer fechava o seu próprio guarda-chuva. Era Vera quem lhe lambia os selos de correio.” Li o romance quase de uma só vez, sublinhei pelo menos uma linha em todas as páginas, terminei-o num comboio e chorei encostada à janela. Tornou-se rapidamente um dos meus livros favoritos, no qual penso talvez ainda uma vez por mês, ou mais. Num conjunto de vignettes quase-aforísticos, a narradora anónima de Offill – escritora, mulher, mãe (ou talvez mulher, mãe, escritora, ou mãe, mulher, escritora) – é fulminantemente autopercetiva e autodepreciativa, astuta e graciosa, sentimental e impassível. Reflete lacónicamente sobre a vida doméstica, a criação artística sem contornos, o amor velho e o amor novo, sobre inadequação, ternura, vergonha, beleza e solidão. Sobretudo, reflete sobre a maternidade.
O Departamento de Especulações foi traduzido e publicado em Portugal pela Relógio d’Água em 2015. Mas na sua versão original em inglês, a versão que li, o desejo da protagonista inominada não é ser um “colosso da arte”, é ser um art monster. Um monstro da arte. Um monstro da arte é imperturbável, insubmisso, desamarrado, absoluto: habita os excessos, as ambiguidades, o caos. Um monstro da arte produz o que entende produzir, não deve nada a ninguém, redefine padrões estéticos ao invés de se contorcer dentro deles. Expande-se pelas superfícies e tem consigo o tempo todo ele. Um monstro da arte não tem medo da destruição, porque não tem o dever de a arrumar, de colher os restos ou de cultivar a ordem.
No verão de 2016, Sheila Heti, autora de Maternidade, entrevistou, por correspondência, a escritora Elena Ferrante, perguntando-lhe se considerava existir uma eventual desarmonia entre produzir arte plenamente e ser mãe. Ferrante afirmou que o primeiro caminho “exige tanta concentração das energias e dos afetos de que somos capazes que certamente colide com a maternidade: as suas exigências urgentes, os seus prazeres, as suas obrigações. A inserção própria na cadeia de reprodução diminui, às vezes sufoca, o impulso extremamente violento para entrar nessa outra cadeia reprodutiva que é a tradição literária. (...) O que é melhor para uma mulher que quer escrever – ter filhos ou não os ter? Não sei. Viver não é só ler e escrever. Mas a leitura e a escrita podem ter a força de reivindicar toda a nossa vida.” E concluiu: é, e tem de ser, uma ponderação individual. A maternidade deve ser uma opção total e pessoalizada e não uma imposição precisamente porque é talvez a opção mais consequente que podemos tomar: a de moldar um futuro que não o nosso. É uma escolha que traz consigo trabalho não-remunerado, invisível e pouco repartido, concessões e recompensas. Carrega isolamento, mas também comunhão, exaustão, mas também afeto, talvez dúvidas, talvez arrependimentos. É sempre abdicar de algo, e sempre construir algo.
É por isso também determinante que a escolha – o principal marcador de uma existência emancipada, livre e plena – não só exista como seja substancial e autêntica. Não apenas escolher ser mãe, mas ter acesso real ao apoio estatal, institucional e material necessário para que a maternidade não seja um fardo insuportável, para poder viver e dar a viver de forma justa e digna: com salários decentes, licenças adequadas, serviços de saúde e educação gratuitos e eficientes. E também poder não o escolher. Dizem-nos que essa via já está assegurada, que a luta foi ganha em 2007. Mas não é verdade. Uma pessoa que deseje aceder à interrupção voluntária da gravidez em Portugal não está a exercer um direito, mas não pode ser criminalizada. Há diferença. O seu discernimento é questionado: porque a sua decisão é considerada incompreensível e até inatural, o Estado ordena que regresse a casa para pensar melhor por mais uns dias. Sentir-se-á culpada por fazer algo que, dizem, pode fazer. É recebida com desdém, num processo que desumaniza e violenta. Tem apenas 10 semanas, um período extremamente curto, para exercer a sua vontade. Num terço dos hospitais não será sequer ouvida ou tratada.
Tudo isto nos separa de uma autodeterminação completa. O intervalo entre poder escolher e poder exercer a escolha. Não é que ser um monstro da arte seja incompatível com ser mãe ou, até mais amplamente, com ser mulher ou poder ter filhos. É que um monstro da arte é-lo porque decide sobre si mesmo sem coação, sem culpa, sem a pressão do passar do tempo ou da expetativa alheia, sem o ruído exterior, o repúdio ou a condescendência. A sua monstruosidade reside na capacidade de existir plenamente no seu corpo, sem injunções ou inerências. O seu futuro pertence-lhe inteiramente. É seu e não tem de o negociar com ninguém.
-Sobre Miriam Sabjaly-
Miriam Sabjaly é jurista. Trabalhou como técnica de apoio a pessoas migrantes vítimas de crime em Portugal e a pessoas vítimas de crimes específicos, como os crimes de ódio, tráfico de seres humanos, discriminação, mutilação genital feminina e casamento forçado. Foi assessora da Deputada não inscrita Joacine Katar Moreira entre março de 2021 e março de 2022. Atualmente é mestranda em Direitos Humanos, dividindo o tempo entre Gotemburgo (Suécia), Bilbao (Espanha), Londres (Reino Unido) e Tromsø (Noruega).