Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.
Texto de Inês Rua
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Ilustrações de Marina Mota
Produção de Sara Fortes da Cunha
Captação de imagem de Marcelo de Souza Campos
Edição de vídeo de Pedro Oliveira
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Digital de Inês Roque
31.03.2025

Dentro dos múltiplos estereótipos que lidam as pessoas lésbicas diretamente, estão inseridos comentários como “é lésbica porque quer ser homem, é lésbica porque não se dececionou com os homens, é lesbica porque não foi comida direito”, como nos diz Bibiana Garcez. Ou como refere Beatriz de Aranha, “as mulheres lésbicas odeiam homens”. “Isso chateia-me. Então, lésbicas feministas de certeza que odeiam homens e que têm algum trauma com o homem”, critica. Para Mara Alexandre Veiga, a fetichização do que são as relações lésbicas e é “bué gritante e visível e alimenta muito a minha raiva lésbica”, porque “são sempre imaginadas num contexto cis”. Mara Alexandre afirma que sente uma dupla sexualização: primeiro, por ser percecionada enquanto mulher e, depois, por ser vista como lésbica.
Sobre o facto de pessoas lésbicas serem percebidas como mulheres, Simone Cavalcante da Silva constata que “a mulher em si é cidadã de segunda classe, nós temos ainda que lutar pelo básico, então eu acho que isso já influencia em certas causas que são comuns às mulheres lésbicas, independente do lugar que nós estejamos, no Brasil, em Portugal ou nos Estados Unidos”. A antropóloga Raquel Afonso, investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea (IHC NOVA), explica que “uma parte das opressões que podem afetar pessoas lésbicas vem do género ou da ideia que as pessoas têm do género, como se o género fosse uma coisa natural”, reforçando o género como uma construção social.
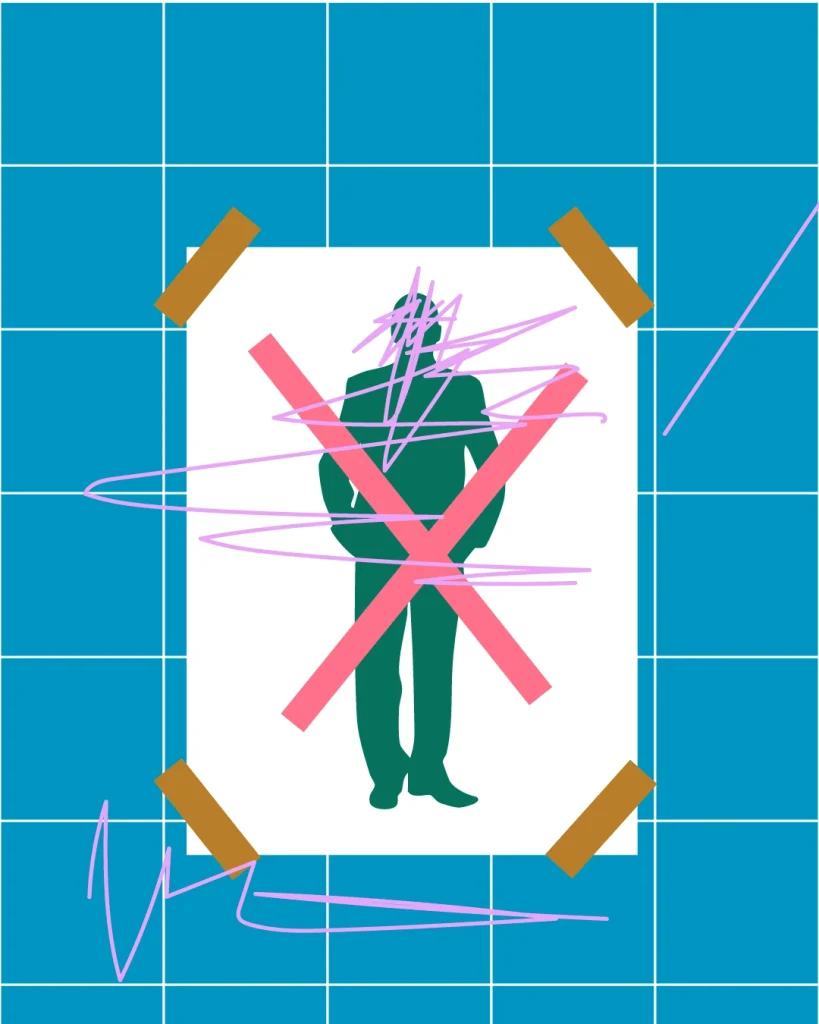
Sobre a questão do âmbito sexual, Beatriz A. refere que são tecidos comentários de “Como é que vocês conseguem? É tesourada?”. Frisando que a maioria vem de homens, reivindica: “não vou estar aqui a contar a minha vida sexual a ninguém, mas principalmente a um homem que está mais interessado em saber o erotismo da coisa do que propriamente com uma curiosidade só por curiosidade”. Acrescenta que existe o mito de que as identidades queer se resumem ao sexo, advogando que “as nossas identidades não se resumem ao sexo. Tem muito mais do que isso, tem a ver com a nossa própria maneira de encarar e de existir no mundo e pelo direito a termos um relacionamento e de falar dos nossos relacionamentos”.
Nesse sentido, Larissa Jones tece uma crítica ao filme “A Vida de Adèle” (Abdellatif Kechiche, 2013): “A mulher mais uma vez foi colocada como um objeto. Foi colocada num lugar pornográfico, num lugar bem complexo ali. Depois do que a gente descobre por detrás do filme também, que aconteceu por detrás dos bastidores, né? Essas mulheres sofreram muito psicologicamente para que aquele filme acontecesse”. A atriz Adèle Exarchopoulos, protagonista do filme, expôs publicamente o trauma motivado pelas cenas sexuais que foram pedidas. Larissa reforça que os média e a indústria pornográfica continuam a colocar as mulheres lésbicas no lugar de objetos sexuais.
A questão da objetificação assume muitas vezes a forma de comportamentos de assédio. Bibiana Garcez confessa que, mesmo em festas específicas para pessoas LBGTQIAP+, “eu passava a noite sendo assediada por homens héteros, de tipo 45 anos ou mais”, o que a faz sentir que, por vezes, em Portugal até mesmo esses espaços não são seguros para a própria comunidade.

Paula Monteiro destaca o medo que as pessoas parecem ter em verbalizar a palavra “casal” para duas lésbicas: “há uma resistência de algumas pessoas quando se referem à minha namorada como ‘a tua colega ou a tua amiga’. Parece que há aquela dificuldade de ‘são um casal’”, observa. O facto de as lésbicas serem frequentemente vistas como colegas, amigas, irmãs ou primas era algo também perpetuado na cultura mediática. Beatriz A. recorda como “havia imensa censura, por exemplo, ao casal de lésbicas da Sailor Moon. Eram primas, o que tornava ainda mais estranho”.
Outro exemplo é o anime Mermaid Melody: “as irmãs ‘beleza negra’ do mangá são lésbicas, então acaba por ser bastante esquisito nós vermos pessoas que nos vendem como irmãs e estão quase a beijar-se e agarram-se de maneiras que duas irmãs não se agarram. Isso só causa desconforto e confusão das pessoas e ainda associa a homossexualidade ao incesto”, argumenta.
A questão também é sentida por Beatriz de Aranha: “na minha última relação, namorava com uma mulher muito feminina. E nós nunca, nunca, nunca, nunca éramos lidas como namoradas. Nunca, nunca. Era preciso anunciar”. Para ela, o que mais incomoda é nunca ser uma hipótese a de serem um casal.
“Comportamentos afetivos entre mulheres parece que não são imediatamente associados a uma sexualidade, mas sim a uma afetividade”, explica Eduarda Ferreira, psicóloga educacional e investigadora do CICS.NOVA (Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais na NOVA FCSH). Neste sentido, a psicóloga avalia que “a invisibilidade lésbica ainda é muito maior e o reconhecimento das lésbicas enquanto mulheres que se envolvem afetivamente, emocionalmente, sexualmente com outras mulheres é-lhes negada a essa existência”.
A investigadora Raquel Afonso enquadra a questão histórica a de pessoas lésbicas não serem vistas enquanto um casal numa perspetiva falocêntrica. “Como não existia falo, o que é que duas mulheres iam fazer, não é? São amigas, são primas, são… o que seja”, explica.
Do lado em que são percebidas como casais, existe também o estereótipo para o qual se tem adotado a terminologia de síndrome de U-Haul, em torno da ideia de que pessoas lésbicas começam a morar juntas pouco tempo após iniciarem uma relação. Nas palavras de Bibiana Garcez, esse estereótipo recai nas considerações de “a sapatão é emocionada e tal, deu duas semanas ficando com alguém, vai morar junto, vai adotar um gato, vai comprar um cacto e uma samambaia, tal, enfim”. Embora reconheça que isso, por vezes, acontece e que as relações lésbicas podem ser vividas de forma intensa, considera que esses comentários são formas de desvalidação.
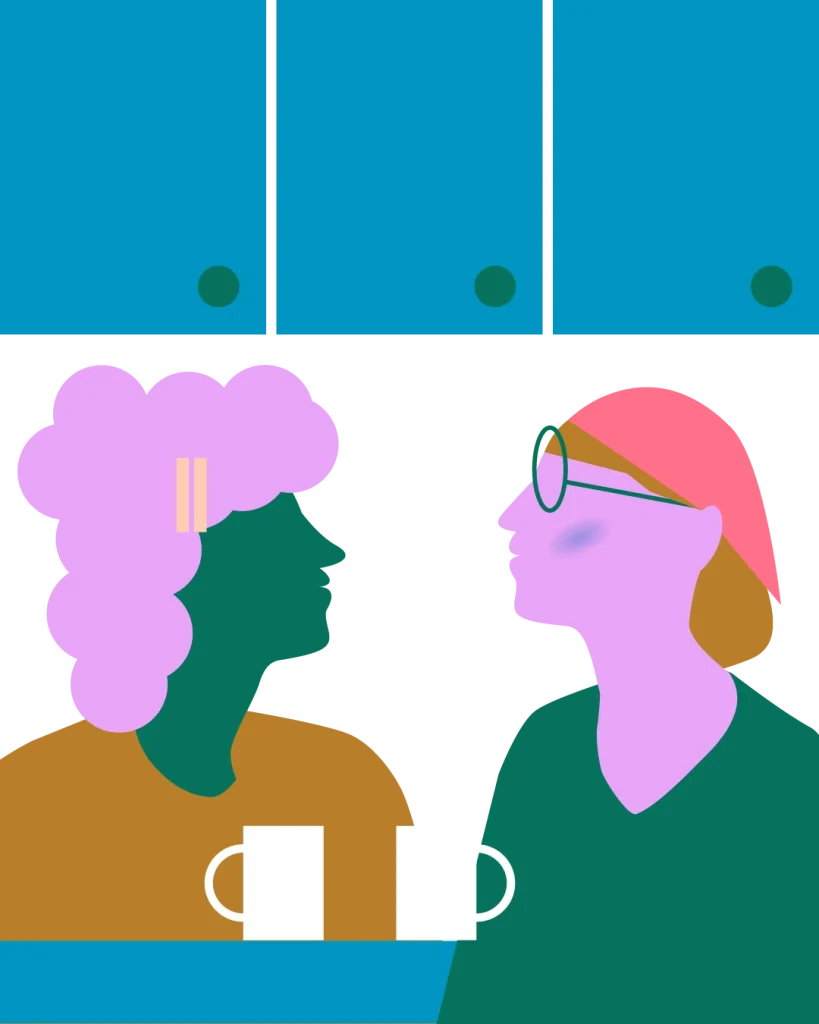
Ao longo desta reportagem, uma das questões mais frequentemente abordadas refere-se ao peso do aspeto físico na perceção das identidades. As palavras femme e masc emergem quotidianamente como referência para a apresentação das pessoas lésbicas, se mais feminina ou mais masculina. Estes dois conceitos comportam diferentes vivências e distintos estereótipos que lhes são associados.
Carolina Moutela exemplifica com a sua própria experiência: “enquanto pessoa com uma expressão de género mais masculina, [sei que] será sempre diferente da experiência de uma pessoa lésbica que tenha uma expressão de género mais feminina”. Para Larissa Jones, a sua aparência “mais andrógena” assume duas vertentes que considera problemáticas. Individualmente, relata que, pela sua forma de se vestir, é tratada como um homem. “Principalmente o homem, quando ele vem falar comigo, ele acha que eu sou o brother dele, o amigo dele”, critica. Também já escutou comentários como “ah, porque você se veste mais como um homem, então você é o homem da relação”. Nos dois sentidos, ela reforça a ideia de que “meu físico não é igual ao do homem, minha mentalidade não é igual ao de um homem e eu não sou um homem”, afirmando “sou uma mulher”.
Já Simone Cavalcante da Silva relata que, atualmente, o seu “visual” é identificado como de “uma pessoa mulher”. Mas nem sempre foi assim. “Já tive cabelo curto e fui chamada de lésbica em Portugal”, recorda. Dentro dos estereótipos associados a “uma mulher extremamente feminina e uma mais masculina”, considera que não se enquadra em nenhum dos dois.
Inês Simões também vivencia a estigmatização: “as pessoas, primeiro que tudo, não assumem que eu sou lésbica, porque não pareço uma lésbica. Eu sou demasiado feminina para ser lésbica”, critica. Bibiana Garcez conta que, quando adota uma expressão de género por vezes mais feminina, utiliza um colar onde tem escrito “sapatão”. “A pessoa vai me olhar e não vai fazer nem ideia de que eu sou lésbica. Aí eu vou com o meu colarzinho”, explica. Já para Carolina Monteiro a sua expressão de género tem repercussões pessoais: “Perco muito tempo a pensar nisso. E isso faz-me sentir muito desconfortável. Nunca estou bem conforme como me apresento”, relata, afirmando que “é um bocado forçado e falso para ser identificada como pessoa da comunidade”.
Outro problema é enfrentar estigmas dentro da própria comunidade. Beatriz A. refere que é por vezes percepcionada como bissexual pelo seu aspeto físico, desabafando que “então, eu passei estes anos todos a ter dificuldade em perceber que efetivamente não gostava de homens, para uma pessoa dentro da comunidade LGBT me dizer que eu tenho vibe de bissexual”. Neste seguimento, fala sobre a questão de usar unhas compridas e pintadas e, sobre isso, comportar uma carga associada a um estigma nas pessoas lésbicas que já não é visto nas mulheres heterossexuais, chegando a ouvir comentários de “ai até pensei que tivesse um namorado por causa das tuas unhas”. O uso das unhas curtas na comunidade lésbica é frequente por questões de higiene, não sendo, no entanto, uma questão que seja específica para lésbicas. Beatriz A. desconstrói este pensamento a partir de duas perspetivas: por um lado, considera que vem associado ao mito de “todas as lésbicas têm que participar no ato de penetrar e a penetração tem que acontecer sempre com os dedos”, por outro, “as mulheres heterossexuais que se masturbam e têm unhas grandes, ninguém lhes pergunta isso”.
Paula Monteiro dá outra visão ao facto de não ser facilmente percecionada como lésbica pelo seu aspeto mais feminino, considerando que certos estereótipos tanto a afetam, como, por vezes, servem como uma forma de proteção. Se, por um lado, considera que o estereótipo de “não parecer lésbica” a prejudica na questão da visibilidade, por outro, afirma que “eu nem sempre sou lida com uma mulher queer. Então, de alguma forma, eu percebo que isso também me protege, porque eu só preciso de expor a minha orientação sexual quando eu quero e com quem eu quero”.
A antropóloga Raquel Afonso menciona a existência do estereótipo de que “uma lésbica butch ou uma lésbica masculina seria a ativa e uma lésbica femme ou feminina seria uma lésbica passiva”. Esclarece que “a verdade, e isso depois percebe-se quando se trabalha estas questões, ou mesmo que não se trabalhe, que isto é muito mais amplo, isto não é preto no branco. Portanto, não tem de haver uma ligação direta entre a expressão de género e a orientação sexual”.
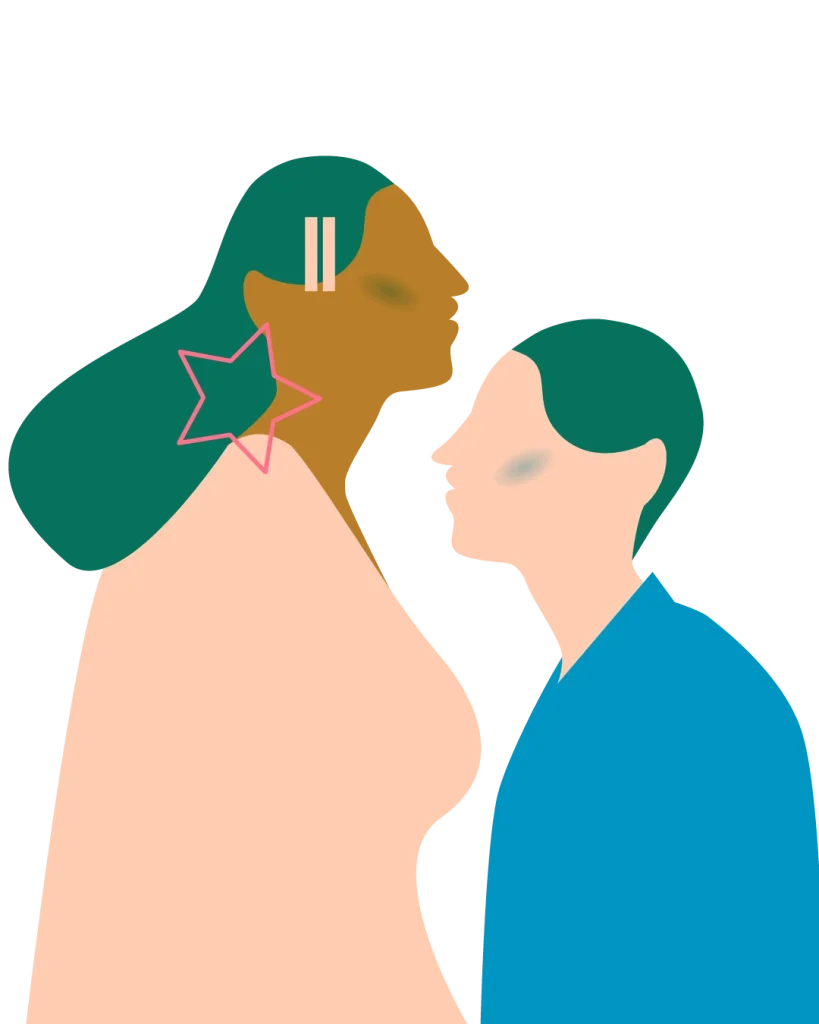
A maioria das pessoas entrevistadas reportaram nunca terem sofrido de violência física. Consideram que, dentro da comunidade LGBTQIAP+, existem outros grupos que estão muito mais suscetíveis a esse tipo de violência. Como sublinha Mara Alexandre, “eu também tenho noção que amigos meus gays é muito mais fácil serem vítimas de violência física ou verbal e mulheres lésbicas serem muito mais vítimas de olhares de fetichização. Então, eu acho que também é violento, mas é de um jeito diferente”.
As pessoas entrevistadas consideram que a maior parte da discriminação e das violências que sofrem vêm de comentários e de comportamentos que classificam como “micro-agressões”. Existe também “aquela questão do olhar que a gente sente, mas parece que não consegue bem provar”, nas palavras de Paula. A própria questão dos olhares enquadra-se, na visão de Bibiana, numa lesbofobia generalizada e estrutural que acaba por si só por gerar medo. Como menciona “porque se acontece todos os dias, se toda vez que tu sai de mão dada com uma mina na rua, tu recebe olhares e tu já começa a considerar que aquilo sempre vai acontecer, talvez tu comece a considerar outras coisas”.
“Por muitas vezes não nos escutam e nos colocam nesse lugar histérico. E não é que a gente está sendo histérica, é porque não nos escutam”, afirma Larissa. Por esse motivo, frequentemente, opta-se pelo silêncio perante situações de microviolências. No entendimento de Bibiana, “elas são tão pequenas que elas não é tão fácil de denunciar, porque, dependendo da perspetiva, pode ser que não tenha sido bem isso, pode ser debatível”. Desabafa que “eu acho que é a pior sensação quando tu começa a achar que tu está louca, eu acho que isso é um efeito muito sórdido das micro-violências”. Desta forma, o acumular de diversas situações discriminatórias conduzem a que “uma coisa bem simples, uma coisa qualquer, e eu surto, eu saio do eixo e depois eu me sinto completamente maluca, porque eu surtei por causa disso. Quando, na verdade, tu não surtou por causa disso. Tu surtou por causa de tudo. Desse lado de coisas que tu não conseguiu denunciar muito claramente. E isso acontece com todas as opressões”, afirma. Assim, na sua visão, “não separa as coisas como a violência real e micro violência. Não, elas estão ligadas. Elas respondem a uma mesma lógica, ao mesmo sistema, elas têm a mesma matriz”.
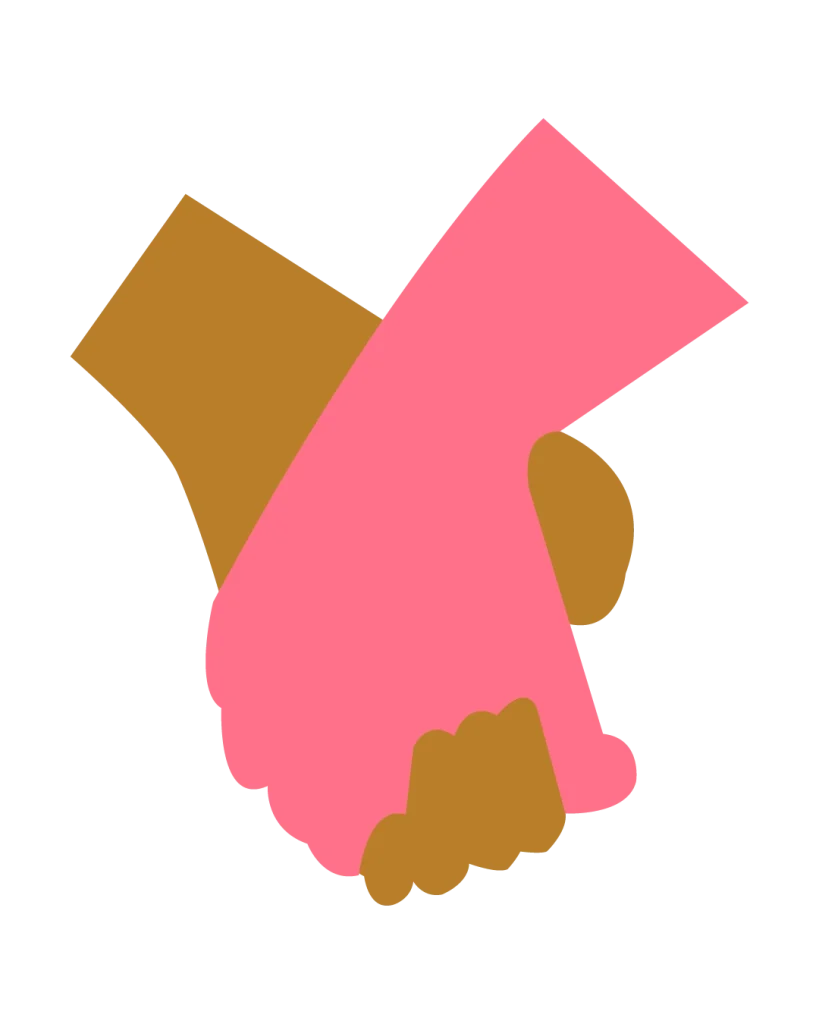
Carolina Monteiro fala também da existência de uma “discriminação invisível”, descrevendo como “aquilo que pode estar a acontecer e eu não sei”. Exemplificando com o ambiente laboral, “não sei até que ponto é que depois não vou ser discriminada. Estou numa fase muito inicial da minha carreira. E mesmo se não estivesse, não sei até que ponto é que não sou discriminada de forma invisível”. Existem outras situações, essas já visíveis, que lhe acontecem com muita frequência: “aquele clássico de ouvir comentários bastante violentos na rua. Por exemplo, quando estava com alguém de mãos dadas na rua ou dar um beijo na rua, cheguei a ser abordada por pessoas de forma extremamente desconfortável ou gritarem-me tipo ‘ah, que nojo’”.
No mundo profissional, Paula recorda de uma situação que a marcou há uns anos. Quando colocou numa rede social uma foto com a pessoa com quem namorava na altura, “há alguém que decide agarrar naquela foto e decide mostrar a toda a gente, antes de eu ter tempo de o fazer, dizendo “olhem para isto, se isto é normal…””, desabafa.
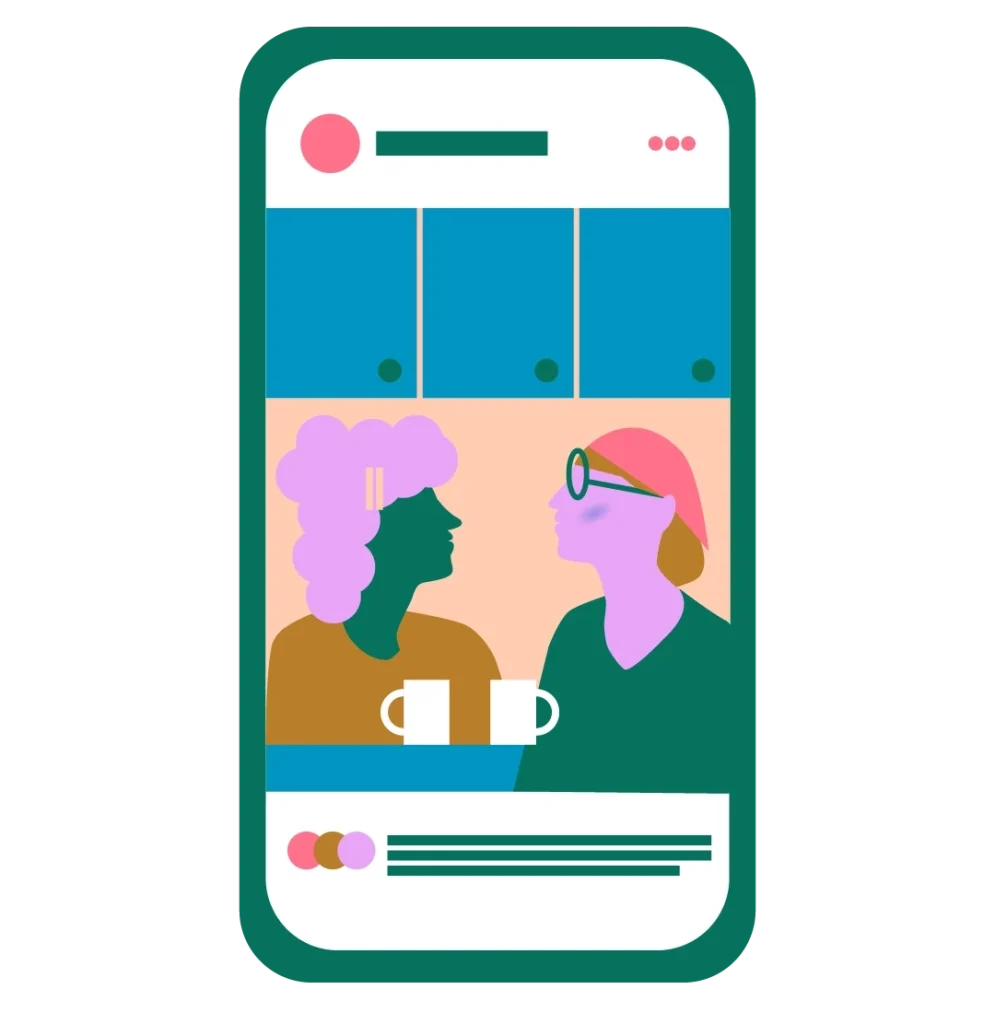
Um dos focos dos estudos da investigadora Ana Lúcia Santos, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC), foi sobre identidades sexuais no trabalho. Ao longo da investigação constatou que existe “muito a necessidade de fazer uma gestão muito cautelosa de identidade no local de trabalho. Há pessoas que estão há anos sem ter falado abertamente sobre a orientação sexual”. A investigadora avisa para as consequências que esta questão tem na vida das pessoas. Desde logo, “traz impactos na forma como se socializam com pessoas, a não participação em eventos, por exemplo, jantares de Natal da empresa, não terem conversas mais íntimas com colegas de trabalho. Há pessoas que criam ou inventam uma personagem fictícia de um namorado ou que trocam o pronome da pessoa com quem coabitam, por exemplo”, alerta.
Além disso, a investigadora Ana Lúcia Santos salienta também a importância que a precariedade do mercado laboral português tem nesta questão. Como menciona, “depois é interessante porque isto liga-se com a questão da visibilidade, porque se eu tiver um trabalho precário, onde a qualquer momento eu posso ir para a rua, então vou-me proteger ao máximo. E vou-me proteger ao máximo escondendo nomeadamente a minha orientação sexual, porque sei que à partida poderá não ser aceite”.
Relativamente ao aspeto físico e à expressão de género em ambiente laboral, Ana Lúcia Santos também apurou que algumas pessoas lésbicas “sentiam que era um impedimento na fase seguinte à entrevista de emprego”. Explica que “tinham uma fase de entrevista, conheciam outras pessoas que também tinham ido às fases de entrevista, pessoas essas que não eram tão competentes como elas, mas como elas tinham uma aparência que não era normativa, que não era heteronormativa, então elas sentiam que por causa disso não eram escolhidas”.
Em termos médicos, as questões ginecológicas foram apontadas como uma das maiores formas de discriminação. Até porque, como alerta a investigadora Eduarda Ferreira, “o especialista de saúde, além dos psicólogos, é um grande grupo de profissionais que precisa de formação específica nesta área e que não tem, ou tem pouca”.
Carolina Monteiro debruça-se sobre o facto de “duas mulheres que queiram ter um filho têm de ir à consulta de infertilidade. É isto que é chamado. O que diz muito sobre a imagem conceptual logo aí e sobre a política social e legislativa sobre a questão”. Embora considere que é importante que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) permita a procriação medicamente assistida para casais lésbicas de forma pública, “existe esta possibilidade de as pessoas terem filhos pelo SNS, mas demora 4 anos. E, portanto, se uma pessoa for aos 38 anos tentar fazer isto, por exemplo, já não vai conseguir”, declara. Devido às dificuldades em aceder à procriação medicamente assistida, quer no público, quer no privado, Beatriz de Aranha alerta para a questão “por exemplo, há uma coisa que é a inseminação caseira. Isso não está muito bem protegido na lei. Porque depois o miúdo não é reconhecido como filho delas. E é uma chatice”.
Além disso, há a questão de em consultas de ginecologia se ter de explicar várias vezes quando não se usa métodos anticoncepcionais, como conta Beatriz de Aranha. “Lembro-me de uma vez em que eu várias vezes estava a dizer que não usava métodos anticoncepcionais. Mas eu estava mesmo a fazer aquela ‘Vamos ver se ela pensa na hipótese’. E eu depois disse e eu disse uma vez ‘ah, mas eu só me estou a envolver com mulheres’. Tudo bem. Passado um bocado, mais no final da consulta, voltou ‘Então? E não toma a pílula e não usa preservativo?’ E eu fiquei ‘Epá, mas tenho que dizer outra vez?’”, conta.

Também no âmbito da saúde, a investigadora Ana Lúcia Santos alertou para o facto de as campanhas sobre doenças sexualmente transmissíveis estão muito mais direcionadas para pessoas heterossexuais ou homens gays. Além disso, reforça também que se focam muito apenas em pessoas jovens e “por volta ali dos 60 anos, ou a partir da menopausa, a saúde sexual acabou, nem sequer se fala nisso. Porquê? Porque se deixou de poder produzir, então já não interessa mais falar sobre isto. E depois isto é muito perigoso, porque as pessoas continuam com as suas vidas sexuais”.
Quanto a questões de maternidade, um dos relatos surgiu no sentido de afirmar que nunca se tinha sentido incomodada quando andava de mão dada com a namorada quando ela não estava grávida. No entanto, “quando ela estava e se notava, passou a ser um problema. As pessoas olhavam muito, porque estranham, porque o que é que aconteceu ali? Que disparate é este? Agora estão a pôr uma criança ao barulho, nesta confusão toda. Que horror, sabes? E não é fácil lidar com isso”.
Mas, se frequentemente o foco da discriminação e da violência recai para a esfera pública, importa igualmente olharmos para o privado. Como Mara Alexandre relatou, “eu acho que, no máximo, outra violência que eu posso encaixar aqui, por exemplo, é que eu não posso falar com a minha família. Não é ok. Quando falei com os meus pais, não foi muito bem aceite e eu nem disse que era lésbica”. Nesse momento, assumiu-se à família como bissexual: estava a “namorar com uma rapariga e, pronto, isso não foi muito bem aceite”. No entanto, embora não tenha sido bem aceite o facto de namorar com uma mulher, a parte de ser bissexual “era ok, porque eu ainda gostava de homens e porque ainda havia uma possibilidade de, no futuro, eu assentar e ter uma vida heterossexual e ter filhos”. Neste sentido, considera que a vida familiar “não é um espaço seguro e eu acho que isso constitui uma violência muito forte, mas não é violência que é, se calhar, estereotipada como “ai estavas a andar na rua e acabaste cheia de sangue””.
Esta “violência familiar” conduziu a que Mara Alexandre encontrasse nas pessoas amigas a sua rede de apoio. Na sua visão, “eu acho que isso é uma experiência muito partilhada de pessoas queer, não todas, mas de pessoas queer criarem tipo estas redes e dependerem delas para sobreviver e para viverem e não com a família”.
No mesmo sentido, Beatriz A. conta que, embora agora tenha uma excelente relação com a família e reconheça que a própria família estava presa a mundo conservador na altura, “a maior violência e a maior discriminação que aconteceu efetivamente foi dentro de casa”. Conta que sofreu vários abusos psicológicos e físicos que a marcaram até hoje. No entanto, ressalva que foi igualmente marcada pela forma como, mais tarde, fizeram um esforço para a entender e por mudar as suas visões, “acabando até a advogar por mim e pela comunidade”.
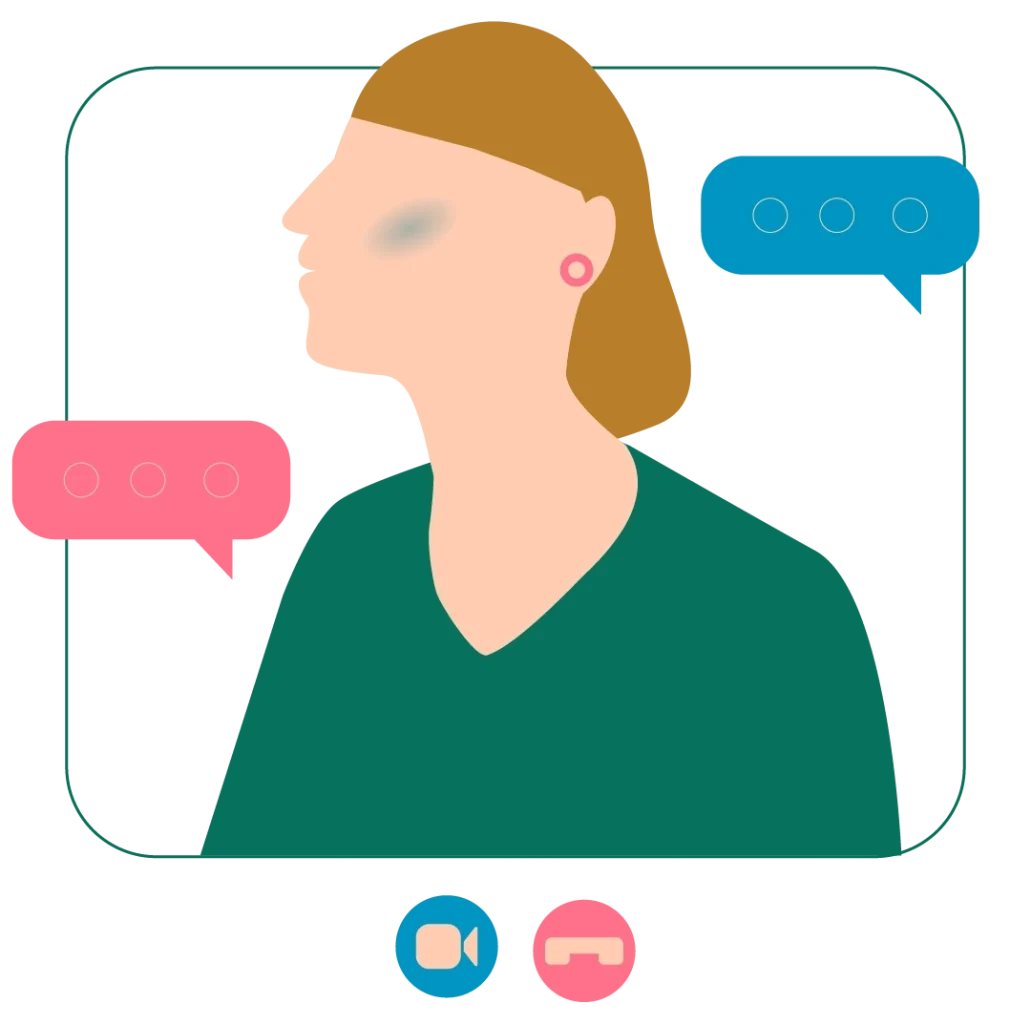
Contudo, um dos abusos que sofreu foi quando se assumiu com 15/16 anos e foi-lhe retirado o telemóvel como castigo durante um ano. A internet surgiu como um escape para as pessoas lésbicas. Não só lhes permite ter uma vida que, muitas vezes, não conseguem ter na esfera pública, como também a informação que é veiculada faz com que não se sintam sozinhas e saibam que há outras pessoas que estão a vivenciar sentimentos semelhantes aos seus. Por isso, isto teve um peso enorme na vida da Beatriz A., “eu sempre tive muitas namoradas online, não só porque o meu meio à minha volta era quase só pessoas heterossexuais, mas também porque, eu sendo autista, tinha muito mais facilidade em falar com pessoas através de um ecrã propriamente ao vivo”. Desabafa que “tirar-me do local onde eu me sentia confortável que era ter um, lá está, sítio online onde eu podia falar com pessoas que eram como eu e que compreendiam isso, tirar-me isso para mim foi extremamente doloroso”. Concluiu que, hoje em dia, “perdoo tudo aquilo que eu vivi, o que aquela pessoa fez foi porque não sabia outra maneira melhor de fazer e efetivamente fez um esforço para melhorar”.
Mesmo em situações em que a família tenta compreender e adotar alguns comportamentos de forma a ajudar, como foi o caso de Carolina Moutela, confessa que “eu sempre sofri muito por achar que não era a filha que os meus pais queriam ter”. Neste sentido, é importante considerarmos a experiência pessoal que a investigadora Eduarda Ferreira partilhou “para mim sempre foi fácil, tive a sorte de ter uma família que sempre me acolheu muito bem. Eu percebo que nem toda a gente tem esse contexto e isso para mim fez toda a diferença”. Recordando o contexto em que “eu nasci em 1962, está a ver? A homossexualidade foi descriminalizada em 1982. Eu tinha 20 anos. E o movimento só apareceu quando eu já tinha 30 anos e tal”, diz que nunca sentiu qualquer vergonha por se autoidentificar como lésbica devido ao facto de “sempre tive da parte dos meus pais uma reação extremamente positiva, no sentido de que o que importa é que sejas feliz e nós gostamos de ti, ponto”. Por esse motivo, a investigadora faz o apelo “as pessoas mais próximas das famílias têm mesmo que ter um cuidado social no sentido de chamar, acolher, receber, respeitar a diversidade de cada pessoa. Sem isso é difícil. A vida fica difícil, de facto”.
Para a investigadora Eduarda Ferreira, “a primeira forma de discriminação e violência é a própria visibilidade”. Assim, “quanto mais visibilidade existir, se mostrar a grande diversidade de mulheres lésbicas que existem, mais facilmente se percebe que a realidade não é bem essa e quebrar com esses estereótipos”, sublinha.
As histórias e vivências que foram retratadas não se resumem a uma vida ditada por uma existência infeliz e dramática. O Dead Lesbian Syndrome (Síndrome da Lésbica Morta, em português), enquanto termo que se refere ao fenómeno literário e cinematográfico que teve início da década de 1970 e ainda permanece na representação atual de personagens lésbicas, é reproduzido igualmente no contexto social que as lésbicas parecem estar eternamente condenadas e não merecerem o seu final feliz. Beatriz de Aranha recorda os primeiros filmes que viu com história de amor entre mulheres. “Uma era presa, a outra morria, a outra se suicidava. Era sempre assim. Isso era violentíssimo, não é? Para uma pessoa que se está a descobrir”, argumenta. Assim, não só este fenómeno tem repercussões na sociedade, como também afeta a própria vida das pessoas lésbicas: na maioria das vezes não existe uma representação das suas realidades feliz ou a longo termo, o que torna mais difícil conseguirem imaginar o seu futuro.
Por outro lado, Mara Alexandre faz a reflexão de que se tivesse “uma outra representatividade lésbica, tinha-me visto mais facilmente ou mais cedo”. Neste seguimento, desabafa sobre ser “mesmo muito sufocante” e ser “mesmo um peso gigante, que tu estás anos a performar uma coisa, que não faz muito bem sentido, mas tu nem consegues, tu nem sabes a quem explicar, porque tu sentes-te mesmo doido”. Este também é um dos “pesos” que a falta de representação comporta.
Para Beatriz A. a importância da visibilidade repercute, principalmente, “para pessoas que ainda estão a descobrir a sua identidade e a perceber que têm uma identidade não normativa. Especialmente para percebermos que pessoas como nós existem e têm o direito a existir”. Para estas duas entrevistadas, o ponto essencial é que as pessoas que ainda se estão a descobrir não se sintam sozinhas e possam perceber que existem mais pessoas que partilham de vivências semelhantes.
A visibilidade pauta-se também por uma ideia de colectivo. É importante “pensar também nas nossas redes e nas mulheres lésbicas na nossa vida além das relações afetivo-sexuais”, defende Bibiana. Para Thays, a visibilidade lésbica também extrasava o campo da lesbianidade. Na sua opinião, “a visibilidade lésbica é muito importante, não só pra mim, mas eu acho que em geral, sabe? Em geral mesmo, até para mulher hétero, pra ela poder se colocar como ela quiser no mundo”. Igualmente, Larissa afirma que a visibilidade lésbica pode contribuir para mudar a sociedade no geral: “Porque se não fosse pelas mulheres sapatonas também, muitas mulheres héteros não se reconheceriam como mulheres também nessa sociedade, de que você não precisa lavar as roupas do seu marido para o resto da sua vida”.
Paula Monteiro destaca que, “apesar de sermos múltiplas e diversas, há pontos em comum que me fazem sentir pertencente e encaixada, digamos assim, na sociedade”. Sobre esse sentimento de pertença, Carolina Moutela reflete: “eu sei o que é sentir-me como se eu não tivesse um espaço. Como se a sociedade à minha volta, principalmente numa cidade pequena, me colocasse num espaço que não é o meu. Porque o espaço é o espaço da homossexualidade. E eu não deixo de ser uma mulher, uma mulher lésbica, com necessidades mais específicas do que só as homossexuais”. E acrescenta: “sinto que, cada vez mais, é importante percebermos quem somos e dar-lhes nomes. Porque só assim é que somos visíveis”.
A investigadora Eduarda Ferreira reforça que, em relação às pessoas lésbicas, existe a interseção entre género e sexualidade e “não é a mesma coisa ser homem gay ou ser uma mulher lésbica”. No seu entendimento, “as diferenças que existem na sociedade relativamente a homens e mulheres também se cruzam, também existem quando as pessoas têm essa identidade LGBT”, sendo esse um dos motivos pelos quais considera a visibilidade lésbica “um lugar de extrema importância”. Olhando para a visibilidade também como uma forma de proteção, a investigadora defende que “a visibilidade é política e a visibilidade transforma a sociedade”.