Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Isabel Cunha Marques e Ana Patrícia Silva
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Ilustrações de Marina Mota
Produção de Martim Campos e Sara Fortes da Cunha
Vídeo: captação de imagem de Marta Bao e edição de Pedro Oliveira
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Digital de Teresa Gomes e Inês Roque
06.05.2024
“Aqui é que é a guerra de 1908? Não, meu senhor. Aqui é a guerra de 1906. A de 1908 é mais acima.” Terminada a frase ouve-se um som que declara que a fita do gravador de cassetes terminou. Não conseguimos ouvir a rábula até ao fim. A História da Minha Ida à Guerra de 1908, que Raul Solnado recriou, circulava entre um continente e o outro – África e Europa – através dos aerogramas que o pai de Maria Teresa Rosado, um sargento, mecânico de helicópteros e militar de carreira na Força Aérea durante a Guerra Colonial, trocava com a sua madrinha de guerra. As piadas que escreviam no papel mais ou menos amarelado eram o mecanismo ideal para criticarem o regime em que se vivia. Além disso, a madrinha e o afilhado eram primos.
Não chegamos a tempo de conversar com António Rosado, mas a sua filha não poupa palavras quando recorda aquele que foi um pai politizado, “à esquerda”, que, cada vez que ouvia a gravação que tinha em mãos, “divertia-se imenso”. Maria, ainda hoje, “farta-se” de rir sozinha ao ouvir a mesma rábula, não só por lhe trazer boas memórias, mas porque sabia bem as palavras que se seguiam: “o meu filho não pode ir para a guerra cheio de moscas, ele vai a pé”, continua assim que o gravador se apaga.

“Nos aerogramas que trocavam, pouco diziam”, começa por contar Maria Teresa. Ou melhor, “diziam pouco que se entendesse”. Recorriam à ironia para criticar o regime e os tempos que enfrentavam. Em casa, António contava muito pouco além das cartas. Mas lia. Lia aquilo a que chamavam “livros proibidos” de cada vez que regressava das comissões e chegava à sua terra natal, no Pinhal Novo. Livros estes que lhe eram entregues pela sua madrinha de guerra de cada vez que se encontravam.
Maria Teresa
Estamos no início dos anos 1960. A censura aos livros já existia desde 1933 e a dos jornais e revistas registou-se ainda antes, em 1926. Ninguém lhe perguntava o que levava na mala, mas consigo trazia algumas obras de Aquilino Ribeiro e de Máximo Gorky, mais propriamente deste, A Mãe (1906). Os nomes integravam a lista de livros censurados em todo país. Se, do “lado de lá”, havia pouco que se pudesse esconder, esta madrinha de guerra – que a sobrinha nunca teve autorização para divulgar o nome – juntava a estes autores outros nomes como Natália Correia, Henry Miller, Karl Marx e Urbano Tavares Rodrigues, além de obras como As Três Marias (1939). Uma lista pequena que, para o pai de Teresa, continha “uma grandiosidade”: ler os tempos, os espaços e o poder, independentemente do que ele significasse para si.
Assim que o pai de Maria Teresa regressou, em 1975, passou não só a integrar o Partido Comunista Português (PCP), como se fez presidente de algumas cooperativas agrícolas e, depois disso, de uma junta de freguesia, no Pinhal Novo. Se António não era assumidamente politizado durante o período da Guerra Colonial, passou a sê-lo, segundo a memória familiar.
Por essa altura, a luta de combate à subalternização das mulheres deu passos largos e significativos. Ainda assim, não escapava à repressão do regime autoritário então vigente. “A mulher no Estado Novo não existia. Existiam mulheres muito diferentes no que toca à condição económica, social, cultural e sexual”, defende Teresa Pizarro Beleza, num dos artigos da obra coletiva Mulheres e Resistência (2023), coordenado por Rita Rato. No livro, a autora avança que, “entre uma camponesa, uma empregada doméstica, uma operária, uma intelectual, uma prostituta e uma senhora mulher do Governo de Salazar, as diferenças eram abismais”.
Também professora catedrática na Universidade NOVA de Lisboa explica na mesma obra que a igualdade entre sexos era afastada em função da “natureza” inferior das mulheres. A Constituição de 1933 reforçava-o no seu artigo 5.º: “a igualdade perante a lei envolve o direito de ser provido nos cargos públicos, conforme a capacidade ou serviços prestados. E a negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título, nobiliárquico, sexo ou condição social, salvas, quanto à mulher, as diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família”. A ditadura agravou a opressão, a submissão e a exploração das mulheres.
Para a jornalista e autora do livro “As Mulheres e a Guerra Colonial” (2015), Sofia Branco, as mulheres não só sofrem de uma invisibilização histórica como pública,
Sofia Branco
Estas mulheres com grandes diferenças económicas tinham em comum uma condição: as limitações que lhes eram impostas pela Lei, mas também em larga medida pelos hábitos e pelo que lhes era exigido socialmente. Mas, se o regime de Salazar criou um contexto de subalternização das mulheres, acabou por ir ainda mais longe ao “contar” com certas mulheres para exaltar o seu regime.
Irene Flunser Pimentel, historiadora dedicada ao estudo do período contemporâneo português, explica que, no início do Estado Novo, em 1933, o regime manteve o voto feminino. “Concedeu-o apenas a certas mulheres. Ao contrário da Primeira República, que o fez porque achava as mulheres reacionárias e alvo da propaganda dos monárquicos e da Igreja Católica”, explica em entrevista ao Gerador.

Quando concebido este voto, só apenas as mulheres com curso superior, liceu concluído e que pagassem determinados impostos se podiam recensear e votar:
Irene Flunser Pimentel
Com o “decreto do voto”, em 1933, o regime permitiu que as mulheres se candidatassem à Assembleia Nacional como deputadas e, posteriormente, à Câmara Corporativa. No entender de Irene Flunser Pimentel, o regime de Salazar, tal como todos os regimes fascistas que se prolongaram no período entre as duas guerras na Europa, contaram com as mulheres, “ou melhor, com determinada função dessas mulheres”.
E quem eram estas mulheres? “A comitiva que estava por detrás das madrinhas de guerra, como Cecília Supico Pinto e todas estas senhoras que pertenciam à alta sociedade”, esclarece Sara Primo Roque, investigadora e professora no Agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa.
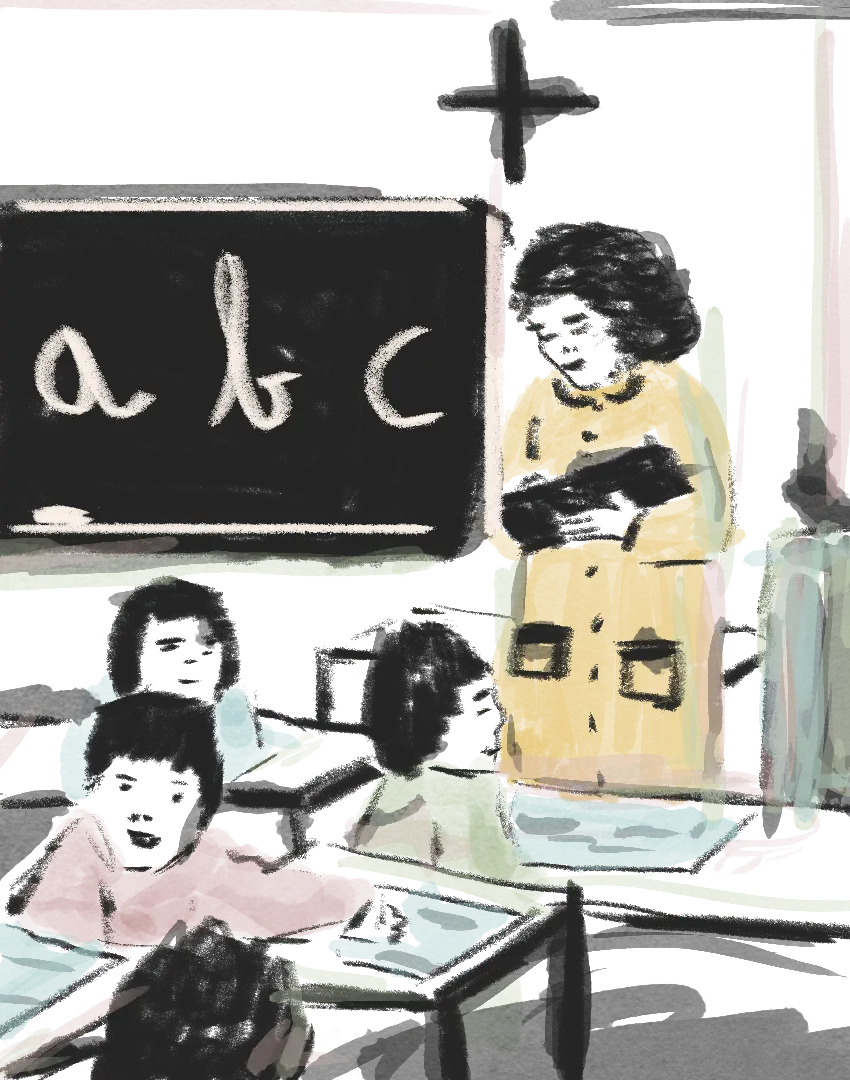
O Estado Novo formou, assim, uma elite feminina, criou organizações à semelhança daquelas do fascismo italiano e do regime nazi, mas com características próprias da ditadura portuguesa.
Algumas destas estratégias vinculavam-se à educação: mulheres educavam mulheres. Também por essa razão, explica Flunser Pimentel, a “Mocidade Portuguesa Feminina, criada em 1937, esteve sempre paralela à Mocidade Portuguesa [masculina], ou seja, a direção, o Comissariado Nacional da Mocidade Portuguesa Feminina era constituído por mulheres, ao contrário da Juventude Hitleriana. Aqui foi diferente. As mulheres estavam entre elas. E os rapazes entre eles, cada um no seu espaço”.
A entrada destas novas organizações não deixou de criar alguma controvérsia. Em 1938, conta a investigadora, houve duas grandes polémicas:
Irene Flunser Pimentel
A tutela do Estado tornou-se, assim, uma concorrente da Igreja Católica. Segue-se a tentativa de término do escutismo católico pelo “homem” das mocidades, António Carneiro Pacheco (ministro da Educação Nacional), que teve efeito no feminino e no masculino. As organizações femininas religiosas mantiveram-se, mas deixaram de ter caráter obrigatório. Desta forma, algumas dirigentes das organizações católicas tornaram-se também dirigentes das organizações estatais da Mocidade Portuguesa Feminina.

Nesse contexto, Cecília Supico Pinto, esposa do antigo ministro da Economia do regime, Luís Supico Pinto, tornou-se a dirigente do Movimento Nacional Feminino (MNF), que durou de 1961 a 1974, e levou à formação do movimento Madrinhas de Guerra, desde o início, integrando-se num departamento político do Estado Novo.
Impulsionado diretamente pela ditadura, o MNF “fazia parte de uma estratégia de hegemonia da sociedade portuguesa sobre a legitimidade da guerra e de envolvimento das mulheres no esforço de guerra”, esclarece Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.
O historiador acrescenta que esta foi uma “estratégia”, se olharmos para o desenvolvimento e para a extensão destas mulheres.
Miguel Cardina
Com este apoio ao regime e legitimidade à guerra, algumas das mulheres que integravam o MNF “lucraram”, segundo Sara Primo Roque. “Esta elite de senhoras chegavam a partir da metrópole [Lisboa] para cidades como Lourenço Marques para arranjarem o cabelo, viajando em aviões onde iam também soldados feridos, com ferimentos graves. Estas senhoras lucraram muito e viveram também muito à conta da Guerra Colonial”, acrescenta a investigadora.
Para Irene Flunser Pimentel, “o MNF era claramente propaganda do regime, sobretudo, da Guerra Colonial, de apoio aos soldados”. A historiadora exemplifica que o apoio do movimento aos militares passava, entre outros mecanismos, pela recolha de cigarros nas praias para lhes remeterem os mesmos.
Outra das motivações em torno da criação das madrinhas de guerra prende-se na importância do apoio para certos soldados, nomeadamente aqueles que não tinham correspondência familiar, uma vez que as taxas de alfabetização da época eram muito baixas: “É preciso ver o grosso da população portuguesa. Muitos dos jovens que tinham de cumprir obrigatoriamente o serviço militar, [durante] dois anos, provavelmente em guerra, nunca tinham saído da sua aldeia no campo, mal sabiam ler e escrever”, afirma Irene Flunser Pimentel. Também por isso a escrita de cartas era complicada em Portugal. As famílias não sabiam ler e escrever, tal como os próprios soldados.
Assim como Cardina e Roque, Flunser Pimentel concorda que a passividade da população durante aqueles tempos alimentou e abriu espaço para a discriminação, tendo em conta as zonas onde as pessoas viviam, e isto porque “era tudo visto como se fosse uma continuação da vida familiar e da função das mulheres de cuidar dos homens que vão a combater pela nossa pátria”.
Mas, se as mulheres foram fundamentais para a governação de Salazar, tornaram-se também essenciais para resistir ao regime.
Irene Flunser Pimentel
A resistência ao regime já advinha dos movimentos feministas que integraram a Primeira República (1947).
“O Movimento Nacional Feminino estava sempre presente nos embarques dos ex-combatentes. Não permitiam que as mulheres [mães, namoradas, filhas, entre outras] chorassem. Quando isso acontecia diziam que eram as abjetas carpideiras. As mães não se podiam manifestar, nem sentir tristeza”, relata Sara Primo Roque.
Excerto retirado do livro Os Silêncios da Guerra Colonial , de Sara Primo Roque
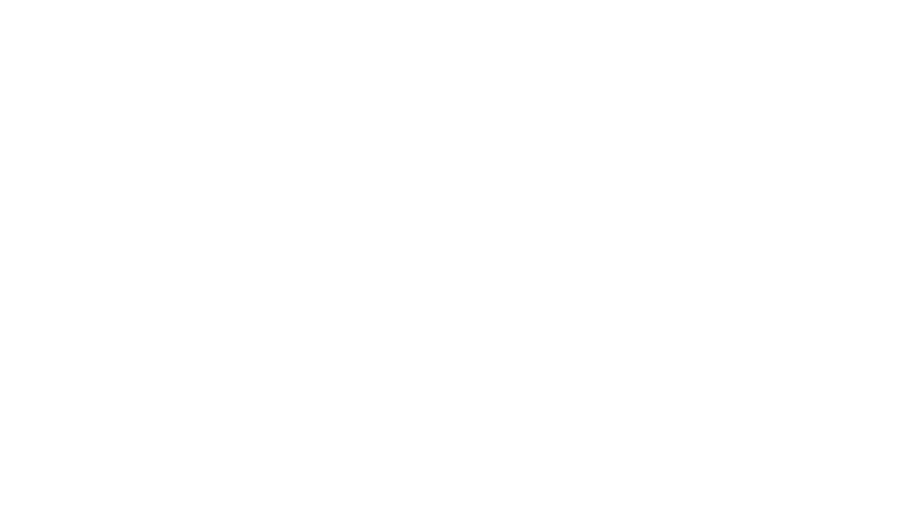
Para esta professora de história, a máquina do regime estava “muito bem montada” e a mulher portuguesa aderiu de uma “forma ingénua” pelo sentido maternalista “brutal” que sempre teve e continua a ter. Consequentemente, à mulher sempre foi “relegado” o papel de doméstica e de família. “O teu lugar é cuidar do teu marido. Servires primeiro o teu marido. Aceitares as coisas do teu marido. Tratares da tua casa. E só depois tratares de ti”, assinala Sara Primo Roque.
Estas exigências estavam presentes também no Código Civil da altura, em 1966, que determinava, entre outros aspetos, que a mulher portuguesa devia consequentemente obediência ao marido. “O homem era sempre o chefe da família, afirma Irene Flunser Pimentel.
Sara Primo Roque traça ainda o perfil da mulher do Estado Novo como uma mulher católica, que professa os princípios do cristianismo.
Sara Primo Roque
Maria Manuela Cruzeiro, no artigo “As Mulheres e a Guerra Colonial”, vai ao encontro desta perspetiva e determina um quadro sociocultural de uma sociedade tradicional, onde o papel da mulher se reduzia ao “papel protetor e maternal” comparativamente ao do homem. A investigadora do CES de Coimbra faz uma distinção entre dois grupos de mulheres: as que “ficaram” e as que “foram” à guerra.

Maria Manuela Cruzeiro
Aquando da partida dos ex-combatentes para a Guerra Colonial, o papel tradicional do homem muda, uma vez que deixam de poder trabalhar fora de casa e, consequentemente, de sustentar a família. António Lobo Antunes, no livro Os Cus de Judas (1979), destaca algumas das dificuldades enfrentadas por estes homens. “Tenho uma filha que não conheço, uma mulher que é grito de um amor sufocado num aerograma, amigos cujas feições começo inevitavelmente a esquecer, uma casa mobilada sem dinheiro que não visitei nunca, tenho vinte e tal anos, estou a meio da minha vida, e tudo me parece suspenso à minha volta, como as criaturas de gestos congelados, que posavam para os retratos antigos”, escreve.
Face a este contexto de tristeza e incerteza, intensifica-se o processo de mudanças nos papéis assumidos pelas mulheres.
A investigadora Helena Neves, na sua tese de doutoramento, Entre o silêncio e a memória: As mulheres portuguesas que acompanharam os maridos militares na Guerra Colonial, destaca que as mulheres portuguesas foram impelidas a inserir-se no mercado de trabalho. “A entrada progressiva de mulheres na vida profissional, que se desenvolveu a partir desta época, viria a representar uma mudança de fundo na sociedade portuguesa, tanto do ponto de vista do estatuto social das mulheres, como das relações familiares e dos estilos de vida”, lê-se. Helena Neves completa que a “ocupação feminina dos homens era encarada pelo poder como uma necessidade de um tempo de crise”.
Fernando Martins, professor auxiliar do Departamento de História, na Universidade de Évora, vai ao encontro desta ideia, no artigo “Amor em tempo de guerra: as ‘madrinhas de guerra’ no contexto da guerra colonial portuguesa (1961–1974)” e reflete que essa “necessidade” surgiu ainda ao longo da década de 1950, tendo-se intensificado com a Guerra Colonial. “O país atrasado e conservador, no qual às mulheres, historicamente, e salvo algumas exceções, tinha sido reservado um papel muito secundário na vida pública, mudou profundamente depois da Segunda Guerra Mundial”, constata. O historiador reforça que a intervenção “direta e indireta” da mulher no esforço de guerra revelou ser, simultaneamente, “causa e consequência de uma profunda mudança do papel social e político das mulheres”.
Fernando Martins
“As mulheres sempre trabalharam” reforça Miguel Cardina. O historiador explica que o trabalho remunerado das mulheres portuguesas não é unicamente resultado da guerra, mas também do processo de industrialização e de emigração.
Miguel Cardina
Irene Pimentel sublinha também que as mulheres “nunca” deixaram de trabalhar fora de casa, mesmo que tivesse existido, na altura, uma tentativa de propaganda nesse sentido, por parte do Estado Novo. “Os salários eram de tal maneira baixos que as famílias tinham de contar com o salário do marido, das mulheres e até dos filhos, porque também havia trabalho infantil. Isto do ponto de vista social, político e jurídico do Código Civil”, analisa.
“Eu tenho descrições da polícia francesa a explicar à PIDE porque é que há tanta emigração clandestina e tanta imigração. Porque, por um lado, a França precisava de mão de obra e até mais barata que, sobretudo, não entrasse em greve, nem se metesse em sindicatos e em política. Por outro lado, o próprio regime precisava para que viesse dinheiro para cá, mas proibia. Portanto, o regime é sempre uma contradição entre as leis e o que ele verdadeiramente queria”, acrescenta a historiadora.
Com esta mudança, a sociedade começa a ganhar uma outra autonomia e a entrada das mulheres nas universidades começa a ser também uma realidade no início dos anos 1950. “Elas eram um quarto das estudantes da Universidade de Coimbra, mas eram mais concentradas em determinados cursos. Não era Medicina, nem Direito… Era Letras e Farmácia. No final dos anos 1950, elas ainda eram a minoria, mas, no final dos anos 1960, já havia mais mulheres do que homens matriculados na Universidade de Coimbra”, informa Miguel Cardina.
Apesar desta evolução, no que toca à mulher portuguesa, o historiador defende que é “difícil” falar-se de uma emancipação feminina. “Apesar do quadro que demonstrava já mudanças efetivas, sociais, culturais, políticas e económicas em que a mulher ganha um protagonismo que não tinha antes, é preciso ter alguma cautela a falar-se de uma emancipação da mulher”, alerta.
Para Miguel Cardina, a tentativa de emancipação tem limites. “Estamos a falar de uma mulher que só podia sair do país com autorização do marido. E, portanto, logo isso limita muito o conceito de emancipação. É um quadro estruturalmente patriarcal e machista”, reforça.
Conscientes desta realidade, muitas mulheres ficaram na metrópole e lutaram por compreender a estranha realidade em que aterraram. “Não só por razões afetivas, mas por imperativos de compromisso ético e político. Dessas, muitas exerceram as suas profissões, na quase esmagadora maioria de professoras”, realça Manuela Cruzeiro, investigadora do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, no artigo “As mulheres e a Guerra Colonial: Um silêncio demasiado ruidoso”.
Maria Alice Carneiro, madrinha de guerra, é um dos exemplos retratados no livro de Sofia Branco.
conta a jornalista Sofia Branco, em entrevista ao Gerador
Irene Pimentel acrescenta o caso de Sofia Ferreira, uma militante do PCP, revolucionária antifascista portuguesa, que, já no ano de 1949, havia sido torturada. “A partir de determinada altura, também as mulheres se tornaram elas próprias rebeldes e, tal como os homens, também foram vítimas dessa pressão”, salienta. No entanto, o tipo de torturas praticadas não era o mesmo em assalariadas agrícolas e em intelectuais. “Embora, depois com o movimento estudantil, em que surgem novas gerações, também contra o regime, evidentemente que aí também começa a ser complicado e são também os estudantes torturados. Elas e eles”, explica a historiadora.

A jornalista Sofia Branco destaca um episódio sintomático dessa conjuntura, no livro As Mulheres e a Guerra Colonial (2015), em que uma mulher testemunha que, com 18 ou 19 anos, vai a uma manifestação, no Porto, com o seu pai pouco tempo depois de a Guerra Colonial ter desencadeado. Era o protesto do Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 1962. O momento ficou marcado por uma faixa onde se lia em letras grandes a palavra “basta”.
Sofia Branco
“Houve ali uma manifestação que nós não sabemos, efetivamente, que dimensão é que teve. É ela que conta e é muito possível que muitas daquelas pessoas que se foram manifestar nem sequer se apercebessem de que haveria essa conotação com a Guerra Colonial”, completa a jornalista.
Manuela Cruzeiro, no artigo “As mulheres e a Guerra Colonial: Um silêncio demasiado ruidoso” , não questiona esta “inocência” das mulheres portuguesas, ao longo da Guerra Colonial, já que, “passados todos estes anos, a nossa opinião pública parece ainda sujeita a inquietantes princípios de secretismo e ocultismo que, aliados a estratégias várias de branqueamento da história, conduzem a uma total incapacidade de compreensão e transmissão do passado às novas gerações”.
Sara Primo Roque garante que “a Guerra Colonial foi silenciada antes do 25 de Abril. E, pós-25 de Abril, continua a ser silenciada”. Face a isto, a jornalista Sofia Branco deixa a seguinte reflexão: “Claro que houve uma grande revolução, mas não sei se houve uma evolução”, questiona.