Apoia o Gerador na construção de uma sociedade mais criativa, crítica e participativa. Descobre aqui como.

Texto de Isabel Cunha Marques e Ana Patrícia Silva
Edição de Débora Dias e Tiago Sigorelho
Ilustrações de Marina Mota
Produção de Martim Campos e Sara Fortes da Cunha
Comunicação de Carolina Esteves e Margarida Marques
Digital de Teresa Gomes e Inês Roque
24.06.2024
Diana Gomes é tatuadora e dona de um estúdio na ilha Terceira, nos Açores, há cerca de sete anos. Um dia, para seu espanto, apareceu-lhe um ex-combatente com um pedido: que lhe tapasse uma tatuagem feita durante a Guerra Colonial. “Quando entrou no estúdio, o ex-militar foi direto ao assunto. Foi muito preciso no que queria. Explicou-me que tinha umas tatuagens e que queria tapá-las com outras”, relata.
Aquele encontro desencadeou na tatuadora a coragem para concretizar um sonho: escrever um livro sobre as tatuagens feitas durante a Guerra Colonial.
Diana Gomes
Então, fez uma troca. O ex-combatente taparia as tatuagens no seu estúdio, mas contar-lhe-ia como as tinha feito. Foi assim que nasceu o Ultramar na Pele (Instituto Açoriano de Cultura, 2020), um livro que conta com testemunhos de 21 ex-combatentes, todos eles tatuados, residentes na ilha Terceira.
As tatuagens eram semelhantes. “Normalmente, agrupavam as agulhas com linha de costura e depois utilizavam tinta da China, pigmento que eles colocavam na pele. Naquela altura, não havia nenhuma máquina”, explica. O motivo que os levava a fazer aquelas tatuagens também era comum: a saudade, o amor, a dúvida do retorno a casa. “A tatuagem funcionou, em certas situações, como um alívio da dor de uma guerra a que foram obrigados a ir”, analisa a tatuadora. “Por exemplo, o Francisco, um ex-militar que entrevistei, tinha tatuado na pele sangue, suor e lágrimas. Eu acho que isso diz tudo”, conclui.

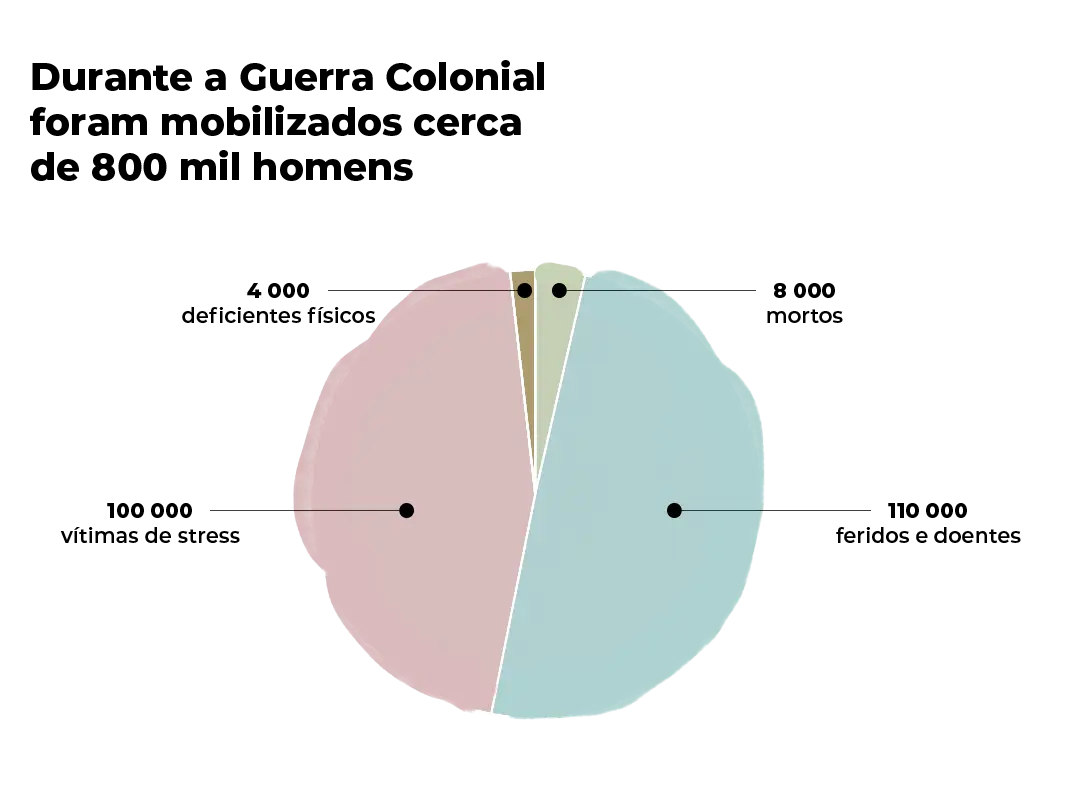
Vasco Bastos, José Manuel Parreira, João Novais e Francisco Janeiro foram quatro dos milhares de ex-combatentes que, além das marcas físicas, sofrem, ainda hoje, com as marcas psicológicas.
“Eu tenho uma memória que está cá e não sai. Íamos numa missão quando passámos perto de uma mina e, um cabo, da zona do Fundão, simplesmente foi pelo ar. Isto em pleno mato fechado. Nós andámos a apanhar todos os bocados de carne do camarada. Está cá. Não sai”, descreve Vasco Bastos com bastante dificuldade e com as lágrimas nos olhos. Foi diagnosticado com stress pós-traumático em 15 %. “Foi muito doloroso ver isto tão perto de mim”, ressalta.
Na altura, com 23 ou 24 anos, relembra que o único apoio e conforto que teve no campo de batalha foi a sua madrinha de guerra, uma jovem brasileira chamada Ivana, que conheceu através de uma revista da época e que residia no Brasil.
Vasco Bastos
Apesar deste suporte emocional, Susana Martinho de Oliveira, psicóloga clínica, defende que não foi a correspondência trocada que os protegeu de adoecerem. “O facto de se poder estar em comunicação com a nossa família e com os nossos amigos é um fator protetor de saúde mental. No entanto, no caso dos ex-combatentes da Guerra Colonial não foi obviamente o suficiente para os proteger de adoecerem”, realça.
Susana Martinho de Oliveira, psicóloga clínica especializada em stress pós-traumático.

Luísa Sales, responsável pelo serviço de Psiquiatria do Hospital Militar de Coimbra e também coordenadora do Observatório do Trauma, vai ao encontro desta perspetiva e refere que os ex-combatentes que adoeceram patologicamente foram uma minoria durante a Guerra Colonial. “Falamos em 10 % ou 11 % dos homens”, destaca. A psiquiatra explica que o stress pós-traumático apenas se revelou a longo prazo.
Ainda assim, a psiquiatra alerta que, só a partir de 1980, ou seja, só passado seis anos do fim da ocupação, é que se começou a considerar a hipótese das consequências da Guerra Colonial.
Luísa Sales
Para a especialista, as respostas terapêuticas foram feitas, por um lado, nos hospitais militares e, por outro, nos serviços de psiquiatria: “Por exemplo, no Hospital Júlio de Matos, com o doutor Afonso de Albuquerque, que foi o primeiro indivíduo e o primeiro psiquiatra da sociedade civil a ter uma intervenção consistente de resposta às patologias resultantes da guerra nos combatentes.”
Já Susana Martinho de Oliveira justifica este atraso através do contexto político e social que se vivia. “Os ex-combatentes foram para lá [para as ex-colónias] como heróis e, quando voltaram, socialmente, foram considerados assassinos. Havia muita vergonha sobre aquilo que se tinha vivido”, afirma a psicóloga clínica.
A profissional, que também presta consultas na APOIAR, explica que mesmo os ex-combatentes que procuraram ajuda foram incentivados a não o fazer e a não dizer que tinham estado na guerra, “para que não sofressem consequências sociais, como dificuldades em procurar trabalho e serem integrados socialmente”, destaca.
Neste caso, o trabalho era a “ferramenta” ou a “estratégia comportamental” que os ajudaria a estarem mais ocupados.
Susana Martinho de Oliveira
Tal como a especialista analisou na sua tese de mestrado em psicologia, Traumas de guerra: traumatização secundária das famílias dos ex-combatentes da Guerra Colonial com PTSD, de 2003, o recurso ao álcool e drogas “é comum enquanto “fórmula” para lidar com a dor”. Anteriormente a estes dados, o assunto não era estranho para os especialistas da área da psiquiatria, pelo que, como a mesma identifica, se intensificou.
É face a este contexto que, passados cerca de 30 anos do fim da Guerra Colonial, é verdadeiramente reconhecida a existência de uma doença designada por perturbação pós-traumática, vulgarmente conhecida como stress de guerra. Manuela Cruzeiro, em As mulheres e a Guerra Colonial: Um silêncio demasiado ruidoso, de 2004, defende que este é um “atraso incompreensível” e que só aconteceu devido ao esforço e combatividade da ADFA (Associação dos Deficientes das Forças Armadas) e da APOIAR (Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra)”.
“A associação ADFA foi criada no pós-25 de Abril, a 14 de maio. Criámos a associação, porque não havia legislação nenhuma para nós”, explica Francisco Janeiro, atual presidente da delegação e ex-combatente. Janeiro destaca a luta “complicada” que tiveram desde 1974 até 1976 para conseguirem alguma proteção. “Na altura, ocupámos a Ponte 25 de Abril e invadimos a Assembleia da República. Por acaso, tivemos sorte, mas houve algumas dificuldades. Eles ainda nos atiraram com os carros de combate para cima”, recorda.
Apesar dos avanços, Francisco Janeiro define a ADFA como uma associação de luta permanente.
Francisco Janeiro
Curiosamente, “foram elas [as mulheres] as primeiras a procurar ajuda”, garante Susana Martinho de Oliveira, já que “estes homens foram educados a não exprimirem as suas emoções”.

As lembranças que Maria Teresa Rosendo trazia consigo de Luanda, quando tinha apenas seis anos, eram poucas. Lembra-se do cheiro, da casa, de brincar com o irmão e destaca o facto de, no meio de tudo isso, não ter qualquer consciência de que estava a viver numa guerra a que o pai pertencia, “do lado do país colonizador”, como relata em entrevista ao Gerador.
Quando voltou para o Pinhal Novo, já em Portugal, as suas memórias tornaram-se mais consistentes. Apesar de os seus pais e familiares nunca terem tido “esse tipo de conversas” na sua presença, há uma coisa de que não se esquece: o desespero da mãe quando o seu pai não voltava.
Maria Teresa Rosendo
Nessa altura, o seu pai chegara pela manhã do dia seguinte. “Ela estava exausta, lembro-me de perceber que aquilo não era normal”, acrescenta.
As mães, as namoradas e esposas; as madrinhas de guerra que se casavam – ou não –, algumas por procuração, quando não conheciam pessoalmente os seus futuros maridos; as correspondências que foram o alento para muitos homens e mulheres. Esta enumeração de personagens principais de uma história que ainda tende a “criar o esquecimento”, argumento defendido pelas várias pessoas entrevistadas dadas à revista Gerador, reforça também uma questão que os especialistas da área da saúde mental têm vindo a estudar cada vez mais: a relação familiar e a forma como as gerações futuras, ascendentes de ex-combatentes, lidam com os acontecimentos que marcaram também, inevitavelmente as suas vidas, mais propriamente, “o trauma coletivo” e o “trauma intergeracional”.
A par do que diz Maria Teresa Rosendo, Susana Martinho de Oliveira revela que há um trauma coletivo e intergeracional, dados que vêm a ser estudados por si desde 2008, na sua tese de doutoramento “Traumas de guerra: traumatização secundária das famílias dos ex-combatentes da Guerra Colonial com PTSD”.
Susana Martinho de Oliveira
Desde cedo que a psicanálise e a psiquiatria tentaram perceber se os ascendentes dos sobreviventes tinham “essa reação emocional”, dentro daquilo que tinham sido as vivências dos seus pais. Depois começou-se a estudar outras populações, como foi o dos descendentes e sobreviventes da guerra. Mas a verdade é que não há assim tantos estudos como noutras áreas de trauma: “a mais recente revisão sistemática da literatura, que ocorreu em 2016, encontrou 3100 artigos sobre as famílias dos ex-combatentes e o impacto que as guerras e a doença tiveram na família”, continua a psicóloga.
Dos estudos a que Susana se refere, e tendo em conta os critérios de inclusão segundo os que tinham mais consistência em termos de investigação, no que diz respeito às mulheres, encontraram-se apenas 27 estudos, a nível internacional.
“E o que é que a nível internacional estes estudos nos dizem? Que são robustos. E que, efetivamente, estas mulheres apresentam sintomatologia traumática, isto porque estamos a falar de uma relação conjugal em que há uma relação mais íntima”, explica a psicóloga da APOIAR.
Estas mulheres não estiveram na guerra, mas não deixaram de estar mais expostas às reações emocionais e comportamentais dos maridos. Por essa razão, Luísa Sales não deixa de concordar com a psicóloga, identificando, nestas mulheres, um maior índice de psicopatologia, nomeadamente, depressão e ansiedade e ainda a perturbação de stress pós-traumático secundário. “Estas mulheres têm traumatização secundária”, afirmam ambas as especialistas.
Sales vai além. Recorda o estudo Depressão, ansiedade e stress pós-traumático, levado a cabo em 2008 – e mais tarde, em 2011, um outro estudo Os Filhos da Guerra Colonial: pós-memória e representações–, centrado no caso português, e desenvolvido por um grupo coordenado pela investigadora Margarida Ribeiro, permitiu perceber que os filhos dos ex-combatentes que estiveram na guerra também foram identificados enquanto expostos à patologia identificada de trauma. “Desenvolveram uma vulnerabilidade acrescida quando comparados com outros filhos de homens que estiveram na guerra e não desenvolveram trauma, ou filhos de homens da mesma geração que não estiveram na guerra”, remata.
Apesar dos estudos aqui abordados serem representativos de um vasto número de ex-combatentes, as especialistas em stress pós-traumático, Susana Martinho e Luísa Sales, revelam que não se consegue afirmar com clareza que os filhos possam ter traumatização secundária, ou até mesmo os netos.

Ao longo de uma conversa de cerca de duas horas, Sara Primo Roque, investigadora e professora no Agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa, recordou uma vivência em sala de aula que a alertou para o sentimento de trauma, embebido no esquecimento da Guerra Colonial. “Estávamos a dar esta matéria em aula e, quando perguntei aos alunos se tinham tido alguns dos seus familiares a combater na Guerra, um deles ficou debruçado de braços cruzados, a tapar a cara”. O aluno chorava dizendo à professora Sara que o seu avô era um desses homens, um ex-combatente.
Para se perceber melhor este fenómeno no caso português, especialistas em saúde mental apontam que é preciso mais estudos.
Susana Martinho de Oliveira.
Estes têm sido marcos significativos no estudo académico dos traumas psicológicos de homens que viveram em conflitos de guerra. Outro caso muito similar decorreu na Guerra do Vietname, entre 1955 e 1975. Assim como na realidade portuguesa ou da Primeira e Segunda Guerra Mundial, esta guerra desencadeou uma ferida, que, na verdade, ainda estaria aberta. As caraterísticas da amostra dos estudos baseados na Guerra do Vietname são “muito semelhantes à nossa”, porque também é uma “guerra de guerrilha”, explica Miguel Cardina, historiador e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, acrescenta que, tal como a Guerra Colonial, os ex-combatentes vietnamitas também estiveram lá muito tempo, cerca de duas décadas.
Em alguns casos portugueses, ao fim de 20 anos, algumas mulheres precisaram de se “libertar”. Tendo em conta o impacto do stress pós-traumático, alguns relatos revelam que “a doença terá evoluído e, tendo menos acesso a informação por falta de suporte familiar, menos capacidade até para recorrer aos serviços de saúde para terem ajuda, os quadros psicóticos podem ter desenvolvido negativamente aquilo que a guerra agravou”, explica o historiador.
Mas isso nem sempre significou que as mulheres conseguissem sair de um ambiente familiar mais “denso”, “tóxico” e que provocou “em alguns casos, realidades de violência doméstica”. “Estas mulheres sendo altamente cuidadoras, não recorrem ao divórcio. Encontrámos uma taxa de divórcio muito pouco elevada nesta população. Enquanto, se formos para a amostra das mulheres americanas, já encontramos uma prevalência de divórcio muito mais elevada”, argumenta a psicóloga. Isto porque a especialista acredita que há fatores culturais muito distintos ligados às mulheres, principalmente, no cenário ligado ao casamento ainda antes da guerra espoletar.
Em Portugal, a maioria da população de ex-combatentes da Guerra Colonial ainda se encontra casada. “Estas mulheres levam os casamentos até ao fim”. Mas, no fundo, como estudou Susana – e como tem presenciado nas consultas prestadas na APOIAR:
Susana Martinho de Oliveira


22 de Julho