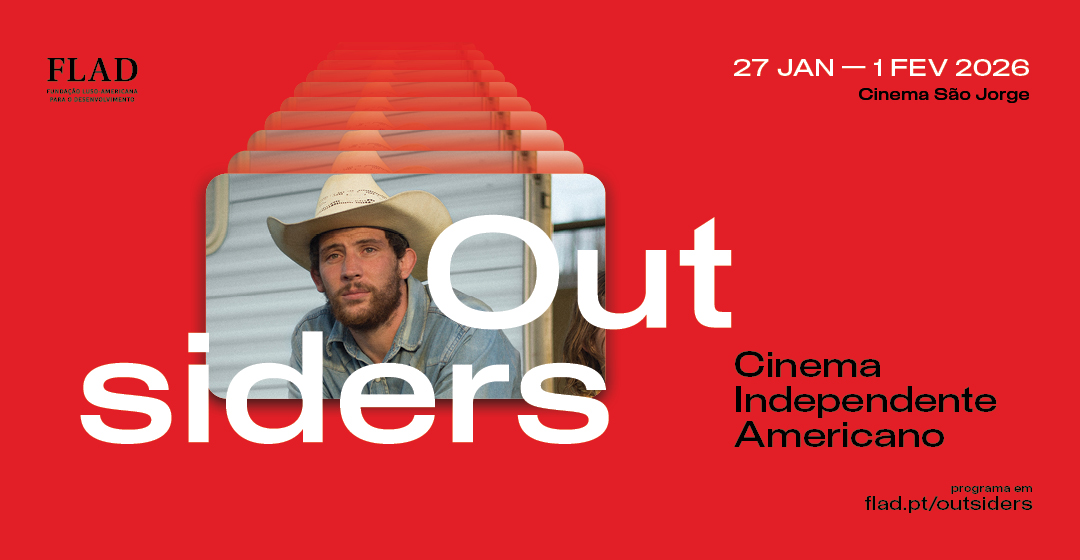Quando em 1885 Ramalho Ortigão visitou o mercado de Viana do Castelo, não deixou de reparar nas freguesas de aquém e além-rio que ali vendiam os seus produtos.
Tecedeiras, fiadeiras e bordadeiras, vendedoras de ovos, galinhas e pano de linho, as mulheres de Viana envergavam, sem exceção, um lenço à cabeça. “De um magnífico vermelho ardente, cor da flor dos catos”, os lenços eram também em tons de azul, amarelo-canário, roxo ou cor de laranja, espelhando as cores da bacia do Lima.
Um século e meio depois, quem durante o mês de agosto visita a cidade de Viana, depara-se com um cenário semelhante: um mar de tecido ondulante coroa as centenas de mulheres e raparigas que, todos os anos, desfilam nas festas da região.
Mais do que quaisquer outros, os lenços vermelhos, com cornucópias e franjas pendentes, tornaram-se símbolo inconfundível do Alto Minho. Mas ao contrário dos outros elementos do traje, estes lenços não são originários do concelho de Viana, nem de Portugal. Esta é a história de como um têxtil estrangeiro se tornou ícone de uma região e de um povo.
Os Trajes
Não é possível falar de lenços sem falar de trajes. Com centenas de entrevistas realizadas e extenso trabalho de arquivo, Hermenegildo Viana, de 46 anos, domina o tema como poucos. Técnico Superior no Museu do Traje de Viana do Castelo, divide o seu tempo entre a investigação científica, a organização das festas da cidade e o atendimento ao público, que nesta manhã de sábado não para de chegar. Por isso, vai mantendo um olho na porta enquanto saúda quem entra. “Bom dia! É para visitar?”
Doutorado em Química, tornou-se antropólogo social por uma paixão antiga. Interessa-lhe “o porquê, como, quando e onde” de tudo o que se relaciona com o traje. A estas perguntas, que têm orientado o seu trabalho nas últimas décadas, preside uma outra. Afinal, o que é o traje?
Hermenegildo Viana no Museu do Traje de Viana do Castelo
“Trata-se de uma forma de vestuário, o vestuário do passado. E tal como nós, hoje em dia, temos roupas diferentes para momentos diferentes, as pessoas antigamente também tinham”, explica Hermenegildo.
Em meados do século XIX, numa época de relativa prosperidade, abundavam na região casas de lavoura. Dedicados à criação de porcos, ovelhas e outros animais, “os lavradores salgavam a própria carne, faziam enchidos e viviam de forma praticamente autossuficiente.” As condições financeiras obrigavam a alguma parcimónia, mas permitiam ter “uma roupa para a semana, outra para o domingo e outra para os dias de festa.” Estes três usos constituem a tipologia de referência dos trajes minhotos.
É na última categoria que se insere o célebre “traje à vianesa”. Localmente chamado de “traje à lavradeira”, mas também conhecido como “traje à minhota” ou “à moda do Minho”, é um vestuário de festa, reservado para escassas ocasiões no ano. Adornado com ouro, é composto por saia, avental, algibeira, camisa, colete, meias, chinelas e dois lenços – um para a cabeça e outro para o peito – que, por conta das franjas que os contornam, são denominados “franjeiros.”
As suas cores estão associadas a diferentes aldeias da região. O traje mais vermelho é o da Areosa. Em Afife, usam-se lenços amarelo-canário, à cabeça, e cor de laranja, ao peito. Já as mulheres de Santa Marta de Portuzelo cobrem a cabeça com um lenço invariavelmente vermelho, mas ao peito podem trajar lenços de fundo amarelo ou laranja. Freguesias como Perre, Outeiro, Meadela, Serreleis e Cardielos aproximam-se desta última tipologia de traje, com algumas variações, conforme descrito no Caderno de Especificações para a Certificação da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Um dos trajes mais característicos é o de Geraz do Lima, na margem esquerda do rio. Conta-se que a visita da Rainha D. Maria II, em 1852, teria inspirado as raparigas a vestirem-se de verde para a receber, já que esta era a cor oficial da Casa de Bragança. Desde então, o verde tornou-se indissociável da freguesia.
Além da geografia, a cor dos trajes e dos lenços pode sinalizar circunstâncias da vida ou estados de espírito. É o caso dos tons arroxeados ou azuis-escuros que vemos nos “trajes de dó.” Neste contexto, dó não significa luto, mas tristeza que, como explica Hermenegildo, poderia ter várias razões de ser. Estes trajes eram usados “ou porque alguém estava adoentado ou emigrado, ou porque o pai era ciumento, ou o marido controlador, ou até porque as próprias mulheres gostavam.” Ao contrário do que se possa pensar, as preferências estéticas das minhotas marcaram profundamente o “traje à vianesa” que, ao longo das décadas, se foi alterando.
Os Lenços
Lenços dos trajes minhotos - Coleção de Ivo Rua e Pilar González
Ivo Rua, de 35 anos, e Pilar González, de 38, são artesãos e colecionadores. Estão juntos no negócio, como na vida, unidos pelo gosto pela etnografia e, em particular, pelo traje.
Naturais de Lisboa, começaram cedo no folclore. "Um dia fomos até à Casa do Concelho de Ponte de Lima, em Lisboa, e acabámos por nos conhecer”, recorda Pilar. Começaram por confecionar trajes para amigos e família, mas o volume do negócio foi crescendo e há 4 anos decidiram rumar ao Norte, para se dedicarem em exclusivo à “paixão” que admitem ser também um “vício”.
Dos vários elementos do “traje à vianesa”, fazem “praticamente todos”. Os lenços são uma das exceções, mas, com uma coleção que ultrapassa os 500 exemplares, conhecem-nos bem.
Encontro-os na Praça da República de Viana do Castelo, onde um grupo de bombos toca o instrumental acidental da nossa conversa. Trazem consigo um saco de papel, de onde vão tirando pequenas bolsas herméticas, contendo lenços de todos os materiais, idades e feitios.
Lenço “franjeiro” de 1870/1880 – Coleção de Ivo Rua e Pilar González
A taxonomia dos lenços acompanha a diversidade de cores e padrões que mal cabem na mesa do café. Há lenços “franjeiros”, de “retrós”, cochiné ou cachené, “falsos”, “chineses” e de “tapete”. Na coleção do casal, o mais antigo, em tons de laranja, datará de 1870/80. Ivo faz questão de sublinhar: “Digo que é o mais antigo apenas porque consigo saber-lhe a data.”
No século XIX, “o lenço era um adereço indispensável das mulheres”, afirma Pilar. Das mulheres do povo. Antes da introdução dos “franjeiros”, até à segunda metade do século XIX, as minhotas usavam lenços de chita, produzidos pela Real Fábrica de Lençaria e Tecidos Brancos, em Alcobaça.
A partir de 1870/80, a tendência muda – pode ler-se em Traje à Vianesa: uma imagem da nação, de António Medeiros, Benjamin Pereira e João Alpuim Botelho. Lenços vindos de fora, feitos em lã fina, com franjas e estampagens pormenorizadas, chegam à cidade e tornam-se muito populares.
A ideia de que uma só lavradeira confecionava todas as peças do seu traje ou de que todos os elementos eram produzidos localmente não corresponde à realidade. “Tudo foi romantizado”, argumenta Hermenegildo Viana. Na prática, o trabalho de tecer um avental ou bordar uma camisa era muitas vezes dividido entre várias raparigas da mesma aldeia. Além disso, o ouro vinha tipicamente da Póvoa do Lanhoso e de Gondomar, explica o investigador.
Ainda assim, os lenços estabeleceram-se, por esta altura, como o único elemento do traje que não era produzido nem no Alto Minho nem nas regiões vizinhas. Assim permanecem até aos dias de hoje.
A importação
Este facto deu origem a suposições curiosas e inverosímeis. Em Traje à Vianesa, trabalho seminal de 1930, Cláudio Basto escreve: “Se as nossas mulheres fabricassem também os lenços, fabricá-los-iam iguais aos importados, (…) tão admiravelmente eles rimam com os trajes regionais.”
A verdade é que a história da importação dos lenços das lavradeiras não é fácil de traçar. N’As Farpas, Ramalho Ortigão compara-os aos das “mulheres dos Apeninos”, a cordilheira italiana. Essas coordenadas, contudo, não se confirmam. Uma pista mais credível está no outro nome pelo qual os “franjeiros” são localmente conhecidos – “lenços austríacos”.
É geralmente aceite, entre aqueles que se dedicam à preservação e ao estudo do traje, que no século XIX, os “franjeiros” eram fabricados nos territórios que pertenciam ao antigo Império Austro-Húngaro. A partir daqui, a história complica-se. "Viana do Castelo tinha um porto de mar. Havia importação de madeira do Báltico. Pode ter sido alguém nesta troca que trouxe um lenço e as mulheres gostaram”, diz Hermenegildo Viana. É uma suposição.
Fala-se, porém, de uma fábrica concreta, por sua vez situada no território de outro antigo império, o russo. A 70 km de Moscovo, a fábrica Pavlovo Posad está em funcionamento desde 1795. Para Hermenegildo Viana, a ideia de que já no século XIX os lenços eram produzidos nesta fábrica pode até ser verdade, “mas não há nada que o ateste, nenhum registo ou documento oficial”.
O que é certo diz Ricardo Mónica, é que, décadas mais tarde, no início do século XX, muitos dos lenços que se viam na região eram de facto importados da Pavlovo Posad.
A produção atual
Foi a esta fábrica russa que, já neste milénio, o empresário ribatejano recorreu. O objetivo era reintroduzir peças mais próximas das originais, num mercado saturado de lenços fabricados em território nacional, mas que, sendo feitos de acrílico, são também de menor qualidade.
“Havia uma necessidade muito grande de lenços. Eu comecei aos poucos. Mandava fazer pequenas quantidades - primeiro de algodão porque era mais fácil, depois de lã e depois da lã, passei para a seda.” Hoje, produz cerca de 2 mil lenços “franjeiros” por ano.
Ricardo Mónica é ribatejano, de Almeirim, mas tem Viana do Castelo no coração. Nesta cidade, abriu uma loja onde comercializa lenços, xailes, meias e outras peças do traje popular português. O interesse pela etnografia e pelo folclore vem da infância. "Tive o meu primeiro lenço, de algodão, aos seis anos”, recorda. “Guardava-o do lado esquerdo da gaveta dos pijamas que partilhava com o meu irmão gémeo. Ainda hoje o tenho”.
O seu trabalho pretende responder a lacunas na valorização deste património. Além da qualidade do tecido, a limitada diversidade dos padrões dos lenços vendidos é sublinhada pelo Caderno de Especificações do Traje, que está certificado desde 2017.
A preocupação é partilhada por Ricardo. No caso dos “franjeiros”, o padrão atualmente mais popular é o da cornucópia redonda, ou “cornucópia da moda”, característica da década de 1920. "As pessoas acham que é só aquele padrão que têm de usar" e escolhem-no com o objetivo de respeitar a tradição e trajar devidamente. Mas há outras possibilidades. A pensar nelas, Ricardo reproduziu os lenços de 1900, com cornucópias em bico.
Ex-sacerdote e sem formação prévia em design, tornou-se autodidata. "Procuro padrões antigos, faço novos desenhos e envio-os às fábricas no estrangeiro que os produzem.” O trabalho, contudo, não termina com a receção da encomenda. Uma vez tecidos, tingidos e estampados pela fábrica, os lenços chegam em rolos. Depois, é preciso “cortá-los, embainhá-los e franjá-los”, num processo contínuo que decorre durante todo o ano.
Ricardo começou por acrescentar ele próprio as bainhas, os nós e as franjas aos lenços. Mais tarde, convocou a ajuda da mãe. Hoje, com o negócio em expansão, conta com um grupo de seis mulheres aposentadas.
A “recolha”
A indumentária tradicional do Alto Minho insiste em alterar a trajetória profissional dos seus aficionados. Foi assim com Hermenegildo Viana, Ricardo Mónica e também com Ivo Rua. Antes de se dedicar em exclusivo a esta área, Ivo trabalhava num supermercado. O espírito de colecionador, porém, esteve sempre presente. «Eu até quando estava na caixa do supermercado perguntava: “Por acaso não tem um lenço antigo, um xaile?”». Por vezes, a ousadia dava frutos. “Chegaram a arranjar-me trajes”, confessa.
O interesse surgiu na adolescência. "Comecei com 15 anos. Primeiro, ganhei gosto por tocar castanholas. Depois quis aprender a dançar e depois do dançar veio o trajar.” A primeira peça que recolheu foi um lenço de tapete. A palavra “recolha” é central no vocabulário destes colecionadores. Entre abordagens a conhecidos e desconhecidos, idas a leilões e pesquisa incessante, descobrem novas peças que adquirem ou lhes servem de inspiração para novos projetos. “O Ivo está sempre a perguntar. Não se cansa de perguntar”, diz Pilar González, também ela colecionadora
As perguntas podem sair caras, já que há lenços a custar várias centenas de euros. “Quando recolhemos um lenço normalmente pomo-lo algum tempo no congelador, depois fica a apanhar ar e, finalmente, passamos-lhe um vapor porque a traça também tem bom gosto”, brinca o casal. Nem todos são adquiridos em perfeitas condições, mas não é imperativo que assim seja. Os vestígios do tempo são também sinais de autenticidade.
Pilar González trajada “à lavradeira” | Fotografias de Ivo Rua
Passado e presente
"Nada nasce e morre da mesma forma", assevera Hermenegildo Viana.
A industrialização e a chegada de peças mais baratas vieram mudar gradualmente o vestuário. “Não foi um corte radical”, diz o investigador. “No traje de trabalho, as mulheres começam a usar, em vez da camisa de estopa, uma blusinha de chita. O avental passa a ser de pano e, eventualmente, troca-se o lenço pelo véu. Depois, o próprio véu desaparece.”
O fim do uso generalizado dos lenços está intimamente ligado às prescrições da Igreja Católica, que também se alteraram, como explica Ricardo Mónica.
“Com o Concílio do Vaticano II, na década de 1960, há o levantamento da cobertura da cabeça nos atos religiosos. Logo, a mulher deixa de usar o lenço socialmente. Primeiro, cai da cabeça para os ombros e depois acaba por cair dos ombros.” Não obstante, ainda hoje é possível encontrar, em terras mais recônditas, mulheres e alguns homens de lenço à cabeça para proteção do sol, assegura o ribatejano.
Segundo Hermenegildo Viana, os lenços foram dos elementos do traje que menos transformações sofreram. Ainda assim, ao longo das décadas, houve pequenos contágios de modas entre freguesias. “As barbas – como também se chamava às franjas dos lenços – eram apanágio do litoral, isto é, de aldeias como Areosa, Carreço e Afife. Houve um período em que outras aldeias, como Perre, Santa Marta e Outeiro, não as tinham no lenço da cabeça.”
Sem que nunca tenham desaparecido,períodos houve, ao longo do século XX, de relativa escassez de lenços na região. A seguir à Primeira Guerra Mundial, registou-se uma dificuldade acrescida de importação de mercadorias da Europa de Leste. A par disso, foram atribuídos aos lenços fins inesperados, mas mais lucrativos. “Nessa altura, quem tinha lenços bons vendia-os, para servirem de camilhas nas mesinhas dos cafés da cidade”, conta o antropólogo.
Os usos da indumentária tradicional são sempre objeto de polémica e dividem opiniões. Para Ivo e Pilar, “é bom pegar no tradicional e juntá-lo ao contemporâneo”, desde que se respeitem alguns critérios.
Se hoje vemos produções de alta-costura inspiradas em elementos do traje popular minhoto, a verdade é que a influência da indumentária regional se fez sentir desde cedo e pelo país fora. Ainda no século XIX, a burguesia interessou-se pelo traje do povo. «Encontrámos imagens de famílias da burguesia nas termas do Gerês, onde se organizavam noites “à moda do Minho” e as mulheres se vestiam com trajes excelentes», explica Hermenegildo. Nalgumas quintas brasonadas da região as raparigas jovens também “brincavam às minhotas”.
As interpretações multiplicaram-se. Tanto se encontram trajes excessivamente faustosos, em cores inusitadas e cravejados de missangas e lantejoulas, como outros de fraca qualidade, resultado da produção em massa, que serviam como souvenirs. Estes últimos – chamados trajes de fancaria - serviam de máscara de Carnaval, para indignação dos locais que chegaram a proibir o seu uso.
As representações imprecisas atravessaram o oceano, escreve Cláudio Basto. Em 1927, a revista National Geographic publicava uma lavradeira vestindo um colete do avesso, com as costas no lugar do peito, “para se verem os ornatos”, e um lenço “pousado sobre a testa”. Para o autor, a culpa desta deturpação estava na produção local dos “trajes de fantasia” que, na sua opinião, desonravam o concelho.
É por isso que, para Pilar González, nem todos os pedidos são atendíveis. “Não fazemos peças que vão contra os nossos princípios.” E, no entanto, sublinham a necessidade de “abrir mentalidades” no que ao trajar diz respeito. Referem-se, por um lado, à variedade de trajes que existiam no passado, cuja riqueza, ofuscada pelos trajes de festa e de cerimónia, continua por explorar. Por outro lado, a mudança de perspetiva é defendida também em relação às regras que orientam o trajar e a purismos artificiais.
“O vestir é fluído”, corrobora Hermenegildo Viana. Do seu ponto de vista, não existia um “traje de ir à erva”, outro de “ir à fonte” e ainda outro de “ir ao monte”. Na realidade, um mesmo traje de trabalho era adaptado à função a desempenhar naquele dia. “Se a mulher ia ao monte, levava botas, polainas, ou um casaco mais grosso para não se arranhar no mato. Se ia para o rio, se calhar punha uma corda para puxar a saia para lavar.”
Por isso, é natural que se encontrem variações no modo de trajar. É isso que provam algumas fotografias que Ivo mostra. Numa delas, vemos uma mulher de lenço “franjeiro” ao peito e saia e avental negros, com vidrilhos – uma peça associada aos trajes de mordoma. Esta mulher “não estava vestida com metade de um traje à vianesa e metade de um traje de mordoma”, clarifica Hermenegildo. Na verdade, é tudo mais simples. “Elas eram como nós. Se estava calor, mas uma brisa fresca, a mulher podia muito bem tirar a casaca e pôr um lenço ao peito.”
A canonização do “bem trajar”, a partir da década de 30, trouxe uma inflexibilidade de regras que, na perspetiva de Pilar González, artesã e colecionadora, não refletem o espírito da época.
É inegável o papel do Estado Novo e de António Ferro, diretor do Secretariado de Propaganda Nacional no executivo de Salazar, na consolidação da identidade regional do Alto Minho associada ao traje. Foram muitas e de grande alcance as iniciativas institucionais do regime, com a organização de cortejos etnográficos, festivais folclóricos e mostras. Mas este apoio não foi exclusivo da ditadura. Em 1890, o príncipe Manuel, que viria a tornar-se Rei de Portugal, é fotografado ao colo da ama, trajada à lavradeira. "A Rainha D. Amélia apoiava as festas monetariamente", afirma Hermenegildo, e acrescenta: “Houve sempre uma forma de promover o país ou a cultura com o traje local porque é colorido, é ouroso”. O Estado Novo viu uma forma de promover a sua mensagem, de que o camponês é feliz a trabalhar no campo, e foi isso que fez».
O mais antigo grupo folclórico português ainda em atividade é contemporâneo da 1ª República, tendo surgido na freguesia de Carreço, Viana do Castelo, em 1923. Durante todo o século XX, os grupos folclóricos foram fundamentais na consolidação e conservação do traje. Até se voltarem para outros, o foco do movimento esteve apontado para o “traje à vianesa”. “A partir dos anos 30, o traje deixa de ser para as raparigas levarem à missa de Natal, à missa de Páscoa, à festa do Santo padroeiro da freguesia, e passa, em vez disso, a ser usado nas festas [da Senhora d’Agonia].” Talvez por isso, nota Hermenegildo, o “traje à vianesa” nunca tenha deixado de se usar, ao contrário dos demais.
Por estes dias, Pilar González coloca novamente um lenço sobre a cabeça.
Os lenços do “traje à vianesa” medem 90 por 90 centímetros e devem ser dobrados para formar um triângulo. O seu vértice pende para as costas, enquanto as duas pontas se cruzam na nuca, unindo-se no topo da cabeça onde, finalmente, são atadas.
A colocação do lenço encerra o ato, quase ritualístico, do trajar. "A partir do momento em que tenho o lenço à cabeça, o fato está completo, estou totalmente trajada", afirma Pilar. A sensação, assegura, é muito boa.
Durante as Festas da Senhora d’Agonia, que terminam a 20 de agosto, este ritual é repetido por centenas de mulheres e raparigas que desfilam pelas principais ruas e avenidas de Viana do Castelo. Estas já não são “as camponesas vestidas de escarlate”, de que falam os registos mais antigos que Hermenegildo Viana encontrou. Estas são as lavradeiras de 2025 - memória viva de um povo.