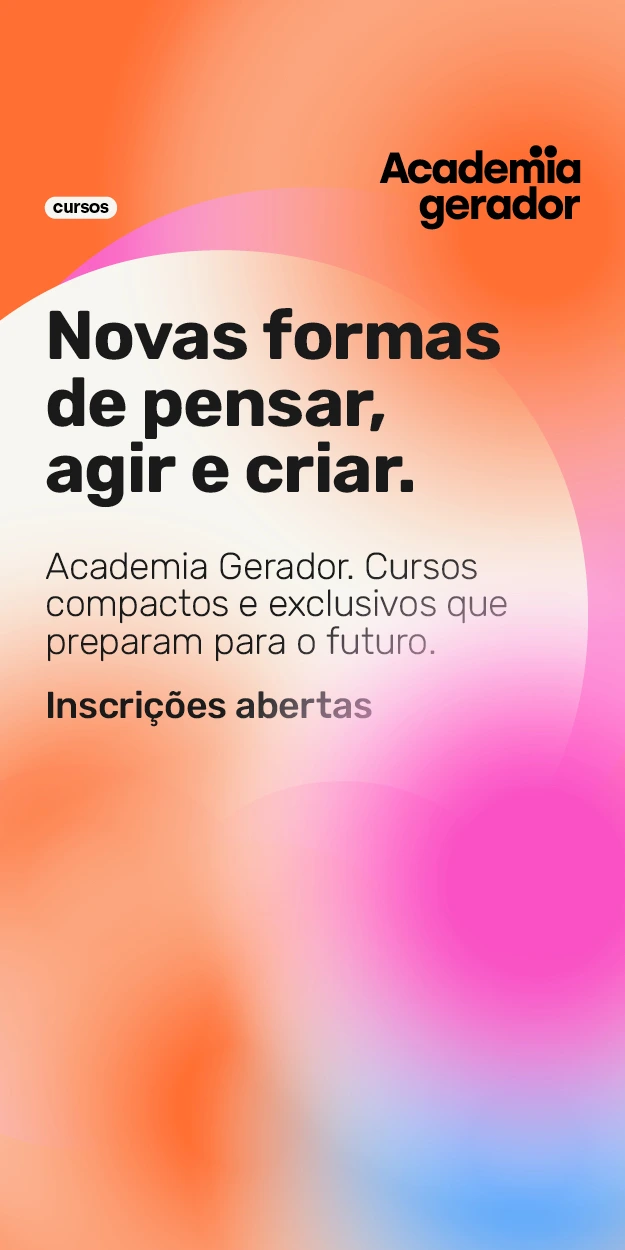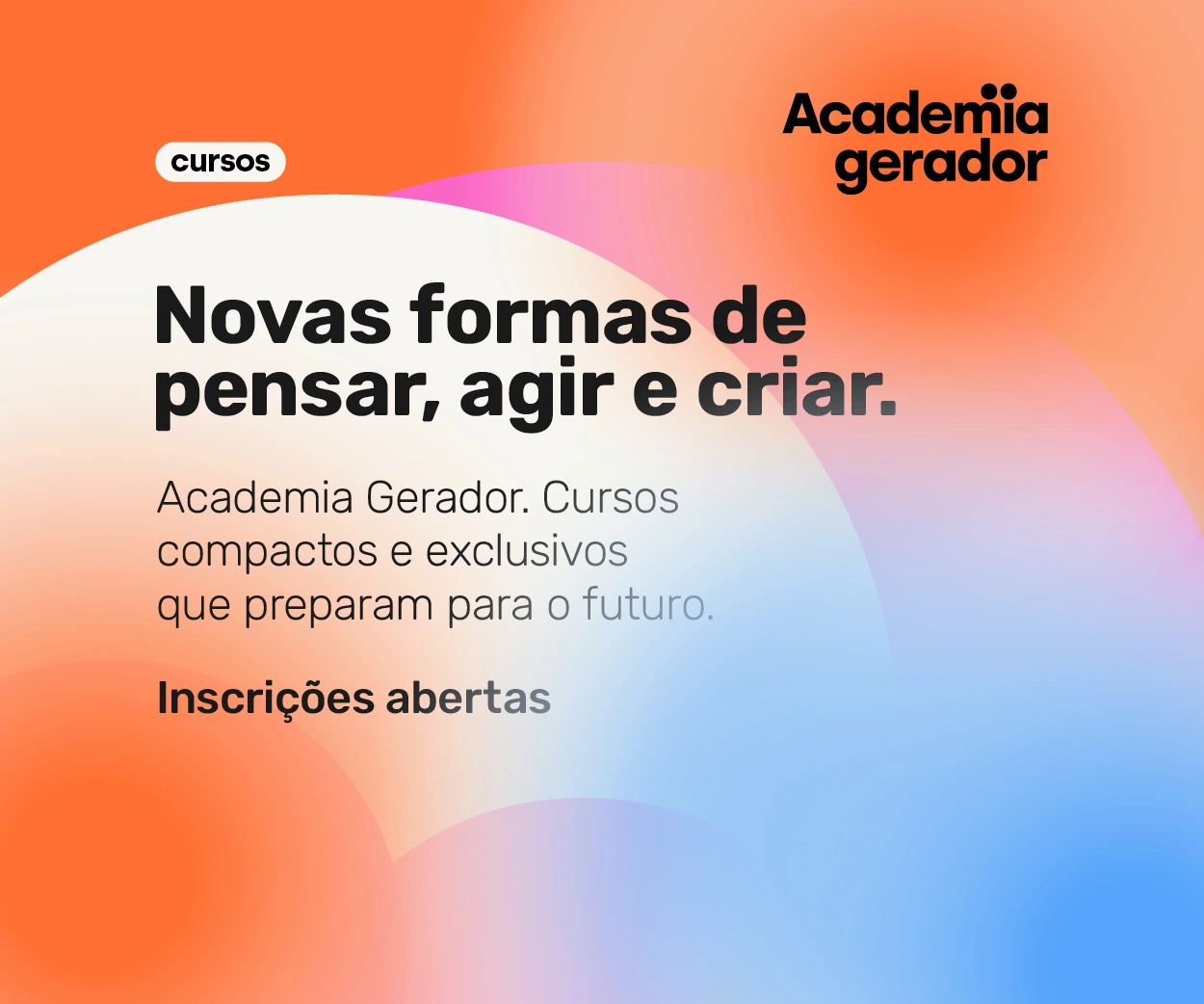Amélia Muge está de volta com Amélias, um disco que é uma homenagem ao canto de vozes no feminino.
Dentro de cada pessoa podem caber diversas vozes. Amélia Muge quis eternizar as suas, e aquelas que foi ouvindo e lhe foram traçando o caminho, principalmente as femininas. E assims urgiu Amélias. Depois de uma colaboração, que agora se estende, com Michales Loukovikas, em Periplus e Archipelagos, Amélia regressa aos álbuns a solo e a um território que, segundo a mesma, “está presente desde o primeiro disco”, as vozes. O álbum foi anunciado com “Chove muito, chove tanto”, com música da sua autoria e letra de Teresa Muge, sua irmã, e depois com “Meu coração emigrou”, que servem de janela para as mais 11 músicas que pintam um quadro cheio de variações tímbricas, tonalidades, ambiências ou pulsões rítmicas.
O disco, que esconde surpresas e ilustrações de Amélia, é ilustrado por Cristiana Cereja e Olinda Martins, e conta ainda com o arranjo de António José Martins (também responsável pela introdução de sons eletrónicos) e José Salgueiro que se junta com a percussão. Numa viagem sobre a história da voz, e do canto feminino, Amélia conta-nos como tudo começou e como, a cantiga, mais do que uma arma, pode ser um tear.
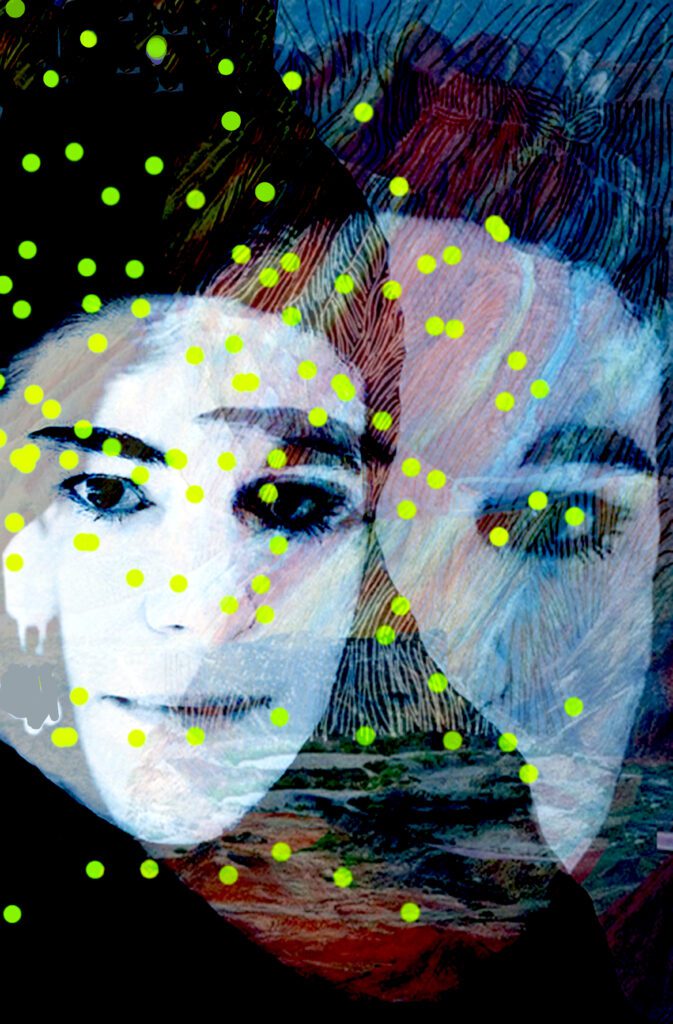
Gerador (G.) – Como surgiu esta ligação à música à capela?
Amélia Muge (A. M.) – Acontece desde muito pequena, porque nasci em Moçambique e, lá, só se formos surdos é que não ouvimos as pessoas, porque cantam imenso, cantam em coro, cantam dançando. Além disso, eu e a minha irmã temos uma diferença de onze meses, ou seja, há uma descoberta das vozes, ou da minha voz juntamente com a dela, porque as duas partilhávamos essa descoberta do mundo. Para lá disso, era habitual as amas se reunirem todas e cantarem, e eu não percebia a língua, mas percebia tudo ao mesmo tempo porque havia alegria, um estar dentro daquilo que eram os coros, do dançar… Elas tinham uma entrega vocal e corporal intensa. Desde que me lembro, as minhas primeiras ideias de coletivo mais forte, envolvem as vozes e esse canto à capela.
Em Portugal, fui-me ligando, até emocionalmente primeiro, aos coros, sobretudo de mulheres, e eu sempre me interessei, em termos musicais, pela importância dos coros. Há um livro que se chama O canto das nações, de um historiador e músico, que recolheu uma série de documentos que provam a importância dos coros, sobretudo nos fins do século XIX; fala também do século XIII. Havia coros com quase três mil pessoas! Estava quase sempre agregado aos conservatórios, que eram dirigidos nessa altura por militares. Isto sempre me interessou, quer em termos políticos, sociais e individuais – a voz é a nossa segunda impressão digital. Através da voz, quase podíamos construir a história do homem, até porque, historicamente, percebemos que existiam cantores até nos homens de Neandertal. Falamos das pinturas rupestres como um primeiro sinal de artes, mas esse homem que pintou aquilo também era caçador, conhecia os animais, e também era cantor. Aliás, cada vez mais se estuda o sítio onde as grutas estão sob o ponto de vista acústico, e elas estão realmente nos sítios de maior reverberação. Há muitos indícios de que este homem cantaria, nunca como nós, porque todo o sistema fonatório e de ressonância
eram diferentes, mas isso também significa que foram precisos milhares de seres humanos ao longo dos séculos a cantar, para conseguirmos a voz que temos. E se pensarmos também, hoje, em toda a recorrência do tratamento da voz, sob o ponto de vista digital, quase podemos dizer que o homem de Neandertal e o computador da odisseia no espaço estão ligados, há aqui um mundo que indissociavelmente está ligado à história da humanidade e de marcos importantes dessa história.
G. – O início do Amélias remete-nos para alguma africanidade. Este disco é voltar a essas raízes moçambicanas que falava no início?
A. M. – Eu não sei se volto às raízes, se as raízes navegam connosco e estão aqui. Não voltamos às raízes, o que fazemos é apropriarmo-nos de coisas que são parte de memória, são coisas subconscientes, por exemplo, no “Chove muito chove tanto”, com letra da Teresa, todas aquelas vozes que foram criadas por mim. Eu não sei como as mulheres cantavam, não tenho essa memória, mas são memórias de um estar sonoro, do qual me fui apropriando, assim como no “D. Falcão”… porque tenho vários temas, muito ligados à tradição oral e literatura oral que personifica muito os animais e plantas, então eu achei que, enquanto as “Alcaparras” podiam estar mais ligadas a ritmos tradicionais, ao português, o “D. Falcão” estaria ligado a esse ritmo que falas. Portanto, digamos que há sempre um momento onde conhecemos outras coisas. Eu antes de saber onde era a Floresta Equatorial, ouvia a música dos povos que lá viviam, havia um registo que, mais do que me tornar uma conhecedora dessas músicas, me criou em termos de
linguagem uma facilidade de fazer pontes. E eu acho que isso é uma coisa muito permanente nos cantautores. Normalmente, se a vivência de muitos é geograficamente muito vasta, esta música acaba por ser uma música mestiça. Eu sou capaz de ouvir uma marrabenta e posso passar dessa melodia, tranquilamente, para um fado corrido, ou para um tango. E mais: quanto mais uma pessoa estuda músicas tradicionais (e aí é onde tenho um pouco mais de conhecimento), mais encontramos irmandades incríveis. Porque realmente, a música portuguesa é mais antiga do que Portugal, no sentido em que, antes de Portugal existir, passaram cá toda uma quantidade de povos, que ouviram contos… Não foram só matanças, há também um reverso da moeda. Eu cada vez mais penso que os direitos humanos avançaram imenso a nível mundial, mas, sinceramente, hoje o radicalismo parece-me maior, são coisas que me fazem muito pensar. Se nós pensássemos o quanto daquilo que consideramos nosso, tem ligações com um terreno que é comum, mais diretamente com a Europa, por razões que derivam até das próprias condições materiais do planeta e morfológicas dos seres vivos, entenderíamos que há muito mais daquilo que nos aproxima do que nos separa… Não há ninguém no planeta que cante com as ostas! Eu tenho tido muito a sorte de ir encontrando essas coisas que nos aproximam e perceber quanto
elas nos podem ser úteis e quanto estão presentes, e podem estar, no trabalho que fazemos hoje. Eu acho que não é porque se usa a última tecnologia de ponto, somos modernos. Aquilo que pode construir a modernidade de um trabalho é sempre a maneira como esse trabalho se organiza, em termos daquilo que pode trazer de síntese com esta sequência de experiências que fomos tendo e fomos acumulando bem ou mal, cada geração acabou por selecionar essas coisas. Eu acho que a covid, as guerras e estes extremismos nos confrontam mais com isso, mas o que eu pergunto é, por um lado, dizemos que as artes trazem aquilo que são os expoentes máximos, não de uma época, mas de um ser humano, mas por outro lado, as pessoas não as usam, e de repente cantar Camões é qualquer coisa que não é moderno, então não sei, talvez haja alguma hipocrisia em relação a isto. Portanto, eu as vezes, mais do que pensar em apoio, eu penso na total ausência de discursos que acho fundamentais sobretudo para os jovens que não têm consciência de que a vida passa rapidamente e que uma das razões pela qual estamos cá, para
perceber o que foi feito de melhor e entregar aos outros que hão de vir alguma coisa que acrescente ou que, pelo menos, ajude a reinterpretar. Tudo isto tem a ver com as raízes que, mais do que ser uma raiz vertical no terreno, é mais um rizoma, como diz Édouard Glissant que diz que é um rizoma, mais do que uma raiz única, porque vai crescendo de acordo com a capacidade do terreno, neste caso o terreno é a mente.
G. – Então o canto à capela pode ser essa ponte que nos leva a olhar para as coisas mais pequeninas e às quais não lhes é dado tanto destaque na sociedade? Pergunto isto também porque há uns tempos começou-se a olhar para o canto à capela, principalmente femininos, e começaram a surgir vários grupos, que até dão uma nova roupagem a este tipo de canto…
A. M. – Há vários projetos, se é que projeto é projetar qualquer coisa, seja ele aquilo que os grupos locais fazem, digamos a aprendizagem que foi feita de mães para filhas, ou de tias para filhas, isto é, há um património que tenta, melhor ou pior, se assumir como aquilo que se diz que é o que se cantava aqui. E, curiosamente, consoante as regiões, quase que encontramos uma semelhança, não só na música, das recolhas do Giacometti, como o tipo de voz que aquela região tem e que criou aquele tipo de ornamentos. Portanto, há, digamos, quase que uma continuidade e nós continuamos a ter isso. Nesta candidatura que foi feita agora do Canto de Vozes Feminino a Património Imaterial da UNESCO, foi feito um levantamento do que ainda continua a existir nesse contexto de música que é passada de geração em geração. Por outro lado, também há os grupos que, muitos deles urbanos, como é o caso do Cramol, onde elas estão sediadas em Oeiras, e o que tentaram fazer foi uma recolha a nível do país do que se canta nas regiões e criar com isso um projeto. São pessoas que, por via de uma aprendizagem, o reportório delas é quase exclusivamente música tradicional, mas depois acabam por fazer ligações com muita gente da música portuguesa, de muitos géneros, como José Mário Branco, até outros músicos do jazz, música experimental, têm aquilo que posso dizer que é um articulação interna que já vem de fora e que as organiza. A Sopa de Pedra ainda fazem mais, elas podem fazer o que elas quiserem, que é pegar numa música de José Mário Branco e cantar de trás para a frente, têm uma maneira muito aberta de lidar com o canto à capela, onde também cantam coisas que não são portuguesas, até coisas ligadas ao nosso património do canto à capela, e coisas onde fazem arranjos a vozes de património dos nossos canta autores. As Moçoilas têm muito esse lado tradicional, com a preocupação de ir buscar elementos quer
simbólicos, muito centrados na vivência do Algarve e já quase baixo Alentejo. E isto é só em Portugal, se for falar nos outros países e nos outros exemplos que existem por aí… por exemplo a Laurie Anderson, uma pessoa aprende imenso com ela, porque já não é tanto a questão só do à capela, é a questão da voz com que se apresenta e a descoberta de que temos muitas vozes. Se começarmos a desmontar o canto à capela percebemos que dentro dele há realmente a situação social desse canto, ainda hoje em muitos sítios é um canto de resistência.
G. – Este disco apresenta-se como uma homenagem ao canto feminino, porquê?
A. M. – Há experiências importantíssimas que eu tenho com coros que não são só de vozes de mulher, até há muitos coros a nível internacional fantásticos, com os quais aprendi imenso, se calhar das experiências mais ricas que tive foi um trabalho em que fui convidada (quando aconteceu o Guimarães Capital da Cultura) para trabalhar numa área que era a da comunidade, onde esta era vista numa perspetiva de criação e não apenas de pessoas que iriam receber aquilo que os outros traziam para aquele espaço. Dentro desse espaço da comunidade, foi proposto pensar o que poderia ser um coro de vozes. Não queríamos substituir os corais locais, mas dar sempre a esse coro uma função específica que era o de ajudar as pessoas a conhecer Guimarães. Em vez de pensar que era um coro que iria para palco, fizemos um trajeto. Esta experiência foi importantíssima, mas se eu olhar, digamos, de cima, e visse os territórios todos de experiências, é realmente nos coros femininos que eu encontro um maior número e
pormenores que são fundamentais quando fazemos um trabalho e que são fundamentais para este Amélias. Digamos que essas coisas estão todas aqui. No disco, eu dividi uma parte para agradecimentos, lembranças e depois dedicatórias, e dentro delas vem a homenagem, nas lembranças tentei por todo o conjunto de pessoas, quer a título de dueto, quer a título de coros, me acompanharam. É verdade, as minhas experiências foram muitíssimo maiores nos grupos de mulheres, só por isso, não por serem mais importantes. E como realmente estou envolvida na candidatura (Canto de Vozes feminino a Património Imaterial da UNESCO), eu também achei que podia dar algum contributo neste trabalho para se poder falar nisso.
G. – A maioria das músicas são escritas pela Amélia, mas outras são pela mão de outros poetas. Quem são?
A. M. – Toda a composição é minha, menos a do Michales Loukovikas. Em termos de poemas, temos a Hélia Correia no “D. Falcão”, a Alfonsina Storni em “Un Recuerdo”, que é engraçado porque faço um bocadinho a ligação das memórias à ideia de pintura, aquele “recuerdo”, uma pessoa pode ler aquilo e se for, digamos, um pintor realista ou não realista, quilo é uma sugestão antástica para um quadro. Eu fui buscá-la porque achei que a Alfonsina tem poemas incríveis, foi uma mulher incrível, assim como a vida dela,sob o ponto de vista profissional, mas, de facto, conhecemos mais a Alfonsina pela canção que lhe foi dedicada que é a “Alfonsina y el mar”, porque ela decidiu não viver a parte final do seu cancro e entrou mar adentro, suicidou-se. Resolvi fazer um pequeno contributo e dar um dos maiores desafios ao Zé, que foi criar uma coisa que é uma homenagem ao tango, todo a vozes. Para mim, foi um dos mais difíceis porque se as pessoas observarem bem, tudo o que está por trás do solo e do que eu digo, é uma
paisagem sonora, que varia de tema para tema e essa variação dos sons que eu faço, tem tudo a ver com o próprio tema, ou porque é uma piscadela de olhos à questão dos ritmos, ou a questão do próprio tema, a pintura de sons, aquele riscar no papel, foi um trabalho que para mim foi o maior. Sabes… eu também sinto que, do ponto de vista físico, os coros fazem tão bem…e há estudos, inclusive, que dizem que quando uma pessoa canta em coro, ou ouve, parece que os ritmos cardíacos têm tendência a estabilizar. Isto mostra que há aqui uma humanidade ligada de uma maneira física que muitas vezes nem imaginamos. Acho que estamos ainda um pouco na pré-história das coisas porque, de facto, a realidade é uma coisa muitíssimo complexa, só podemos é vive-la sentindo-a, mas também percebendo que, se calhar, se soubermos mais sobre uma coisa, a vamos sentir de outra maneira. Já Damásio explicou, que,
por um lado, há sentimento e, por outro, razão, nós sentimos conforme percebemos.
G. – A sua música é sempre muito positiva, mesmo quando o tema é pesado, sabe torná-lo leve, transmitir alegria, como que parece brincar com a música. Falta brincar mais com as artes, neste caso, com a música, talvez para a entendermos melhor?
A. M. – Aí eu remeto, eventualmente, para Nietzsche, quando fala na alegria da criação, quando diz que esta é um dos verdadeiros impulsos vitais. Eu estou muito longe de separar – “isto é sério, isto é entretenimento” –, eu vim de uma sociedade onde isso não acontecia. Eu lembrome de uma homenagem que foi feita, ainda na altura do Samora Machel, uma cerimónia mesmo muito importante, não havia nada de mais importante nem mais sério. E aquilo abriu com um grupo de cantores mineiros, que tinham aquela mistura de músicas que por um lado são moçambicanas, mas que por outro já têm as misturas dos outros povos. Então, há um líder que dá um mote e faz algo com a voz, e numa marcha até bastante mecanizada. E o que aconteceu foi que eles entraram, vieram até meio do teatro e esse líder mandou parar e disse: “Ei, camaradas, isto saiu muito mal, vamos começar outra vez.” O que quero dizer com isto é que não há nada mais importante do que estarmos com os outros, a tentar confraternizar sobre uma coisa que é maior do que todos juntos, é essa a sensação. Eu não acho que seja uma questão de ser a sério ou a brincar. Eu acho que as coisas têm uma energia e eu sou atraída por uma energia, quando há um juntar de uma coisa com outra, eu sinto que há um acrescento, porque há sempre um acrescento. Por isso é que o humor é muito importante, não sei se é por ser alegre ou triste, o que acho é que há um desmontar de uma situação, o humor descaracteriza, dá uma volta à situação, ajuda-nos a criar um distanciamento que nos permite ter também outra defesa. O mecanismo de defesa, de nos defendermos das coisas que nos põem tristes, não quer dizer que não estamos nelas, temos é de estar de uma certa maneira, e eu ligo muito a isso. Aliás, eu acho que parece que as próprias músicas, antes de serem feitas, parece que chamam por mim, estão à minha espera para aparecerem, como um nascimento, e assim como um nascimento, são uma coisa alegre. Eu não separo a alegria da tristeza, é mais uma questão de impulso vital. Tenho a capacidade de unir pontas. Há quem diga que a cantiga em ternos de instrumentos e uma arma, eu costumo dizer que a cantiga, em termos de instrumentos é um tear, porque realmente cria tramas, une pontas. Obviamente que é uma arma se formos atacados, mas acho que o termo de uma cantiga é uma arma tem a ver com uma altura de grande violência política, de uma repressão tremenda na sociedade… Eu gostaria muito que a cantiga como instrumento fosse um tear porque quando isso tivesse sentido para as pessoas, significaria que estaríamos num tempo mais apaziguador, do que os
que correm hoje que, de alguma maneira, faz mais sentido dizer que a cantiga é uma arma, uma bala para nos defendermos. Gostava mesmo, quanto mais que não seja nos trajetos da cabeça, mais bonitos, com mais consistência, que unissem o passado com o futuro. Eu sinto-me muito nesse tear. Sinto-me um bocadinho tecedeira quando crio um trabalho, quando penso nas minhas coisas, e talvez por isso há um fio comum a todos. Porque, se formos a ver nos meus trabalhos, desde o Múgica (1992), já tenho uma canção à capela, quase um cartão de visita de uma série de coisas. Há um fio comum que compõe quase toda a trama e que, de algum modo, tem a ver com o canto a vozes. Porque há também essa questão de, no fundo, sermos muitas vozes. Somos muito mais do que ser contralto ou barítono porque, dentro, conseguimos fazer várias coisas.
G. – Este disco tem também ilustrações suas. É outra forma de continuar a tear um pouco essa construção?
A. M. – Sim, porque, de novo, ao falar nas linguagens, as linguagens têm uma coisa maravilhosa – elas penetram. Obviamente que eu, e até por via da minha necessidade de encontrar meios de comunicação, e de descrever ou de desenhar, o que me ajuda a pensar… Tudo é morfologia, todas as formas têm essa base de funcionamento que não é uma pura tecnologia. As coisas não são fáceis porque acho que ainda há muita coisa por descobrir, mas há algo que é verdade, as artes interpenetram. A ficção nas artes dá imensas pistas, a arte a ciência e a tecnologia têm uma coisa em comum que são realmente as linguagens e a capacidade simbólica que todo o conhecimento tem. Portanto, eu sempre tive muita curiosidade em perceber o que eram concretamente.
Estudei design, desenho e audiovisuais, por isso, há toda uma teoria das formas desenhadas, pintadas, dos traços, que eu acabei por estudar por mera curiosidade, adquiri uma forma mais organizada, conhecimentos que eu tinha muito dispersos… porque, realmente, o escrever e o cantar sempre foram coisas que me aproximaram muito, assim como a história das literaturas, o falar, escrever, traçar, e tudo isso faz parte da base da nossa comunicação. Talvez isso tudo seja também matemática… Para mim, também tem muito que ver com a forma. Por um lado, como a música na imagem reflete a minha identidade, e por outro, há uma coisa que sei que não queria que eram ter fotografia nos meus trabalhos, mas a certa altura também não há dinheiro para pagar tudo, por isso acabei por encontrar também nisto um certo desafio, porque da mesma forma que eu acho fantástico um bom conto, eu acho fantástico os livrinhos de viagens que têm frases e ilustração.