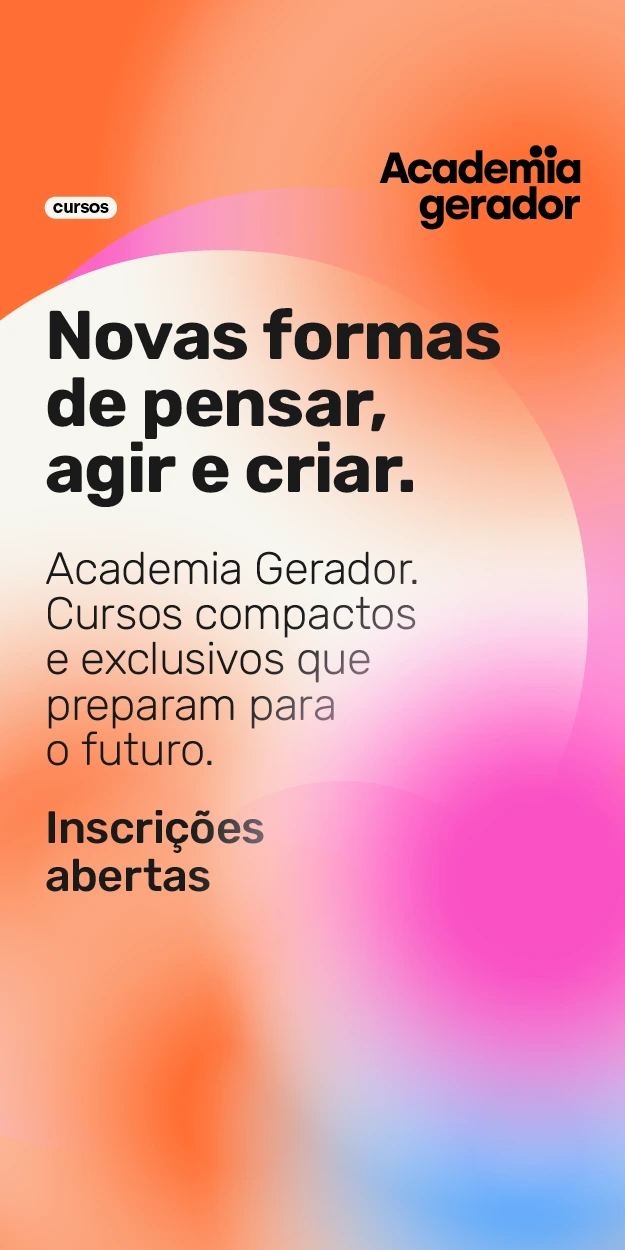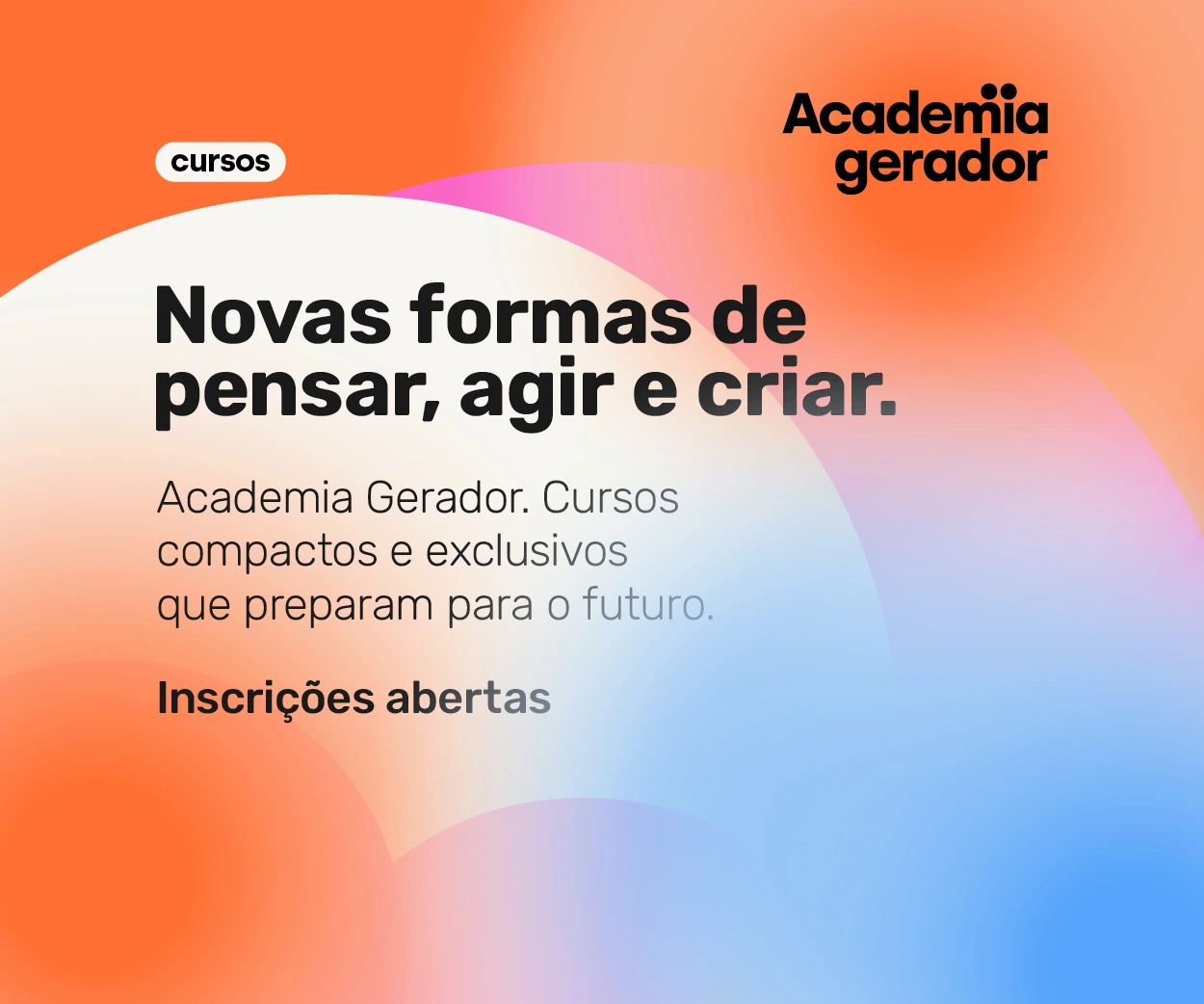Nas nossas aulas de escrita pode-se mentir mas não pode existir julgamento. Nas nossas aulas de escrita por vezes choramos. Por vezes fica um silêncio preenchido por tudo o que as palavras não conseguem dizer. As nossas aulas são bolhas de ficção, ainda que duras de roer. Nelas tudo se confunde, e tudo é surpresa. De cada vez que nos olhamos de cada lado do nosso computador desenganamo-nos sobre o que achávamos que estávamos a ver.1
Sempre tendemos a “tirar o retrato” a quem nos rodeia, colocar tudo em caixinhas, com força, no nosso redutor modo de tudo catalogar: a actriz famosa, a mulher trans, a jornalista, o pai cantor, a filha de um realizador, a bailarina indiana, o rapaz gay, o ruivo bonito, a burguesa do norte, o envergonhado, a atrapalhada, o complicado que só faz perguntas, a aborrecida, o alpha, a ausente, a que não tem estudos, o que fala esquisito, a sorridente, o provocador. No entanto, quando é a escrita quem fala, a voz que surge nada tem que ver com nenhuma categoria, nenhuma história já sabida, nenhuma personagem fácil de agarrar. Lá, o mundo é complexo e contraditório, fantasia, corda-precipício. Lá na escrita, a emoção é imensa, por todas as pequenas coisas, pelo terror também, pelas intermináveis possibilidades. Somos maiores do que os nossos limites, entramos nos mais pequeníssimos esconderijos, e podemos tudo destruir, ou reconstruir do nada o tudo que queremos erguer. A cronologia desfaz-se, não existem fronteiras a separar, nem matemáticas a respeitar, o céu pode ser líquido, pode ser ferro em cima da cabeça, pode ser flor à quarta-feira, pode não existir quarta-feira, e podemos escolher diferente do que escolhemos na vida, podemos convidar os nossos mortos para jantar.
Fala-se muito da morte nas nossas aulas. Não há como não falar.
A verdade é que nos vamos apaixonando por toda a gente, pela possibilidade de humanidade nas outras pessoas. Histórias por contar. Chega a ser viciante. E partilhamos luvas de box, a roda de uma cadeira de rodas, globos de neve, máquinas Kodak, insectos por baixo do colchão, esqueletos, dentes que caem, pautas de música, fotografias que fingimos ser nossas, filhas que perdem a mãe na Disney, os livros, as primeiras memórias, escrevemos muitas cartas (o Brecht já recebeu uma, a Susan Sontag também, o Raúl Brandão, Clarice, Preciado, Pessoa, e também Alice e Gertrude), falamos sobre quando éramos crianças, improvisamos sobre o futuro.
Às vezes escrevemos da cozinha, do único canto da sala que não está desarrumado, da janela onde podemos fumar, ou de Paris, do Algarve, de Ourém, de Bruxelas, da casa dos avós, de um lugar que não é nosso, às vezes escrevemos fora de casa, no meio da Avenida da Liberdade ou dentro do carro. Escrevemos também de gorro na cabeça, de cão ao colo, de batom, de tigela de cereais na mão, no sofá, doentes na cama, no limite de cansaço de um longo dia (vês como não é preciso um quarto só nosso, Virginia?).
Eu, deste lado, sou sempre surpreendida, sempre roubada para longe da minha vida, quando estamos juntxs. E sorrio muito, tento dizer as palavras certas, não mentir, fazê-los ver o quão especiais são. Gosto tanto de xs ver a escrever, agarradxs às testas, à cabeça, ao coração, dobradxs nos próprios corpos, agarradxs à caneta, ao lápis, às teclas do computador, à procura das palavras, em luta consigo mesmxs, a tentar sobreviver à voz que xs cala, que xs tolhe, que xs molda. E é tão bonito vê-lxs, corajosxs, ler em voz alta o que escreveram, ainda que tenham medo, vergonha, tormentos vários saltando pelas órbitas. E é tão bonito como ouvem xs colegas, enamorando-se das suas histórias, pregadxs que ficam às palavras que recebem à distância.
A bell hooks escreveu extraordinariamente (e não só) sobre educação, sobre ensinar. E eu penso nela, no seu sonho de trabalhar para a liberdade de pensamento - coisa muito recusado pelo sistema, que quer a formação como meio de chegar à conquista material, ao sucesso (seja lá o que isso for), ao mercado de trabalho. Perde-se, pelo caminho, o sentido de comunidade, a vulnerabilidade, e mesmo o risco, a valentia. Deixamos de fazer perguntas, de colocar o mundo em causa, de usar a imaginação, de escolher o que nos toca, de nos defender do que nos perturba, de saber quem somos.
Este texto não tem fim, porque não pode ter. Tem de ser contínuo, infinito, sempre por preencher, para que aqui caiba tudo o que ainda me será contado, tudo o que me abanará com tal força que não sei ainda dizer disso.
Queridxs António, Marta, Valéria, Bárbara, Beatriz, Alexa, Bernardo, Pedro, Clara, Cristina, Elsa, Inês, Mara, Bruno, Mariana, Rodrigo, Tiago, Safire, Francisca, Caio, Laura, Andreia, Catarina, Diana, Diogo, Leonor, Marlene, Patrícia, Paula, Rosária, Sara, Alice, Daniela, Isabel, Jessica, Joana, Lia, Maria, Paulo, Soraia, Zé, Luís, Mafalda, Elisa… esta crónica é para vocês.
*in “Irene ou o contrato social” de Maria Velho da Costa
-Sobre Sara Carinhas-
Nasceu em Lisboa, em 1987. Estuda com a Professora Polina Klimovitskaya, desde 2009, entre Lisboa, Nova Iorque e Paris. É licenciada em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estreando-se como actriz em 2003 trabalhou em Teatro com Adriano Luz, Ana Tamen, Beatriz Batarda, Cristina Carvalhal, Fernanda Lapa, Isabel Medina, João Mota, Luís Castro, Marco Martins, Nuno Cardoso, Nuno M. Cardoso, Nuno Carinhas, Olga Roriz, Ricardo Aibéo, e Ricardo Pais. Em 2015 é premiada pela Sociedade Portuguesa de Autores de melhor actriz de teatro, recebe a Menção Honrosa da Associação Portuguesa de Críticos de teatro e o Globo de Ouro de melhor actriz pela sua interpretação em A farsa de Luís Castro (2015). Em cinema trabalhou com os realizados Alberto Seixas Santos, Manoel de Oliveira, Pedro Marques, Rui Simões, Tiago Guedes e Frederico Serra, Valeria Sarmiento, Manuel Mozos, Patrícia Sequeira, João Mário Grilo, entre outros. Foi responsável pela dramaturgia, direcção de casting e direcção de actores do filme Snu de Patrícia Sequeira. Foi distinguida com o prémio Jovem Talento L’Oreal Paris, do Estoril Film Festival, pela sua interpretação no filme Coisa Ruim (2008). Em televisão participou em séries como Mulheres Assim, Madre Paula e 3 Mulheres, tendo sido directora de actores, junto com Cristina Carvalhal, de Terapia, realizada por Patrícia Sequeira. Como encenadora destaca “As Ondas” (2013) a partir da obra homónima de Virginia Woolf, autora a que regressa em “Orlando” (2015), uma co-criação com Victor Hugo Pontes. Em 2019 estreia “Limbo” com sua encenação, espectáculo ainda em digressão pelo país, tendo sido recentemente apresentado em Londres. Assina pela segunda vez o “Ciclo de Leituras Encenadas” no Jardim de Inverno do São Luiz Teatro Municipal.