Foi há quase um ano, a 11 de fevereiro de 2020, que Patrícia Moreira deu a conhecer o seu romance de estreia nas redes sociais, As Novas Identidades Portuguesas. “O romance revela factos de preconceito racial ocorridos em Portugal”, escreve na sinopse, e até as narrativas ficcionadas que costurou no seu livro têm um cariz verdadeiro. Partem da sua história, enquanto “portuguesa a quem sempre questionaram a origem africana”, e a de amigos, familiares e conhecidos. Decidiu escrevê-lo quando teve a certeza de que as estórias por que passavam não eram só suas; repetiam-se com o seu irmão, a sua irmã, a comunidade africana na diáspora.
Patrícia nasceu e cresceu em Lisboa, licenciou-se em Ciências da Linguagem, em França, regressou para Portugal e fez um mestrado em Português — Língua Não Materna —, e voltou a França para trabalhar enquanto assistente de língua. A executar estas funções, passou pelas academias de Montpellier e de Marselha, e decidiu tirar novamente um bilhete de regresso para Lisboa. Neste caminho, descobriu a literatura negra e encontrou pedaços de si. Grada Kilomba, Chimamanda Ngozi Adichie, Djamila Pereira D’Almeida, Djamila Ribeiro foram algumas das autoras que, logo à primeira página, começou a tratar por “tu”. Encontrou-se, encontrando-as.
A vontade de escrever um livro não existia desde sempre. Surgiu da urgência de falar por si e pela sua comunidade. De preencher folhas em branco com histórias reais, num estilo que fosse lido com a ligeireza necessária para convidar à leitura. “As Novas Identidades Portuguesas” convoca as histórias que todos vemos na televisão, mas que sobre as quais a maioria não reflete; conta o que se passa à vista desarmada, e o que fica no silêncio.
Encontrámo-nos com Patrícia para conhecer as fontes de onde o seu livro bebe.
Gerador (G.) - Antes de falarmos sobre aquilo que é a história do romance, gostava que me contasses qual foi o teu caminho até aqui e como é que surge a vontade de escrever um romance como As Novas Identidades Portuguesas. Como é que chegaste até aqui?
Patrícia Moreira (P.M.) - Foi algo bastante espontâneo. Eu nunca pensei em escrever um livro. Mediante os acontecimentos no país, relacionados com o racismo, e com a comunidade, levantei essa questão: as nossas histórias são histórias individuais, mas quando eu partilho com alguém, percebo que é algo comum, não é uma realidade subjetiva. É a realidade de todo um grupo. E porque não trazer essas histórias para a literatura e não as deixar somente na oralidade? Foi a partir de vários episódios que aconteceram, não só comigo, mas também com pessoas próximas, que fui escrevendo. Disse — “vou escrever um livro sobre racismo em Portugal”, e comecei a escrever. Quando dei por mim, já tinha bastantes histórias e foi simplesmente criar uma história em que pudesse ligar todos esses factos. Porque todos os episódios de racismo são episódios que realmente aconteceram. Até em histórias fictícias, trouxe um pouco da nossa realidade. Foi um pouco a partilha de memórias e histórias que levou ao livro.
G. - Fazes uma recolha de testemunhos que depois resulta nessa história que costuraste. Em que medida é que é importante ter estes temas num romance, e não num livro de não ficção?
P.M. - Eu queria trazer essas histórias para a literatura. Foi algo muito espontâneo. Fui construindo etapa por etapa. Desde a escrita até à publicação, o processo durou um ano, foi tudo bastante rápido, mas, à medida que ia escrevendo, também me ia questionando sobre algumas coisas. E percebi que, chegada à idade adulta, tinha respostas para algumas coisas que me aconteceram no passado. E quando comecei a partilhar esses acontecimentos com as pessoas, tive a confirmação de que eram essas histórias individuais que representam algo coletivo. Não é algo que me aconteceu apenas a mim. Aconteceu com os meus amigos, com o meu irmão ou com a minha irmã. E vemos que são camadas que vão passando de geração em geração, às vezes ficamos no silêncio, não temos respostas, e acho que podemos encontrar algumas dessas respostas neste livro. Ao mesmo tempo, o livro acaba por ser algo útil.
G. - E ao mesmo tempo, levar essas histórias para o papel é garantir que não são mais silenciadas. Mas enquanto leitora, antes de seres escritora, essa procura por ti foi algo que foste fazendo?
P.M. - Sim, sem dúvida. É ao longo dos últimos anos que encontro a literatura negra e há uma identificação enorme, não tenho como te explicar. Tu pegas num livro e pensas “eu passei por isto”, e são histórias escritas do outro lado do Mundo, mas em que encontras respostas para ti. Às vezes, passamos por micro-agressões diárias e parece pouco legítimo questionar algo. Por exemplo, qual é o meu direito de questionar uma música, um comentário ou um ditado popular? Não tenho esse direito. Mas porque é que eu me sinto agredida com aquela música, aquele comentário ou aquele ditado popular? É algo mais forte do que eu; sinto-me constrangida, sinto-me pequena, sinto-me sufocada. Ao mesmo tempo, parece que não é legítimo eu dizer “não cantes essa música”, porque é uma “simples música”. Mas não é uma simples música, existe uma mensagem por trás, e essa mensagem social é que me faz sentir agredida. Foi nesses livros que comecei a ler que percebi que não tinha de questionar a minha legitimidade para fazer esse questionamento.
G. - O processo de criação do teu livro surge mais ou menos na mesma altura que o “Girl, Women, Other” da Bernardine Evaristo, agora também publicado em português pela Elsinore. Mas no contexto português, pelo menos que me lembre de ver editado, o único livro que abordava estas questões — sendo que é uma não ficção, uma tese de doutoramento — é o Memórias da Plantação da Grada Kilomba. Como é que olhas para a forma como o racismo é abordado nos espaços mediáticos, como a televisão? Que espaço é que se dá ao debate e à representatividade?
P.M. - É abordado com bastante naturalidade. É na lógica de “eu posso dizer o que quero, porque é a minha opinião, e eu tenho liberdade de expressão”. A liberdade de expressão termina a partir do momento em que faltamos ao respeito, em que ofendemos, e em que fazemos o outro questionar a sua dignidade. Porque quando eu digo — “eu não sou dada a etnias” — não é a mesma coisa que dizer — “eu não gosto de pessoas altas ou de pessoas baixas”. Existe uma construção por detrás dessa frase. Quando se diz — “eu não gosto de pessoas pretas”, “eu não gosto de pessoas negras”, “eu não gosto de pessoas ciganas” —, existe uma construção discriminatória por detrás daquela frase. Durante os últimos séculos, qual era o cabelo bonito? Qual era a cor de pele bonita? São esses estereótipos que têm sido transmitidos de geração em geração, e as pessoas brancas têm privilégios hereditários. E sendo racista ou não, a pessoa branca vai beneficiar desse privilégio. Por isso, se dizes “eu não gosto de pessoas negras” ou “eu não gosto de pessoas ciganas”, OK, é o teu gosto, mas já pensaste de onde vem esse gosto? Vem de um lugar discriminatório. E a liberdade de expressão não me pode permitir dizer tudo o que eu quero; tenho de ter empatia pelo outro, pensar como é que o outro se vai sentir.
E em Portugal, esses temas são abordados com muita naturalidade, porque estamos num país que, felizmente, é livre, mas não podemos esquecer o respeito e bom senso. Não apenas tolerância, respeito.
G. - E pensando no lugar de fala, em que medida é importante seres tu a falar sobre esse assunto e a escrever este livro — e não uma pessoa branca, mais uma vez?
P.M. - Uma pessoa branca não vai saber da minha experiência. Não sabe aquilo que eu passo, tem um conhecimento de fora. É como um homem vir falar sobre nós, sobre mulheres. Quando vamos a um café e levamos com aquele olhar que nos faz sentir desconfortáveis, um homem não sabe o que é isso. Ele pode falar superficialmente, mas nunca vai saber. É a mesma coisa com o racismo.
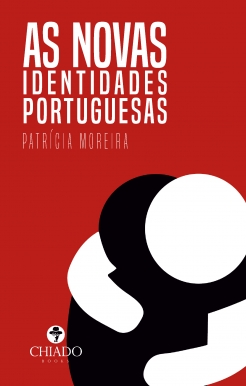
G. - Reparei num comentário que partilhaste nas redes sociais, com o feedback de alguém que leu o teu livro. Dizia algo como: “ler este livro foi reviver costumes e tradições”. Um romance pode ser uma forma de preservar costumes que, também eles, por vezes são silenciados?
P.M. - Sem dúvida. Mesmo ao escrever o livro, a minha fonte de pesquisa foram os amigos, claro, mas também a minha avó, porque havia coisas que eu não me lembrava e não sabia. Eu ligava para ela e perguntava, “oh vó, mas quando chegaste a Portugal como é que era?”, e existia essa partilha entre nós. Por isso, sem dúvida, pode ser um encontro com os nossos antepassados. Houve um comentário que eu recebi que dizia: “com este livro vi a minha história e a história do meu pai”. E é muito bom receber estes comentários e perceber que há um encontro geracional.
G. - Nesse sentido, gostava de te perguntar como é ser uma pessoa africana na diáspora a crescer em Portugal. Tendo em conta que as narrativas dominantes são brancas e da perspetiva do colonizador, e que o encontro com a tua ancestralidade pode acontecer em casa, mas nem sempre tem espaço para acontecer fora dela.
P.M. - Recentemente comecei a ler mais literatura negra, como te disse, e percebi como a história é contada de uma maneira romantizada, muito branca. Falamos sobre os descobrimentos, mas não falamos da desumanização dos descobrimentos com os nativos que viram as suas terras invadidas e foram escravizados. Não falamos sobre isso. É o povo glorioso, os heróis do mar, e por detrás disso tudo, o que é que aconteceu? É que essa parte que não se conta faz parte da minha História. Esta é uma reflexão que posso dizer que é recente, não posso dizer que a tive na escola primária ou no segundo ciclo, nas aulas de História. É uma reflexão que surge na idade adulta, de um encontro de histórias.
G. - Mas esse encontro com a tua ancestralidade, sempre o tiveste abertamente em casa?
P.M. - Sempre. E por isso é que o título do meu livro é tão sugestivo, As Novas Identidades Portuguesas. Quis chamar-lhes de identidades, porque é algo muito íntimo, e que quando és criança te dizem — “não, tu não és portuguesa”. Enquanto tu achas que pertences a este grupo, fazes parte deste grupo, tens os hábitos e costumes deste grupo, dizem-te — “não, tu não és portuguesa, porque és negra”. E o que é que é a identidade? Identidade e nacionalidade é a mesma coisa? A minha nacionalidade é portuguesa, não há dúvidas, mas sobre a minha identidade só eu posso falar por mim. Só eu tenho essa resposta. E As Novas Identidades Portuguesas são esses povos de diferentes etnias que chegam a Portugal, vivem com a cultura portuguesa, mas têm uma outra cultura em casa. Sempre tive a cultura cabo-verdiana bastante presente em costumes, hábitos e tradições, em minha casa. Eu falo do que me é íntimo, que é a comunidade africana, mas As Novas Identidades Portuguesas são também outras comunidades, como a brasileira e a ucraniana.
G. - No fundo, são identidades que agregam, que não te dizem que “não podes ser isto, para ser aquilo”.
P.M. - E na imaginação portuguesa existe uma rivalidade entre negritude e portugalidade. É como se não pudesses ser negra e portuguesa. Desde pequena, quando eu dizia que era portuguesa, insistiam: “mas os teus pais? e os teus avós? Ah, então és cabo-verdiana”.
G. - Que é algo que não acontece quando és “muito branca” e duvidam que és de cá. Não existe esse reforço de “só podes ser de outro lugar”. Tal como não existe um “posso tocar no teu cabelo?”
P.M. - Vou contar-te uma história minha: pela força dessa insistência, de me quererem a dizer que a minha origem é cabo-verdiana, quando fui viver para França e me perguntavam a minha nacionalidade, eu dizia que era portuguesa de origem cabo-verdiana. Porque foi como me comecei a apresentar em Portugal. Portuguesa de origem cabo-verdiana. E, um dia, um amigo perguntou-me: “porque é que quando te perguntam a tua nacionalidade dizes que és portuguesa de origem cabo-verdiana? Parece que não tens orgulho em ser portuguesa”. E, na altura, eu não dei uma resposta, mas questionei-me porquê. Foi para me defender de micro-agressões, de me estarem constantemente a perguntar por essa origem. Se eu me apresentasse assim, ninguém mais ia perguntar de onde eram os meus pais e os meus avós. E num contexto de emigração, um amigo teve de perguntar porque é que eu fazia isso — ele na brincadeira até dizia “ninguém te perguntou a tua biografia”.
G. - E quem é que imaginas ou gostavas que fossem os leitores d’As Novas Identidades Portuguesas?
P.M. - Eu não tive essa questão, conscientemente, quando comecei a escrever o livro, mas quero que seja para qualquer leitor. Obviamente, fico muito feliz quando a minha comunidade se sente identificada, não posso negar isso, mas é para qualquer leitor. Não o penso para um público específico.
G. - Sentes que há espaço para estas narrativas no meio literário português — também te pergunto isto porque a própria Grada [Kilomba] só editou o livro dela [Memórias da Plantação], cá, 10 anos depois da sua publicação original?
P.M. - No meu caso, foi fácil a parte da edição. Se existe espaço para a literatura negra, eu acho que começa a surgir. Algumas pessoas têm vindo a abrir o caminho, não só em Portugal, mas também a nível internacional. Ouvimos falar mais sobre as nossas histórias, sobre a nossa realidade. E hoje começamos a ter uma outra posição, também. O que eu silenciava em criança, hoje não deixo no silêncio. Essa partilha de histórias acaba por encorajar a que mais pessoas partilhem as suas, também. Não temos medo — e não digo medo por acaso — de nos expor. Fala-se muito de vitimismo quando se vem a público dizer “eu passei por isto”, e é bastante difícil fazê-lo, mas o facto de surgirem pessoas que têm essa coragem, inspira outras pessoas a dizer “eu vou caminhar contigo”. Eu sinto-me encorajada e motivada por diversas pessoas. Esse encorajamento leva-nos a dizer “vamos dar as mãos e trilhar juntos os nossos caminhos”, vamos abrir o espaço. Já percebemos que o silêncio não gera mudança, então queremos começar a incomodar. Isso sim, vai gerar mudança.
Ultimamente diz-se que tudo é racismo, mas sempre foi, nós é que nos calámos. Mas não vamos calar mais.
G. - E há alguma expectativa com o teu livro?
P.M. - O maior impacto que gostaria que tivesse era que gerasse uma reflexão crítica. Que convidasse as pessoas a pensar nas suas atitudes — gestos e palavras — e compreendessem que dizer “mas eu sou preta?”, quando na escola ou noutro contexto ficas com a tarefa que não querias ou és a última a ser escolhida. O que é que está por detrás dessa frase? Já paraste para pensar quem foi essa preta no passado? Foi a preta que foi escravizada, que foi violada, que viu os seus filhos serem vendidos e serem-lhes arrancados dos braços. Essa era “a preta”, que tudo podia sofrer sem reclamar. Há que ter uma reflexão crítica sobre os nossos atos, sobre a História que nos é contada e saber que todo o privilégio que o branco tem hoje foi construído, no passado, sobre corpos negros.
G. - Quanto aos leitores africanos na diáspora, que impacto gostavas que tivesse neles?
P.M. - Além de se sentirem identificados, que felizmente tem acontecido, espero que sirva para perceberem que o que sentem hoje foi construído no passado, que não passam por o que passam sozinhos, e que estamos juntos para abrir caminhos e conquistar os espaços que nos foram vedados.






