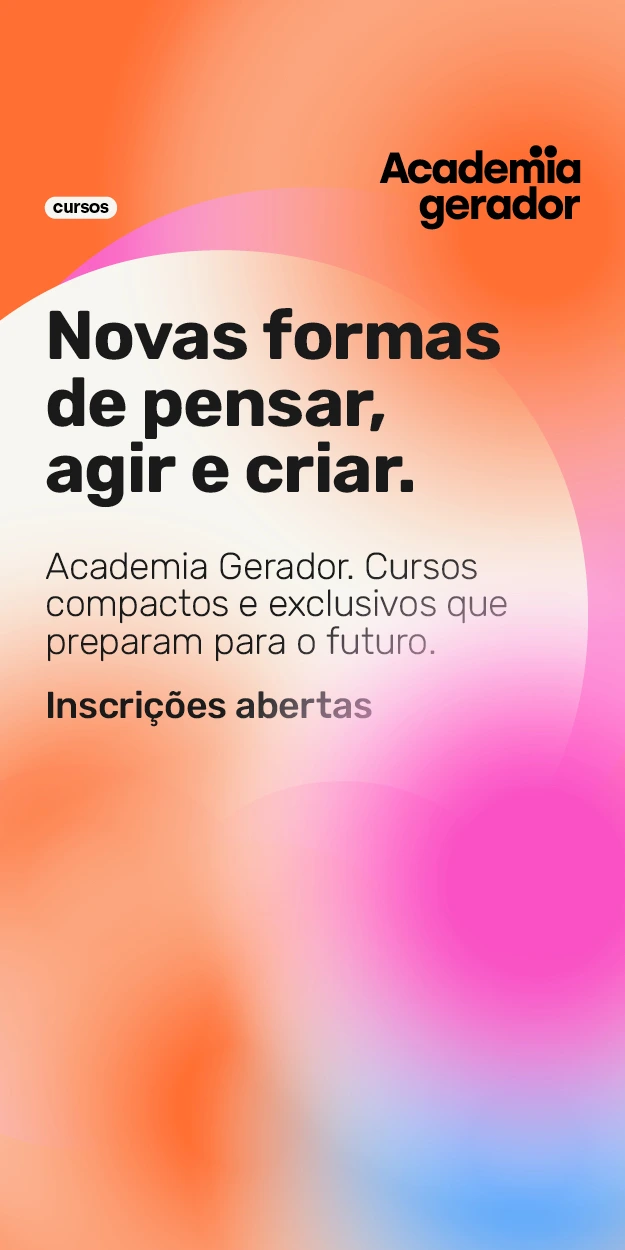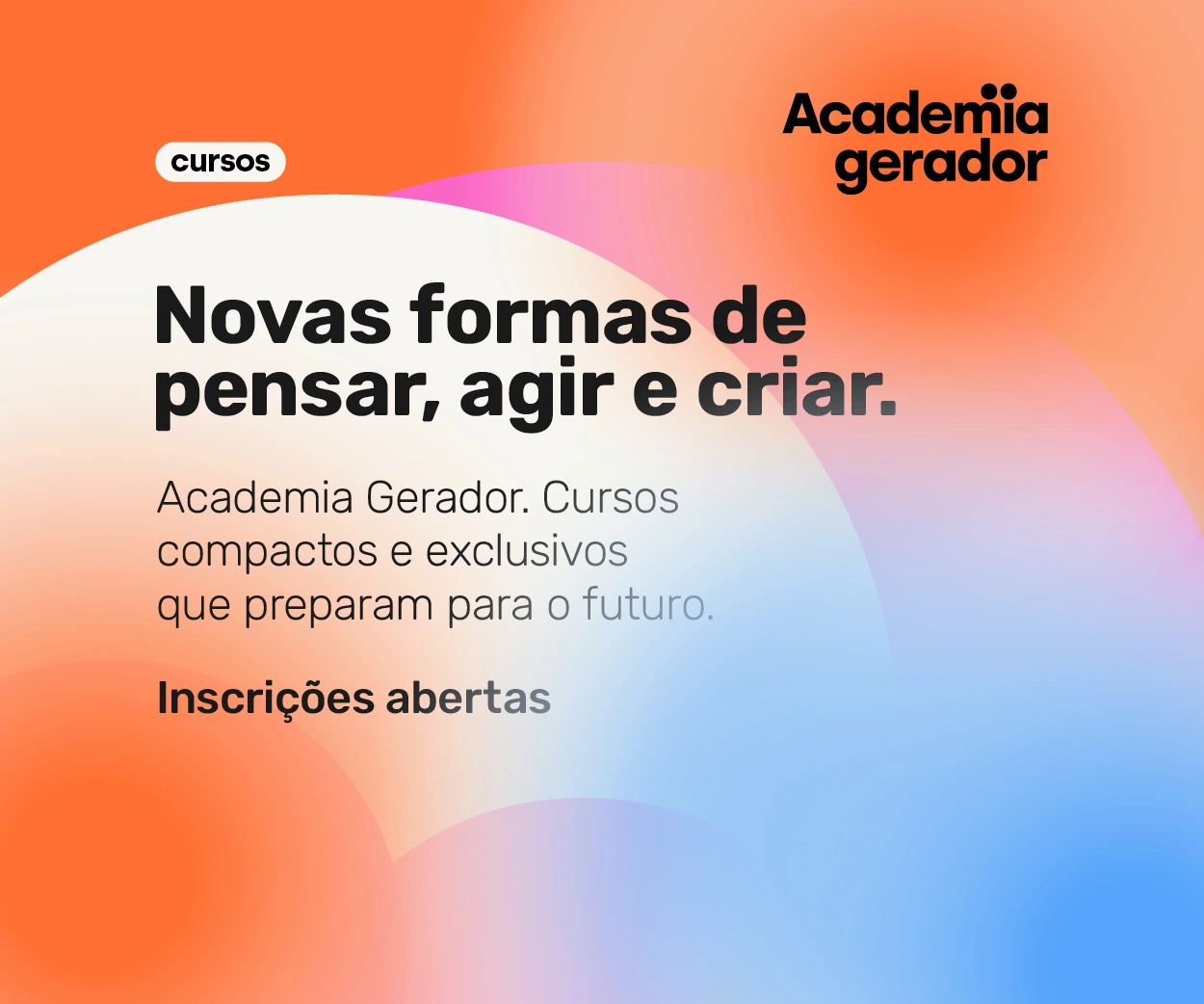“O nome, como o corpo, é nós também.”
Vergílio Ferreira
A garganta da Catarina tenta fazer caminho até chegar ao meu nome. A sua voz estica-se à procura de um lugar que raramente ou talvez nunca visitou. Insiste. É o meu nome que está em questão. Abandono a festa e empenho-me em puxar com ela as suas próprias cordas. Quando está quase a encaixar o meu nome nas esquinas certas do seu corpo, de outro canto da sala, regressa ao meu ouvido outro nome, dito por outra pessoa. Também é meu, apesar de estar longe da pronúncia das pessoas que habitam o tal nome. Outra vez. Outra pessoa. Outra versão daquilo que imagino que fosse meu. Cada boca que está na minha pequena sala, canta o meu nome à sua maneira fazendo com que se torne infinito, tal como a minha inquietação: quem sou de todos estes nomes? Sou toda a abundância que em meu “único” nome se encontra? Todas as versões de mim ou nenhuma? Sou a tentativa ou o erro?
Recolho no meu ser o meu nome. Os meus nomes. O meu nome “existem” no plural. O meu nome “acontecem” num coletivo que não reconhece a noção entre meu e teu. O meu nome “espalham-se” ultrapassando a fronteira entre aqui e ali.
Dizer o meu nome é como estar em dois lugares ao mesmo tempo.
É possível, sou.
Aprendi traduzir as respirações no meu nome. A Avó Beatriz, que não era, mas foi a minha avó, fazia com que o meu nome acontecesse no arroz doce não como eu escrevia, mas exatamente como ela pronunciava. Com canela em pó fazia com que o meu nome apagasse qualquer distância. Com o meu ser dito e escrito num arroz doce à sua maneira, nunca me senti estranha. O meu nome, que não era, no seu doce estava sempre doce.
Nada doce, nem sequer canela são as pessoas irritadas com um meu nome que exige mais uns pinguinhos do seu tempo. Peço imensa desculpa por ter este nome, costumo dizer. Não reparam no meu sarcasmo e decidem simplesmente perdoar-me por não ser Maria. Não sou.
Sou eu e não sou nenhum “Caro Sr.” que antecede o meu nome nas cartas a mim dirigidas, fazendo desaparecer toda a minha poética sobre a fluidez de género dentro de nós. Sou eu, foi também o que respondi, um dia, àquela contestação: tem que ser o próprio. Sou eu, disse agarrando à minha existência. A senhora é esposa dele? Persistiu perante um nome que nega o “À” no seu final e um documento que carrega o meu nome, traços de independência e talvez sucesso. Na sua perspetiva, este nome nunca pode ser de uma mulher árabe. Sou eu.
Sou eu, digo quando vejo um corpo a entrar em qualquer sala de espera com uma cara perplexa e atrapalhada sem abrir a boca, quando este é o seu papel. Dizer um nome faz acontecer. E não dizer? Sou eu, repito. Sou eu.
Sou eu, mas o sistema não aceita o meu nome. Não aceita nem sequer uma cunha de Jesus Cristo para uma menina que, segundo a funcionária, a merece, porque é da terra dele próprio. O sistema não aceita o seu nome, disse. Não aceita o apóstrofo, ou como ela disse o “apóstolo”, que no meu nome mora. Um apóstrofo que faz com que o nome próprio do meu avô paterno – Moh’d, o meu terceiro nome segundo um sistema patriarcal – não apareça por extenso. Uma abreviatura que se não existisse, não só retirava o “apóstolo” do meu nome, como também Jesus e toda a simpatia. Sou eu, sou o apóstrofo, o apóstolo, Jesus e Maomé, que está escondido no meu nome.
O meu nome próprio? A resposta muda consoante o momento. Por vezes, acentuo o meu “agá” árabe desapaixonado sem vogais. Por outras, sossego-o, deixando-o portugalizar-se sem aspiração. Na maioria das vezes, simples e automaticamente começo a soletrar: “S” de sapo anfíbio como o meu nome, “H” de hotel fora do lugar, “A” que afirma que as sílabas sobrevivem sem vogais, “H” de hotel sempre, “D” de dado que se lança para perder ou ganhar. Sou eu.
Evito mencionar o “E”, que ao meu nome foi imposto, deixando-o aprisionado num lugar bem longe de si em todos os meus documentos oficiais. Em tom lado a lado, coletivo como o meu nome, recebo um sonho: vamos mudar o teu nome para um que seja teu?
Imagino um nome que seja só meu. Um nome que o seja sem nenhuma hesitação. Sem muita explicação. Um nome sem sotaque ou improvisação. Um nome sem esforço nem lapsos nem sequer uma revisão. Imagino o meu nome sem interpretação, sem lugares ou residentes. E que seria de mim se fosse apenas uma versão? Que seria dele se não fosse desobediência?
O meu nome sou eu. Sou todas as nuances que nele existem. Sou dita quase sempre com sotaque. Sou as identidades que criam um nome. Sou os rótulos que em mim (nunca) se colam. Sou quem mora entre as tonalidades do meu nome e as pessoas que dentro de mim duram. Sou as falas que comigo tecem o meu nome. Sou o nomear que assim me faz existir. Sou um nome que se assemelha à resistência. Sou eu, um nome que é meu.
- Sobre Shahd Wadi -
Shahd Wadi é Palestiniana, entre outras possibilidades, mas a liberdade é sobretudo palestiniana. Tenta exercer a sua liberdade também no que faz, viajando entre investigação, tradução, escrita, curadoria e consultorias artísticas. Procurou as suas resistências ao escrever a sua dissertação de Doutoramento em Estudos Feministas pela Universidade de Coimbra que serviu de base ao livro “Corpos na trouxa: histórias-artísticas-de-vida de mulheres palestinianas no exílio” (2017). Foi então seleccionada para a plataforma Best Young Researchers. Obteve o grau de mestre na mesma área pela mesma universidade com uma tese intitulada “Feminismos de corpos ocupados: as mulheres palestinianas entre duas resistências” (2010). Para os respectivos graus académicos, ambas as teses foram as primeiras no país na área dos Estudos Feministas. Na sua investigação aborda as narrativas artísticas no contexto da ocupação israelita da Palestina e considera as artes um testemunho de vidas. Também da sua.