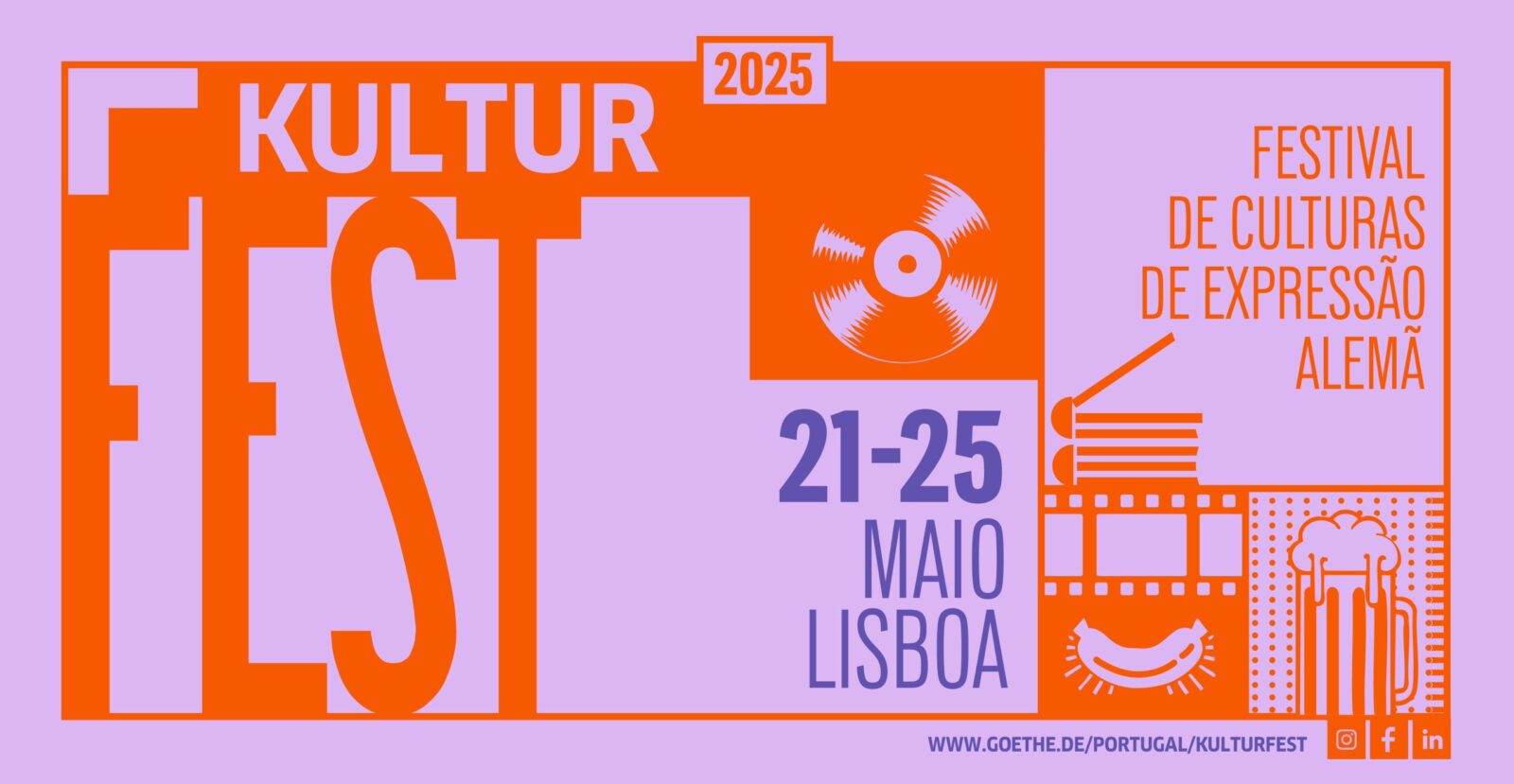A história está repleta de diversas formas de desigualdade social, e o silêncio foi sempre o seu grande aliado. Esse silêncio é, no entanto, quebrado, quando figuras públicas e do poder, com grande peso na sociedade, apelam para que a igualdade entre homens e mulheres seja uma realidade do século XXI. António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, alertou, no Dia Internacional da Mulher, para a necessidade de uma maior presença feminina nos diversos palcos do mundo e na vida privada, considerando que “as mulheres estão escandalosamente sub-representadas nos corredores do poder”. “Reconhecemos que, em muitas áreas, o relógio dos direitos das mulheres está a atrasar”, acrescentando que “a desigualdade de género é essencialmente uma questão de poder, num mundo dominado por homens e uma cultura dominada por homens”. Essa ausência feminina a que Guterres se refere agrava quando existe «um enorme desequilíbrio nos dados disponíveis: o défice informacional de género», revela Caroline Criado Perez, autora do livro Mulheres Invisíveis.
Estas desigualdades têm grandes repercussões na vida de muitas mulheres, que se refletem no mais ínfimo pormenor. A disparidade salarial entre homens e mulheres, os «trabalhos ainda entendidos como destinados apenas a determinados géneros» e até a falta de dados sobre o corpo feminino na área da investigação médica são alguns dos exemplos que padecem de uma ausência de dados relativamente ao género.
É desta forma que Dália Costa, docente e investigadora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), defende que reconhecer o défice informacional de género é reconhecer a sua existência «no domínio político quando se definem políticas públicas em Portugal, no domínio organizacional, nas organizações que fazem gestão de recursos humanos, nas contratações e formação de pessoas, na gestão salarial dos rendimentos e vencimentos das pessoas e também ao nível familiar e pessoal».


O défice informacional de género não pode, por isso, considerar apenas que há falta de informação numa determinada área ou que esta falta de informação diz apenas respeito ao sexo masculino e feminino. Para Dália, no conjunto de homens e de mulheres, «é fundamental perceber de que homens e mulheres estamos a falar e trazer todas as identidades de género que são reconhecidas internacionalmente através da sigla LGBTQIA+». Esse défice informacional relativamente à diversidade e pluralidade de género é «considerado gravíssimo», isto porque, sem dados, «não é possível projetar nem planear políticas públicas».
Apesar de o défice em questão ser o resultado do não envolvimento da mulher no planeamento, não é um plano deliberado dos homens excluírem as mulheres. «Simplesmente não pensaram nelas. Não ponderaram se as necessidades delas podiam ser diferentes», afirma Criado Perez. Já Dália Costa vai mais longe, referindo que não é intencional, «mas o atraso ou a demora na sua correção é falta de ação».
O Instituto Nacional de Estatística (INE) é responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial relevante para a sociedade portuguesa, no entanto, a investigadora acredita que deixar arrastar esta ausência de informação relativamente ao género, especialmente em organismos oficiais, como o INE, é omissão de ação. «Aqui há uma escolha em levar muito tempo a corrigir, com todos os prejuízos que isto provoca na sociedade: ou eu escolho ter dados, ou eu escolho manter a situação tal como está», conclui.
O Gerador tentou contactar o INE, sem que tenha obtido alguma reposta. Ao consultar diversas bases de dados do Instituto, disponíveis online, verificou-se que há a referência ao sexo masculino e ao feminino, mas não ao género, deixando sobressair o alerta que Dália nos deixa sobre a falta de informação acerca de que homens e mulheres se fala nos dados existentes.
Quem está no topo da carreira?
De acordo com o Boletim Estatístico 2021 da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), os dados demonstram que, no ano de 2019, as mulheres ganharam menos do que os homens, entre 149,20 € a 223,10 € mensais, e quanto mais qualificadas são, maior a disparidade salarial entre elas e eles. Face a estes dados, Dália Costa acrescenta que existe uma dicotomia. «Se, por um lado, existe uma dispersão salarial maior, nós temos nessa ponta quem é mais bem remunerado, sobretudo indivíduos do sexo masculino, e, do outro lado, quem é menos bem remunerado, indivíduos do sexo feminino», expõe a investigadora. Nos escalões dos mais bem remunerados, estão os «CEO de empresas, gestores do domínio financeiro, empresas cotadas em bolsa, e, aí, vemos que este é sobretudo um universo masculino, assim como é o universo onde os salários são mais altos», admite.
Para Carla Pereira, jurista e membro do movimento feminista Por Todas Nós, esta é uma realidade bem presente no ramo da advocacia. «Trabalhei muito tempo como advogada e cerca de 90 % das licenciadas em direito são mulheres, mas, depois, nessa hierarquia, existem os sócios, os seniores, e a pirâmide vai encurtando», começa por contar. Essa pirâmide que Carla conhece tão bem vai ficando cada vez mais curta, e é aí que se depara com a realidade: «Temos, na base, tudo mulheres, no meio, metade homens, metade mulheres, e, no topo, vejo, sempre homens», remata.


«Como todos os chefes gostavam muito de me dizer, as mulheres trabalham muito mais do que os homens, portanto gostam de contratar mulheres. E nós temos de dar muitas mais provas de que somos capazes, mas depois quem recebe por essa produtividade já não são as mulheres, são os homens que recebem os benefícios e que estão lá em cima.»
Carla Pereira, jurista e membro do movimento Por Todas Nós
Ainda relativamente ao ramo da advocacia, Dália Costa lembra que é crucial dar um passo atrás. «A média de acesso ao ensino superior das estudantes de Direito é tendencialmente superior à deles. Durante o curso, os resultados delas são tendencialmente superiores aos deles. Nas provas de admissão à Ordem dos Advogados, decorrendo também dos estágios, os testes de admissão à ordem delas são também melhores comparativamente aos deles. E, no fim da história, eles é que são os representantes dos escritórios de advocacia, e elas são, ao fim ao cabo, as pessoas com o trabalho mais rotineiro. Infelizmente, vemos isso em muitas mais áreas», conclui.
Além disso, Dália defende que corrigir o défice salarial não é, por si só, suficiente, é primordial corrigir toda uma conceção de uma sociedade inteira que considera que «a liderança está mais bem entregue quando é um homem e que o trabalho rotineiro é mais bem desempenhado por uma mulher».
Não obstante, para além de ser essencial perceber o setor de atividade económica ou a qualificação académica, é também importante «compreender a situação familiar, se as mulheres são divorciadas, viúvas, entre outros, e aí é quando começamos a perceber as diferenças, o conceito de género na sua complexidade», acrescenta Dália Costa. Isto porque, para além de ser homem ou mulher, é [necessário] também perceber as suas diferenças na sua intersecionalidade.
«Se olharmos para as chefias no setor público, estas ascendem no cargo por validação de competências, classificações, pela evolução das carreiras, mas também aí podemos notar dificuldades», começa por dizer Regina Marques, membro do Movimento Democrático das Mulheres (MDM) e psicóloga aposentada. Para Regina, a grande dificuldade que as mulheres enfrentam para chegar a lugares de chefia é exatamente o problema da maternidade. Apesar de terem as mesmas habilitações académicas que um homem, existe posteriormente uma carga familiar «que são elas que suportam», o que as impede, muitas vezes, de não conseguirem competir, isto porque «não têm disponibilidade total».


Apesar de a Constituição da República Portuguesa proibir todas as formas de discriminação, na prática tal não acontece, existindo um problema ainda maior no que concerne ao acesso ao mercado de trabalho, que atinge altamente a identidade de género. A jurista conta que, no início de carreira, «uma das perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego era se tinha intenção de criar família ou se era solteira. Ora, isto não pode acontecer», reconhece.
É evidente que este género de perguntas não devia acontecer, mas o problema é que muitas vezes não é feito de forma direta. São as chamadas «discriminações indiretas». «As pessoas não têm consciência de que isto existe. Só depois, falando com uma amiga ou amigo, é que ganhamos consciência. É muito mais difícil combater essas discriminações indiretas do que a própria discriminação direta», defende Carla. Desta forma, o acesso ao mercado de trabalho é central. Sem trabalho não existe independência económica e, por conseguinte, «muito dificilmente podemos falar de igualdade, se não há realização pessoal», observa Regina Marques.
«Ainda há tempos falei com uma mulher ligada ao MDM e ela contou que, de cada vez que concorria ao setor privado, o facto de ter quatro filhos era logo um impedimento. Isto é uma questão muito importante, talvez as pessoas mais novas ainda não o tenham sentido, mas a maternidade continua a penalizar muito as mulheres no acesso ao trabalho e na progressão das carreiras.»
Regina Marques, membro do MDM
O trabalho deles e o delas
Ao longo dos séculos, homens e mulheres desempenharam papéis sociais muito distintos. Por vários séculos, a mulher viveu numa cultura em que o seu papel na sociedade era voltado unicamente para a família. Ela era a responsável por todo o serviço doméstico e educação dos filhos. Ainda que hoje o papel da mulher na sociedade seja muito mais do que isso, «Portugal ainda é uma sociedade patriarcal», assegura a professora e investigadora. «Não vale a pena dizer outra coisa, não vale a pena dizer que é passado, temos imensos indicadores disso». A disparidade salarial entre homens e mulheres, a falta de representação igualitária em cargos políticos e de chefia, assim como os trabalhos domésticos atribuídos à mulher são algumas das evidências mencionadas pela investigadora.
No que diz respeito à representação igualitária, a política é mais um dos exemplos. «Se repararmos, no Governo, as pastas maioritariamente adjudicadas às mulheres são pastas de cuidado, nomeadamente Saúde, Educação, Cultura. Pastas associadas ao poder económico, por exemplo, Ministério das Finanças, Economia, são geralmente atribuídas a homens. E isso diz muito do papel que a mulher continua a ter nos cargos de alta representação e não só», alerta a jurista.
Se, por um lado, ainda existe uma «aceitação» em viver numa sociedade cheia de desigualdades, tanto para homens como para mulheres, Patrícia Vassallo Silva começou a criar consciência para o défice informacional de género quando o sentiu verdadeiramente na pele. Agora com 36 anos, Patrícia afirma ter sido alvo de preconceito por ser eletricista.


«Quando fui trabalhar na área da construção, senti muita diferença, porque esperavam de mim aquilo que esperam de um homem, que reagisse como um homem, que trabalhasse como um homem», começa por contar. «Fazia manutenção nos edifícios da Carris, fui como eletricista, mas punham-nos a fazer de tudo. Era a única mulher, e isso era pesadíssimo a nível emocional.»
Embora o ambiente no local de trabalho fosse extremamente degradante, Patrícia mostra-se bastante agradecida pela pessoa ativista em que se tornou. «Chegava a casa exausta, porque não me podia queixar. Ouvia coisas horríveis, piadas machistas, mas não podia nem rir, nem chorar, tinha de estar focadíssima para manter o respeito», desabafa a eletricista. «Lembro-me de estarmos a descarregar material de uma carrinha e um colega dizer: “Tu nem tentes.” Eu pensei — porque é que não hei de descarregar material? Pronto, não é suposto, uma mulher não faz trabalhos pesados. Era muito assédio, muito machismo», confidencia.
Tudo mudou no dia em que foi a casa dos pais depois do trabalho. Em jeito de conversa, comentou com bastante naturalidade aquilo por que estava a passar. Logo de seguida, o pai alertou-a: «As pessoas não te podem tratar assim, portanto, vais falar com o responsável da tua empresa e, se eles não resolverem isso, nós vamos ter de falar com um advogado. E não te preocupes, se houver ali um tempo em que te tenhas de despedir e procurar trabalho, nós também te ajudamos.» Este apoio inesperado do pai foi um abre-olhos para Patrícia. Embora estivesse a ser alvo de preconceito, ainda hoje se sente uma privilegiada, uma vez que teve alguém a chamá-la à razão: «Patrícia, isso é assédio, isso é grave, não é só uma piada», recorda.
A partir desse momento, a eletricista começou a fazer-se ouvir. «Comecei a querer dar voz às mulheres negras das limpezas que lá trabalhavam. Essas nem abriam a boca, porque tinham filhos para alimentar. E se alguém tinha de fazer alguma coisa, essa pessoa era eu.» Para além de toda a humilhação de que era alvo, ganhava menos do que os restantes colegas e, enquanto toda a gente tinha acesso às ferramentas, Patrícia só o conseguiu muito mais tarde. «Foram muito horríveis. Nem casas de banho para mulheres tinham», comenta em jeito de revolta.
Ao fim de meses de humilhação e discriminação, Patrícia acabou por se despedir. A dificuldade em arranjar emprego como eletricista foi grande, mas nunca baixou os braços. «Lembro-me perfeitamente de um colega me dizer que eu era espetacular para trabalhar na equipa, mas o chefe não quis porque eu era uma mulher.» Mais tarde, acabou por montar um projeto próprio, juntamente com outra mulher na área da construção. «Foi o melhor que me aconteceu!», confessa. Contudo, ainda hoje encontra bastantes desafios no exercício da sua função.
«Estava, juntamente com uma amiga, a fazer um trabalho que consistia em instalar toda a canalização numa casa de madeira e é preciso utilizar muitas ferramentas, ferramentas que são perigosas. Nesse momento, comentei com ela que essas ferramentas não são feitas para uma mão de mulher. As ferramentas são feitas para a mão média de um homem, que geralmente é bastante maior, o que torna o meu trabalho muito mais difícil de executar. Realmente, a discriminação é incrível.»
Patrícia Vassallo Silva, eletricista e membro do Por Todas Nós
Um caminho que não pode ser esquecido
A luta pela igualdade de género tem vindo a ganhar cada vez mais destaque na agenda. Este é, no entanto, um trabalho feito dia após dia por movimentos feministas que batalham contra desigualdades sociais. Mesmo assim, e apesar de Portugal ser hoje «um país menos desigual, em que têm sido eliminadas ou reduzidas as desigualdades de direitos», como afirma o Programa do XXII Governo Constitucional, ainda «persistem níveis significativos de diferentes desigualdades económicas e sociais», conclui o Governo.
Tal como hoje, também no passado existiu um conjunto de protagonistas na luta que exigiram o direito ao voto e, essencialmente, o direito à liberdade de expressão. Regina relembra que «a memória não pode ser curta». Antes do 25 de Abril, «havia uma opressão muito grande em relação às mulheres, poetisas, escritoras. Elas não podiam publicar as suas obras», afirma a membro do MDM. O livro Novas Cartas Portuguesas, publicado pelas escritoras que ficaram conhecidas como ‘as três Marias’, aborda, precisamente, temas censurados pelo Estado Novo, como violação, adultério, aborto e guerra colonial. As autoras do livro chegaram a ser julgadas, no entanto, dias após a Revolução dos Cravos, a sentença foi lida e Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa acabaram por ser absolvidas. «Mais tarde, as escritoras acabaram por ser reconhecidas em Portugal, mas, nessa altura, foram julgadas», reconhece Regina Marques.
Durante o regime ditatorial de António de Oliveira Salazar, as poucas mulheres que podiam votar eram as viúvas, porque eram as chefes de família, ou tinham bens patrimoniais. De acordo com a Pordata, em 1960, 39 % dos indivíduos do sexo feminino eram analfabetos, ainda assim, segundo o Decreto-Lei nº 2015, de 28 de Maio de 1946, art. 1º, in Diário do Governo, 1ª série, os homens analfabetos (26.6 %) podiam votar e as mulheres analfabetas, não. Regina recorda esses tempos: «Houve opressão a todos os níveis, de não as quererem a participar, a falar, a reclamar, no entanto, temos de reconhecer que houve luta e protesto para que tal fosse transformado.»


«Temos o caso da Carolina Beatriz Ângelo que aproveitou a lacuna na lei para poder votar na recém-nascida República», começa por contar Carla. À data da Revolução do 5 de Outubro, Carolina Beatriz Ângelo era viúva e, quando aconteceram as primeiras eleições, encontrou forma de utilizar a lei para votar. À data, o código eleitoral atribuía o direito de voto a «todos os portugueses maiores de vinte e um anos, residentes em território nacional», que sabiam «ler e escrever» e eram «chefes de família.» De facto, Carolina Beatriz era chefe de família e foi votar. «Toda a gente dizia que não podia votar, mas foi e conseguiu. No ano seguinte, alteraram a lei, dizendo que as mulheres não podiam votar», acrescenta a jurista. «É muito importante que as mulheres se reconheçam através de exemplos de outras mulheres, caso contrário, isto não muda.»
De acordo com Dália Costa, o facto de os mais jovens já terem nascido em igualdade, muitas vezes «leva-os a considerar que a igualdade já faz parte da nossa vida em sociedade», tomando a liberdade que foi conquistada, com muito esforço, «como um dado adquirido». Para a professora, todas as conquistas têm de ser cuidadas, tal «como uma flor que temos de regar, se não murcha, e, efetivamente, de vez em quando vemos essa flor da igualdade a esmorecer». É por esse motivo que afirma que são as organizações feministas que têm de colocar o tema na agenda política e «obrigar, do ponto de vista político, a dizer que não está tudo bem».
A falta de respostas na investigação científica
Tornar o masculino normativo remonta, pelo menos, à Grécia Antiga, em que, segundo a lógica aristotélica, «a fêmea é um macho mutilado». O feminino era o masculino «com o exterior virado para dentro», dizia Aristóteles. Atualmente, os médicos já não se referem às mulheres como homens mutilados, mas «a representação do corpo masculino como o corpo humano persiste», escreve Caroline Criado Perez.
O défice informacional de género está, desta forma, patente na área de investigação médica onde os dados sobre o corpo da mulher são quase inexistentes. Segundo os estudos encontrados pela autora, os corpos femininos são «demasiado complexos, demasiado variáveis, demasiado dispendiosos para serem testados. A integração de sexo e género na investigação científica é vista como um ‘fardo’», daí a referida exclusão das mulheres em ensaios clínicos e, consequentemente, a falta de dados.
Por exemplo, a tensão pré-menstrual (TPM) é o período que precede a menstruação. Durante esse período, há um conjunto de sintomas que pode incluir flutuações de humor, ansiedade, dores de cabeça, problemas de sono, entre outros. Afeta ainda cerca de 90 % das mulheres, mas é cronicamente pouco estudada. «Uma ronda à investigação disponível registou cinco vezes mais estudos sobre disfunção erétil do que sobre TPM», revela Criado Perez, no seu livro publicado em 2019. Como resultado, existe um leque de tratamentos para a disfunção erétil, mas, para resolver o problema que afeta a maioria das mulheres, já não se pode dizer o mesmo. Além do mais, apesar das óbvias diferenças entre os sexos, um estudo publicado em 2020 no Biology of Sex Differences, pela Universidade de Chicago e pela UC Berkeley, determinou que «as mulheres apresentam reações adversas a medicamentos (RAM) quase duas vezes mais que os homens, mas o papel do sexo como fator biológico nas RAM é pouco compreendido.» Desta forma, o artigo admite que «a maioria dos medicamentos atualmente em uso foi aprovada com base em ensaios clínicos realizados em homens, de modo que as mulheres podem sofrer de sobredosagem.»
Face a estes resultados, Regina evidencia que «a medicina, em geral, tem esse comportamento, de olhar para o doente como se fosse assexuado. Dizem que a mulher é muito emotiva, pois claro, isso tem que ver com a anatomia da mulher que é diferente da do homem». No mesmo seguimento, Dália Costa defende que existem diferenças biogenéticas que estão relacionadas com a ancestralidade geográfica e é preciso ter isso em atenção. Assim, «do ponto de vista bioquímico e biofisiológico, a população europeia não é, certamente, igual à população chinesa».
Em 2021, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) alertou para a principal causa de morte das portuguesas: doenças cardiovasculares. Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que essa mesma doença provoca a morte a um terço das mulheres em todo o mundo, o equivalente a 8,5 milhões de óbitos por ano. A explicação encontra-se no facto de esses ataques cardíacos passarem despercebidos pelos médicos. «Quando uma mulher entra no hospital cheia de dores de cabeça e palpitações, o primeiro pensamento dos médicos é de que a mulher teve um ataque de ansiedade», diz Carla Pereira. Segundo as estatísticas, as mulheres têm 50 % mais de probabilidades de terem um diagnóstico errado a seguir a um ataque cardíaco, isto porque as mulheres podem até nem apresentar o clássico sintoma de «dor no peito», mas sim dores de estômago, falta de ar, náusea ou fadiga.
Deste modo, «os corpos, os sintomas e as doenças que afetam metade da população mundial estão a ser desvalorizados, desacreditados e ignorados», expõe a autora do livro Mulheres Invisíveis. Estas causas resultam de um défice de informação extremamente perigoso para a população. No entanto, capas de livros como A Anatomia Humana, ainda estão adornadas com homens com a musculatura bem definida. A medicina vai muito além do corpo médio de um homem e é urgente perceber que «somos todos e todas iguais no plano dos direitos humanos, mas há toda uma especificidade e pluralidade que temos de começar a atender, sob pena de começar a agravar a desigualdade», alerta a investigadora Dália Costa.
O colmatar do défice
A concretização da pluralidade ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente o caminho da aceitação, mas o défice informacional de género existe, e não pode ser esquecido.
«Aquilo que acontece é que a falta de dados está a montante, e nós, muitas vezes, andamos a descobrir o fenómeno das desigualdades de género já a jusante. Acabamos por acentuar mais o conceito de diferenças de género e desvalorizar o conceito do défice informacional de género. Refletimos pouco acerca desta falha.»
Dália Costa, investigadora no ISCSP
A solução encontrada para colmatar o défice informacional de género tem de partir de vários pontos. Por um lado, este esforço «não pode vir só do lado feminino», isto porque «a vantagem de não haver défice informacional não serve só às mulheres, mas serve a sociedade inteira», acredita Dália Costa. «Faz sentido pensar que, do ponto de vista de quem detém o poder, este está confortável com essa situação, mas quando, por exemplo, se diz que os homens são agressores, isto provoca um desconforto e mobiliza os indivíduos do sexo masculino», argumenta.
O papel que Patrícia, tal como Carla, exerce enquanto ativista do Por Todas Nós, fá-la acreditar que a mudança social e cultural é sempre mais lenta do que a mudança legal. «Nós até somos um país com muitas leis, não são é aplicadas», destaca Patrícia, levando Carla a intervir. «Não pode haver discriminação nas entrevistas, não podem perguntar se estou grávida, se sou casada ou solteira, mas continuam a fazê-lo. Não são as leis que vão mudar isso», acredita.


Ainda assim, Carla acredita que a legislação é importante e «muitas vezes é propulsora nas alterações que a sociedade tem de ter», mas a solução está na base da educação escolar, «na visibilidade da invisibilidade». Numa coisa o consenso, entre as entrevistadas, existe: as políticas públicas têm um papel inigualável e a legislação tem uma função crucial no combate ao défice informacional de género, mas «tem também de passar pelo ativismo e questões de ações de rua», acrescenta Patrícia.
«A crítica feminista ajuda muito na mudança, até na lei é considerada. Hoje em dia, quando um juiz toma determinada linguagem contra as mulheres ou denegrindo as mulheres, há um conjunto de pessoas que diz que não pode ser e que protestam. As leis devem funcionar com base nisso, naquilo que a sociedade democrática diz»
Regina Marques, membro do MDM
A professora e investigadora argumenta que tem de ser a sociedade a defender os direitos das mulheres, das crianças, dos indivíduos transsexuais no acesso ao mercado de trabalho, dos indivíduos vítimas de violência sexual, sejam eles do sexo masculino ou do sexo feminino. «O grande perigo é pensarmos que têm de ser as mulheres a reivindicar os seus próprios direitos e vamos afastando cada vez mais os indivíduos do sexo masculino. E eles não estão numa situação confortável, já perceberam que há perdas para os próprios e para a sociedade em geral.»