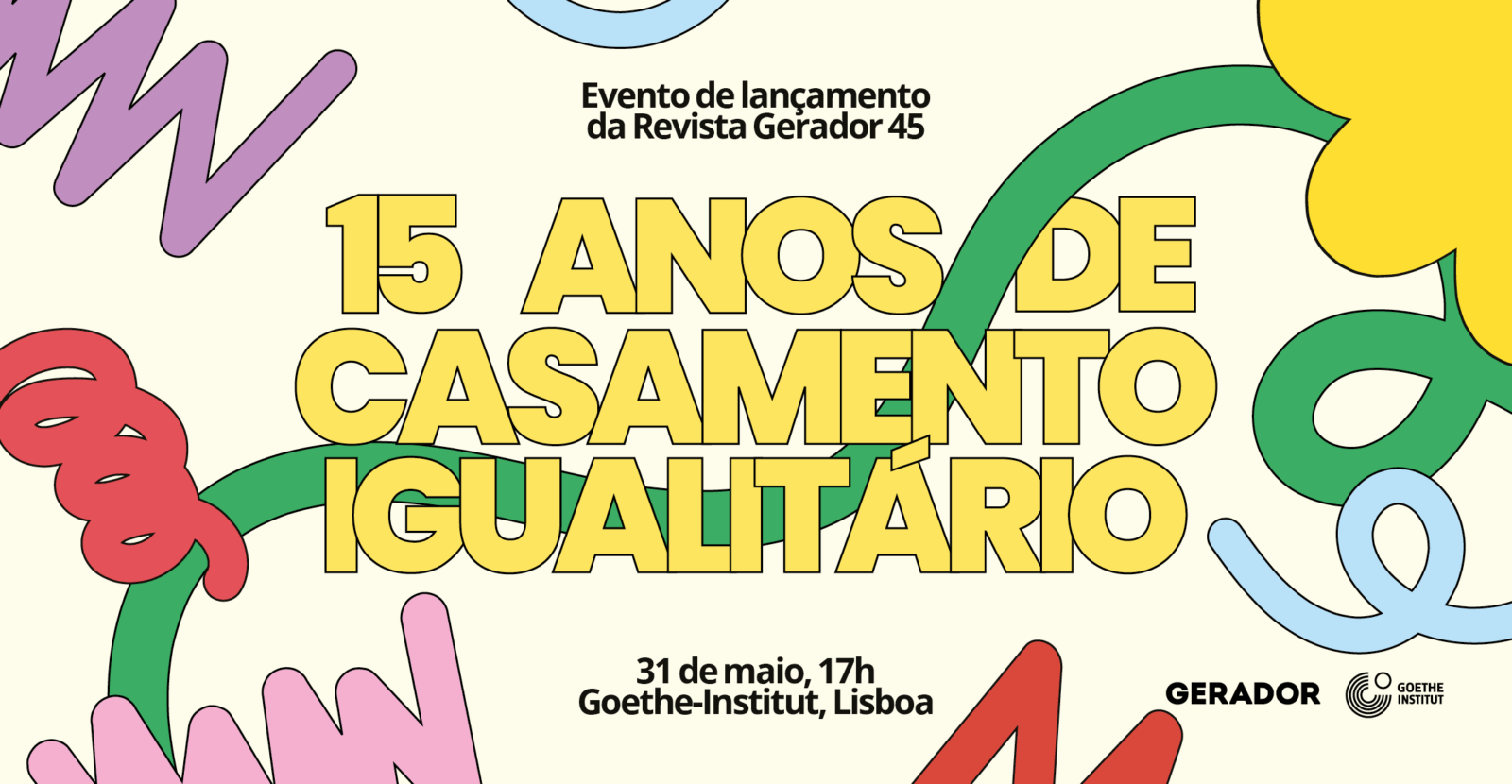O meu pai conta que quando era pequena e ele tinha acabado de ser operado ao pulso me carregava (a mim e ao carrinho de bebé) todos os dias pelas escadas de uma ponte ferroviária para que eu chegasse à creche.
Por mais difícil que esta tarefa fosse, o meu pai tê-la feito pouco me surpreende — já me habituei às suas grandezas —, e até ficaria mais surpreendida se a história contasse que ele tinha deixado de usar as mãos; pois, para mim, todo ele é mãos.
Se me perguntarem sobre o que falamos não saberei dizer-vos; não há nenhum tópico geral ou preciso que associe ao meu pai ou sequer acho que essa seja a forma como nos relacionamos. Diria que não comunicamos com palavras e que até seria estranho comunicarmos com palavras porque há uma constante tranquilidade nele que é a tranquilidade dos que lêem e eu não desejo (ou sei como) perturbá-la.
No ensaio Sobre On Reading de André Kertész a filósofa Maria Filomena Molder debruça-se sobre um livro com “sessenta e três fotografias dedicadas à leitura”. Nele, faz duas observações que associo à forma de ser do meu pai: (1) partindo da evidência de que nas fotografias todos “aqueles que lêem nascem à luz do dia” conclui que a ligação entre a leitura e a morte deve-se “à posição do corpo e à pacificação dos seus ritmos inerentes, como estando indo para uma viagem que anuncia a derradeira e a redime sempre, sempre”, (2) associa a aprendizagem da leitura à infância afirmando que “por isso mesmo parecem os velhos que lêem tão perto de regressar a um ponto onde toda a infância se acolhe, e os adultos tomados pela leitura deixam transparecer, intocáveis, todos os indícios desse lugar recôndito, oculto em tantas outras ocasiões”.
Se no meu pai, no seu andar concentrado e silencioso, vive a imaginação — a morte, a infância, esse lugar de passagem — vive, também, com a mesma força, o cuidado pelo presente e o turbilhão e energia nele impresso. Diria até que o meu pai existe nestes dois mundos sem os conseguir diferenciar, sendo sempre os dois ao mesmo tempo. Talvez por isso seja artista e talvez por isso nos ame de forma tão absoluta.
Aqueles que eu amo estão sempre sujeitos a escrutínio público pois tudo o que escrevo escrevo sobre eles, nem saberia fazê-lo de outra forma (falta-me a criatividade, ou melhor, a vontade de criar outros).
Sobre o meu pai escrevo muito sem o referir, pois a sua vida sempre me pareceu ser muito privada, e agora percebo que é muito privada porque parte dela ocorre num lugar tão pessoal quanto o inconsciente, como se falar dele fosse falar dos seus sonhos. Ou então, para não cair nessa exposição, recorrendo ao seu lado palpável, falar do meu pai é falar do que ele cria, das suas mãos; mãos essas que tenho tendência para imaginar serem (sobre a minha vida) a mão invisível de Stuart Mill, acompanhando-me constantemente, fazendo parte do backstage — do invisível — que me permite funcionar. Mais difícil do que ser mãe, por vezes penso que é difícil ser pai e fazer das suas mãos mãos estáveis, carinhosas, que cuidam, e recusar fazer delas mãos que impõem, que continuam a tradição patriarcal em que foram ensinadas.
Assim, diria que eu e o meu pai nos relacionamos através dos gestos, trazendo para a nossa relação o instrumento (o corpo) que nos transporta entre o real e o irreal, o espiritual e o físico, e influenciamo-nos desta forma. É ele que me faz querer trazer a escrita para o mundo material, ser capaz de a agarrar e moldar com as minhas mãos, e se algum dia me tornar uma grande escritora foi porque é a escrever que eu o compreendo e me aproximo dele.
Parabéns.