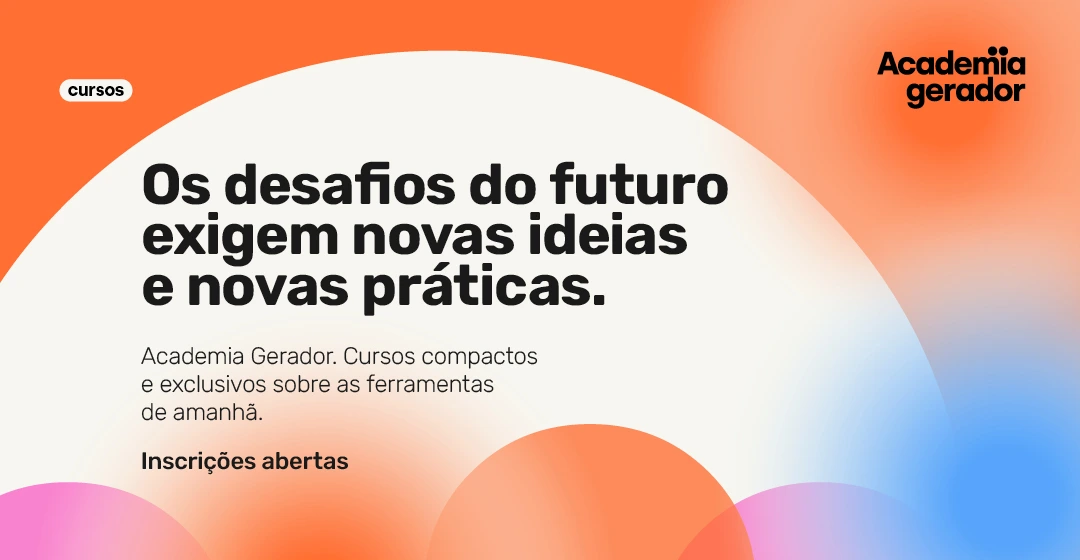Eu tinha vinte e dois anos quando, pela primeira vez, uma mulher me pediu ajuda para abortar clandestinamente. Chamo-lhe mulher, talvez inadequadamente: era mais menina do que eu, que o era tanto, mas carregava nos ombros o peso de uma responsabilidade que reservamos aos adultos. Aos vinte e cinco, segurei no colo a filha de quatro anos de uma companheira enquanto esperávamos que o serviço de urgência da Maternidade Alfredo da Costa cumprisse aquilo que a lei 16/2007 previa: o direito, inalienável e gratuito, à interrupção voluntária da gravidez, por vontade da mulher, até às 10 semanas de gestação.
Todas e todos o dizem: foi tão dura a luta que travamos, tão difícil a vitória do “Sim”, tantas as concessões que fizemos. Não julgo de ânimo leve as batalhas travadas pelas companheiras que vieram antes de mim, nem disponho da ingenuidade de quem não conhece a profundidade do ódio às mulheres. Hoje, em 2007, como em 1998, a mulher-criminosa é quem ousa acreditar - quem dirá defender! - que do seu corpo tem pertença.
Do lado de lá da barricada está o patriarcado, cuja pedra fundacional assenta na apropriação da nossa capacidade reprodutiva. O aborto, tal como a pílula, os demais métodos contracetivos, serviços de planeamento familiar ou, no plano mais alargado, o acesso universal e gratuito à saúde sexual e reprodutiva, são ameaças titânicas ao controlo do qual o sistema depende para se alimentar e sobreviver. O projeto político baseado na violação e na gravidez forçada de mulheres e raparigas, em particular no contexto do processo colonizador europeu, permitiu a produção em massa de mão-de-obra para as fábricas, para os latifúndios, para as fazendas e as senzalas, enriquecendo os homens e as nações do centro do império, na base da escravidão laboral e sexual das mulheres. É esse o produto mais cobiçado, do qual depende toda a cadeia produtiva: a criação de novos escravos, de mais jovens trabalhadores para alimentar a reserva infinita dos oprimidos. A acumulação do capital, a geração do PIB, a concentração da riqueza e a edificação do mundo moderno resultam, assim, da exploração do homem pelo dono da indústria e da menina pelo homem.
Ora, manter as mulheres na ignorância, acorrentadas ao lar e ao trabalho doméstico, quietinhas e caladinhas como se quer a boa esposa do regime, a pacata menina de família e até, como viríamos a ver, a moderada deputada democrata, é o mais lucrativo dos negócios.
Comecei por dizer que me é custoso dirigir julgamento sobre as mulheres que me antecederam. Ainda assim, hoje, poucos são aqueles que não reconhecem as falhas profundas na formulação e implementação da lei de despenalização do aborto de 2007. A campanha pró-escolha, readaptada depois da derrota do primeiro referendo de 1998, se foi certamente o resultado de um esforço colossal e bem-sucedido naquele que era o seu objetivo fundamental, a mudança jurídica, foi também tímida, moderada e vitimizante, ao invés de reivindicativa. Dos seus discursos, argumentos e materiais de campanha foi omitido qualquer posicionamento ideológico feminista, qualquer referência à autodeterminação sexual, ao controlo reprodutivo e ao direito à decisão de cada mulher sobre o rumo da sua vida. Não falamos de legalização, mas sim de despenalização. Não exigimos a liberdade, pedimos, serenas como nos querem, qualquer coisa como dez semanas. Mais do que uma bandeira do movimento de libertação das mulheres, centrada na opressão sistémica de que a nossa existência é sujeita, a discussão pública foi higienizada, reescrita, renomeada: transfigurou-se uma matéria de saúde pública, como ficou conhecida até hoje, sobre ego nacional e a modernização do Estado Português que, pobre coitado!, está tão atrasado face aos seus parceiros europeus. Bem mais do que um direito das mulheres, o aborto foi edificado como um tema de saúde e de justiça: não importa tanto o direito à escolha, importa evitar a prisão (justiça) e a morte (saúde). Parece-me, hoje mais do que nunca, que esta concessão custou de nós – e do movimento – mais do que poderíamos pagar.
Sabemos, bem demais, que as dez semanas são manifestamente insuficientes. Foi no trabalho de organização política que conheci largas dezenas de mulheres, que na sua diversidade contam uma história de esqueleto comum: a lei não lhes serve, quer tenham tido a sorte de descobrir a gravidez em tempo útil (e nada mais é do que uma questão de sorte quando a maioria das mulheres descobre que está grávida entre as seis e as oito semanas de gestação), ou não. Verificamos que são aquelas de nós que sofrem mais agudizadamente com a pobreza e a marginalidade, cujas vidas são marcadas por percursos migratórios, e sobretudo mulheres jovens indocumentadas, para quem viajar até Espanha ou qualquer outro país da União Europeia lhes é inconcebível, que estão sujeitas às mais atrozes violências quando procuram aceder à IVG através do Serviço Nacional de Saúde. Serviço que, bem sabemos, é incapaz de dar resposta: tantas são as mulheres reencaminhadas para os privados, quase sempre na zona metropolitana de Lisboa, obrigadas a viajar largos quilómetros com dinheiro que não têm, sem rede de apoio, assustadas e sozinhas.
O atendimento do serviço de urgências da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, informou uma jovem brasileira de 20 anos, desempregada, em Portugal há menos de três meses, mãe de uma menina de quatro anos que trazia no colo por não ter ninguém com quem a deixar, que teria de pagar cerca de cem euros pelo procedimento, mesmo antes de ter sido sequer observada por qualquer profissional de saúde no local. Disse-o na base do despacho nr.º 25 360/2001 do Ministério da Saúde, de 16 de novembro, que determina que aos cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização de residência devem ser cobradas as despesas efetuadas; mas disse-o sobretudo na base da fragilidade, desconhecimento, juventude e nacionalidade da mulher à sua frente. A lei que tão cruelmente nomeou tem exceções claras e bem documentadas: entre elas, cuidados de saúde urgentes e vitais, cidadãos em situação de exclusão social ou em situação de carência económica e, particularmente importante, cuidados no âmbito da saúde materno-infantil e saúde reprodutiva, nomeadamente acesso a consultas de planeamento familiar e interrupção voluntária da gravidez.
Esta imposição de barreiras, formais ou do dia-a-dia das instituições, não acontece por acaso: a forma como a lei de 2007 foi intencionalmente redigida abre espaço para abusos de toda a ordem. O período de reflexão obrigatório, que descreve um prazo temporal mínimo, mas não um prazo máximo, permite à burocracia hospitalar adiar a marcação do procedimento da IVG tempo suficiente para que este não mais possa ser realizado, quer na base do preconceito e estigma de um qualquer funcionário, quer pelas limitações inerentes a décadas de desinvestimento crónico no SNS. Um limite temporal tão curto quanto as dez semanas significa que qualquer atraso burocrático tem implicações catastróficas na vida das mulheres, mesmo aquelas que, milagrosamente, descobriram a gravidez e acederam à primeira consulta em tempo útil. Isto é particularmente difícil para quem vive fora das grandes áreas urbanas de Porto e Lisboa – a não aplicação do aborto medicamentoso nos centros de saúde, como os movimentos feministas têm vindo há décadas a reivindicar, limita a sua realização aos hospitais, onde não se verifica o cumprimento de, pelo menos, um/a profissional de saúde por unidade hospitalar apto a realizar a IVG em todas as instituições. Aliado a tudo isto, a objeção de consciência implica que regiões inteiras de Portugal continental e ilhas não disponham deste serviço, naquilo que pode ser apenas descrito como uma manifesta barreira ao direito ao aborto na base do pedaço de terra onde cada uma de nós nasceu ou reside.
Aceder à IVG em Portugal é, portanto, análogo a ganhar a lotaria. Fazê-lo em condições dignas e humanas, no entanto, parece ser todo um outro desafio. Mais de metade das mulheres com quem privei, daquelas que efetivamente acederam ao procedimento pela via legal, relataram toda a espécie de abusos verbais por parte de profissionais de saúde. Desde a acusação de assassinato, ao argumento de que a dor que sentiam era uma punição merecida e que, portanto, não lhes seria administrado qualquer medicamento analgésico, à mais flagrante xenofobia e misoginia, todas, sem exceção, referiram o profundo sentimento de solidão como o mais doloroso de todos. O aborto parece ser, para a opinião pública e para a Esquerda, uma discussão fechada. As vitórias foram cantadas, fez-se a festa, atiraram-se os foguetes e apanharam-se as canas. E, longe do hemiciclo, onde a luz não chega, a minha companheira, imigrante, brasileira, mãe de uma menina de quatro anos, foi obrigada a abortar clandestinamente, senão sozinha, apenas pelo apoio de outras mulheres.
Agora, como antes, é a organização coletiva e comunitária de mulheres, mais ou menos formal, que dá resposta onde a lei nos falha. A resistência tem, como sempre teve, rosto de mulher: são elas as clandestinas, as invisíveis, que a comunicação social, a DGS e os seus relatórios trimestrais dizem não existir, que abortam em segredo, entre sussurros e gemidos abafados, nas novas e velhas caves, mais ou menos jovens, entre panos manchados de sangue, tanques de água e receitas antigas, que mais se assemelham a feitiços.
A luta pela extensão do prazo legal de acesso à Interrupção Voluntária da Gravidez em Portugal é urgente e inescapável. Os mecanismos da história não andam para trás e as nossas companheiras na América Latina têm vindo a marcar o passo para todas nós. Assim, neste Abril relembramos um outro Abril e a promessa que ficou por cumprir. As mulheres não esquecem e, como as ruas sobre as quais marcham e protestam, tendem a abrir caminho umas para as outras.
Escrito em homenagem às 17 mulheres julgadas pelo Tribunal da Maia, 2001/2002.
- Sobre Diana Pinto -
Diana Pinto é historiadora (FLUP, 2019) e mestranda em Políticas Públicas (Iscte-IUL), com especial interesse na área da habitação social e política urbana. É técnica de projetos na Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, coordenação em Portugal do Lobby Europeu das Mulheres e a maior organização da sociedade civil portuguesa na área dos direitos humanos das mulheres e das raparigas. É dirigente associativa e intransigente militante feminista materialista.