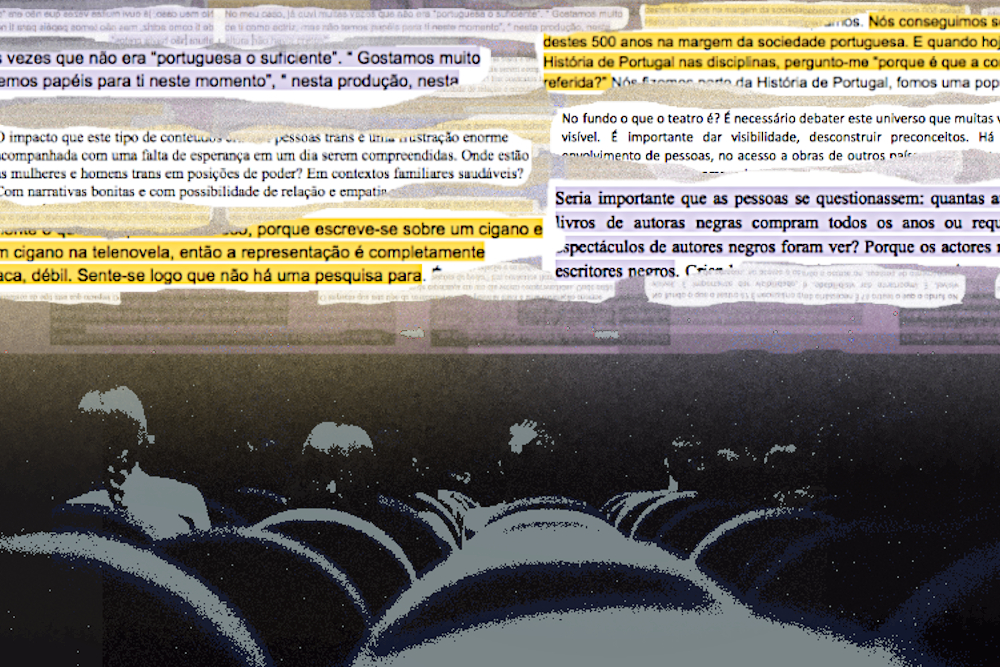“O meio artístico é muito preconceituoso, também. O racismo também é estrutural na cultura, e eu sinto isso logo por aquilo que é a ideia do que é a pessoa cigana. Ainda há um tabu e uma dúvida gigante sobre o que é ser cigano. Porque, na realidade, quem é que são os ciganos na cultura portuguesa?”, questiona Vicente Gil, estudante de representação na Escola Superior de Teatro e Cinema e ativista, numa videochamada que combinámos para conversar sobre representação e representatividade no setor cultural, em Portugal.
Ao longo dos últimos dois meses, a questão da representatividade na cultura foi sendo tema de partilhas mais pessoais, como aconteceu com Ciomara Morais na sua conta do Instagram, e de reportagens, como a recentemente publicada no Público, “Se ser ator em Portugal já é difícil, ser ator e negro…”. Mas a questão não é de agora. A representação estereotipada de pessoas latinas, asiáticas, negras e LGBTQI+ já foi alvo de estudos, que tocam sobretudo na sua perpetuação no cinema de Hollywood, mas acontece em Portugal e levanta outra questão que lhe está naturalmente associada: a narrativa centrada na etnia, na identidade de género ou na descendência.
Vicente, um dos protagonistas do mais recente filme de Leonor Teles, Cães que Ladram aos Pássaros, partilha a reação da família a uma telenovela portuguesa que tinha no centro da sua história uma família cigana, na qual havia “a representação do cigano velho, vestido de preto, sentado na eira com a família toda à volta, a viver nas barracas no meio do nada”: “eu, como cigano, assim como a minha família, sentimo-nos atacados; é um ataque termos de ser representados daquela forma sistematicamente.”
O cigano a viver em barracas e cristalizado no tempo, a mulher negra empregada de limpeza, a mulher trans trabalhadora do sexo e com constantes alterações de humor, o homem negro motorista, são algumas das narrativas recorrentes que chegam aos ecrãs tanto de quem as vê - e não se reconhece - , como de quem não se relaciona com elas e as pode adquirir como sendo a verdade maioritária entre as muitas verdades. “É raro uma pessoa trans ter uma narrativa que se estende para além de ser trans, e existe uma recorrência em retratar estas pessoas como sendo trabalhadoras sexuais, infelizes, sempre disfóricas e alvo de grande violência física — o que não é, de todo, sempre verdade. Ao perpetuarmos este tipo de narrativa e contexto, não criamos possibilidades para que pessoas trans se possam rever em cenários mais positivos nem damos espaço para que pessoas cis compreendam e pensem mais além deste tipo de conjunção”, dizem Ary Zara Pinto e Isaac dos Santos, os criadores do projeto T Guys Cuddle Too, um canal no YouTube dado a conhecer no ano passado com o intuito de “combater o preconceito e estereótipos associados a pessoas LGBTQI+”.
Da perpetuação do estereótipo à ausência total de representação, o facto de não se encontrar alguém semelhante deixa marcas, desde cedo — quem o diz é a atriz Rita Cruz. “Sinto que tem de se contextualizar a presença de um ator negro. Não pode ser só a Joana. A juíza, a médica. Tem de ser moçambicana, ou angolana, ou empregada, ou de um bairro social, ou escrava”, partilha. “Já ouvi muitas vezes que não era ‘portuguesa o suficiente’. ‘Gostamos muito de ti como atriz, mas não temos papéis para ti, neste momento’, ‘nesta produção, nesta altura não havia pretos’, ou ‘tu não és suficientemente escura para fazeres este papel, porque vamos falar de racismo, e o facto de não seres tão escura não vai criar impacto no público’.”
Rita Cruz nas leituras fora de cena em que lê excertos de Memórias da Plantação, de Grada Kilomba, intercalando-os com intervenções suas.
O mesmo se passou com Maria Gil, atriz e ativista cigana: “houve uma pessoa (estou a falar de pessoas de companhias) que me disse que quando tivesse um trabalho com ciganos, especificamente com ciganos, pensaria em chamar-me. Tenho características físicas e capacidades muito próximas dos portugueses. Um ator que seja cigano não é visto como um trabalhador qualquer. Associam sempre uma ideia estereotipada de trabalho.”
E pensar em representatividade implica também pensar nas referências que já se tem. Sobre este aspecto, Rita acrescenta que tem poucas referências da sua infância e adolescência, “de desenhos animados com crianças ou super heróis negros, bem como atores em séries e filmes”. “Nem falo da ficção portuguesa…”, prossegue.
O que tem sido feito para combater os estereótipos e a discriminação?
Félix Neto, no estudo “Atitudes em relação à diversidade cultural: implicações psicopedagógicas” (2007), defende que existem “dois padrões de atitude necessários para que todos os grupos culturais possam encontrar as vias para conviverem conjuntamente numa sociedade multicultural: a ideologia multicultural e a tolerância étnica”. A primeira “refere-se à avaliação global do grupo maioritário em relação ao grau em que possui atitudes positivas face aos imigrantes e à diversidade cultural”. A segunda prende-se com a proposta de se encontrar “apoio para que os grupos etnoculturais mantenham e partilhem as suas culturas com as outras pessoas”. No Manual de curso de lidar com a diversidade cultural e promover a igualdade e valorizar a diferença (2014), lemos que as formas mais comuns de preconceito são as sociais, raciais e sexuais e que o mesmo “faz parte do domínio da crença por ter uma base irracional, não do conhecimento que é fundamentado no argumento ou no raciocínio”. Já a noção de estereótipo engloba noções como a do “racismo, xenofobia e intolerância religiosa”.
Olhando para este panorama, a 21 de maio de 2018 foi publicada a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação – Portugal + Igual (ENIND) em Resolução do Conselho de Ministros nº61/2018. Esta estratégia preocupa-se, fundamentalmente, com a eliminação dos estereótipos assente em três planos de ação com medidas concretas que se previam aplicar até 2021, numa ação que se estipulou continuar até 2030: “Plano de ação para a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH); o Plano de ação para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD) e o Plano de ação para o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais (PAOIEC)”.
“Os estereótipos de género estão na origem das discriminações em razão do sexo diretas e indiretas que impedem a igualdade substantiva entre mulheres e homens, reforçando e perpetuando modelos de discriminação históricos e estruturais. Reflexo da natureza multidimensional da desvantagem, os estereótipos na base da discriminação em razão do sexo cruzam com estereótipos na base de outros fatores de discriminação, como a origem racial e étnica, a nacionalidade, a idade, a deficiência e a religião. Também assim, o cruzamento verifica-se com a discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais, assente em estereótipos e práticas homofóbicas, bifóbicas, transfóbicas e interfóbicas, e que se manifesta em formas de violência, exclusão social e marginalização, tais como o discurso de ódio, a privação da liberdade de associação e de expressão, o desrespeito pela vida privada e familiar, a discriminação no mercado de trabalho, acesso a bens e serviços, saúde, educação e desporto”, pode ler-se no texto de apresentação da Resolução.
No Relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), publicado a 2 de outubro de 2018, Portugal foi saudado pela entrada em vigor da Lei nº 93/2017 que estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Com a entrada em vigor desta lei, o Relatório Anual 2018 “Igualdade e não discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem” aponta um “aumento da apresentação de queixas” na ordem dos 93,3%. “Estes números mostram-nos a importância da aposta na prevenção, dando a conhecer as políticas públicas ao dispor, nas diversas ações de sensibilização encetadas, fundamentais para combater o under reporting. Mas evidenciam igualmente que é ainda desconhecida a real dimensão da discriminação racial ou étnica, impondo-se continuar um caminho apenas iniciado”, expõe.
Representatividade e representação junto dos públicos: um retrato em mutação
“As vozes, anteriormente silenciadas, criam de momento o seu próprio lugar. Embora, por vezes, sejam obrigadas a jogar temporariamente o jogo da normatividade, do privilégio e do amicismo, não se deixam moldar por ela, sabem que a mudança acontece também do lado de dentro”: as palavras de Gisela Casimiro, artista e escritora, podiam muito bem servir de porta de entrada para uma discussão que se quer mais ampla e vasta. Uma discussão que se molda a diversas vozes, sob diferentes perfis, recontada pelas diferentes narrativas.
A disseminação de uma narrativa dominante está, na verdade, na origem desta problemática, mas também na origem de um confronto de ideias sobre a mesma. A multiplicação de vozes que constroem uma análise mais heterogénea, mais crítica - deixando de lado uma visão normativa da História -, é uma tendência crescente. Mas é preciso ir mais atrás para analisarmos este retrato em mutação.
Quando em 1975, a socióloga britânica Laura Mulvey publica o ensaio Visual Pleasure and Narrative Cinema, analisando, de forma crítica, a objetificação do corpo feminino no cinema clássico americano, iniciava (ainda sem o saber) um debate que ao longo dos anos se iria estender a outras áreas, a diferentes preocupações. Ainda de forma embrionária, a cultura visual de um determinado padrão ocidental era posta em causa, numa altura em que se estava somente na ponta do icebergue.
Em Portugal, esse icebergue conduz-nos, hoje, a uma discussão sobre representatividade, que consequentemente levanta questões de acessibilidade e identificação de certas comunidades. As vozes que as compõem sublinham a falta de acessos a certos setores da sociedade, nomeadamente o da cultura, dando lugar ao perpetuar de retratos estereotipados. A situação é descrita pela atriz Rita Cruz :“Há poucas pessoas representadas em vários setores culturais, sociais e políticos. A nível cultural, por exemplo, são sempre poucos e parece que são uns ‘sortudos’. Hoje, já vejo uma apresentadora, uma jornalista, três radialistas negros, mas não chegam às dezenas sequer. Estamos no ano 2020”.
Para o antropólogo e ativista LGBT, Miguel Vale de Almeida, o problema da representatividade espelhado por Rita, centra-se na continuação de uma narrativa patriarcal do homem e cultura branca. Embora reconheça o esforço por parte das instituições privadas em serem cada vez mais inclusivas, Miguel não vê da mesma forma o trabalho conduzido por instituições do Estado, a esse respeito.
“Se falássemos do Estado como uma pessoa que detém um conjunto de museus e outras estruturas, esse indivíduo não inclui uma visão crítica da história portuguesa ou da diversidade da nossa sociedade. Tem uma visão da história, da cultura e da identidade baseada numa personagem fictícia que será a do homem branco heterossexual. É o olhar hegemónico que vem de toda uma historia de análise marcadamente masculina, heterossexual e branca”, assevera.
A extensão desta problemática, leva a uma outra relacionada não apenas com o olhar hegemónico, mas que é, em simultâneo, indiferente às restantes visões. “É uma questão de herança cultural e de privilégio. Para eles, não é uma preocupação. A verdade é que nem sequer se gerou discussão à volta disso. Quem herda o privilégio não tem grande vontade de abrir mão dele”, explica Maria Gil, que dá a história do teatro como exemplo: “é uma construção política que ao longo dos séculos foi alterada e transformada para algo elitista, para a classe de elite. Portanto, houve uma deturpação do que é o verdadeiro teatro. Obviamente que, sendo transformado por quem tem privilégio branco, se tornou impedimento para as pessoas racializadas e artistas racializados, que se viam condicionados”.
É nesse sentido que ter um filho a estudar teatro, para si, “enquanto portuguesa racializada, tem uma leitura muito importante”, porque “é visto como uma vitória ter alguém a formar-se numa área em que até agora não aconteceu” — por vocação, “não para fazer a impressão de que é o primeiro ou o único ou o último, o “ciganinho de estimação” no teatro”. O filho, Vicente Gil, loiro e de olhos azuis, partilha que muitas das vezes as suas origens passam despercebidas, porque “não parece cigano”, e que as suas experiências de racismo surgiram no momento em que as assumiu. “É um dever meu, enquanto cigano e enquanto elemento da cultura portuguesa, assumir a minha cultura. Nós não somos ciganos e os brancos são portugueses. Somos portugueses que somos ciganos”, diz ao Gerador. E é no assumir das origens, usando as práticas artísticas comunitárias como meio, que pretende traçar o seu futuro que já parece promissor.
Quem fala? Sobre quem?
Ser tomado/a como sujeito é ocupar o lugar de fala. Uma vez que a cultura é inseparável das outras dimensões da sociedade, nela se revêem estruturas, que a usam como veículo de reforço e de perpetuação. As classes privilegiadas, sejam de que ordem forem, são as ocupantes dos espaços e, muitas vezes, quando pretendem presentificar outras, na verdade, não são as outras que se fazem presentes, mas elas próprias. Desta forma, a abordagem desencarnada, na terceira pessoa, não reclama a justa representatividade da diversidade. Na verdade, é um falso alguém, alguém que não está.
A tentativa de criar uma imagem do/a outro/a, enquanto ficção despreocupada com a sua própria legitimidade, é apontada por Vicente Gil. No que diz respeito à representação de pessoas de etnia cigana, considera que o problema passa, em grande parte, pela ausência de pesquisa, que, no sentido justo e profundo do termo, implica a aproximação às comunidades. “É uma realidade que não é ocidental, e querem à força representar, mas não há uma pesquisa nem uma procura para tentar procurar a fala, a maneira de estar, os costumes, a vivência, a habitação. E não contactam ciganos para representar esses papéis, o que também é uma questão muito complicada. Se há ciganos que, como eu, por exemplo, estudam para ser atores, porque é que não falam para ciganos para os introduzir nestes projetos? Nem que seja para os introduzir na parte da pesquisa para ser uma representação sincera e justa, acima de tudo.”
Este modus operandi gera uma falta de identificação, decorrente da [falta] de lugar, bem como do preconceito, uma vez que não permite um encontro. A forma como se tem olhado a necessidade de desfazer a segregação tem sido, muitas vezes, superficial, o que não corresponde ao reconhecimento deste problema nem a uma necessidade de lhe responder verdadeiramente. Maria, mãe de Vicente, refere que “colocar pequenas amostras das pessoas racializadas e das suas culturas ou tradições, não é mobilidade para estar naquele lugar que nos pertence, que é a cultura portuguesa. Não é uma cedência. Não encontro profissionalizados nas artes. Nunca houve uma perspetiva, do ponto de vista das comunidades ciganas, de como algo que lhes pertencia, que lhes fosse atingível. Por isso, é que existe uma cultura paralela que se chama ‘cultura cigana’ que é muito direcionada para a música. Ou seja, tem uma expressão musical para um núcleo muito fechado.” A ativista gostaria de criar um projeto com atores ciganos e atrizes ciganas, o qual teria a possibilidade de integrar uma dimensão formativa. Porém, não os conseguiu encontrar. Refere que conhece um ex-ator cigano, mas que este nunca assumiu a sua identidade étnica, porque, em Portugal, fazê-lo, é “um risco muito grande”. Mesmo na nova profissão, encontra-se em “clandestinidade étnica”.
No que diz respeito à comunidade LGBTQI+, Miguel Vale de Almeida reflete no lugar em que colocamos os outros e as outras, antes de os/as conhecermos. “Muitas vezes, nas relações entre nós, não partimos nunca do princípio de que a pessoa possa ser gay ou lésbica; pelo contrário, partimos sempre do princípio de que é heterossexual. Isso nota-se na linguagem, na forma como nos dirigimos às pessoas, como se não houvessem pessoas gays ou lésbicas.”
Em dados referentes a Portugal no “EU LGBTI survey II - A long way to go for LGBTI equality” (2019), promovido pela European Union Agency for fundamental rights (FRA), começamos por ler que uma mulher de 25 anos, bissexual, afirma não se sentir muito discriminada por ser LGBTI, porque raramente tem uma relação afetiva de forma pública com outra mulher e não revela a sua orientação sexual. “As pessoas simplesmente assumem que sou heterosexual e eu não o contesto. Só partilho a verdade com pessoas chegadas”, afirma. O mesmo estudo mostra ainda que apenas 36% das pessoas estão abertas ao ser-se LGBTI em Portugal, 20% sente-se discriminada no trabalho e 40% sentiu-se discriminada em alguma área da sua vida diária como uma ida a um café, restaurante, hospital ou loja. Outro dos dados que se destaca é o de que uma em cada cinco pessoas trans ou intersexuais foram física ou sexualmente agredidas nos cinco anos precedentes ao estudo, o dobro do valor que se verificou no seio de outros grupos LGBTI. Numa nota mais positiva, os dados indicam que 68% sentem que o preconceito e intolerância diminuiu em Portugal nos últimos cinco anos (relembre-se que o estudo foi publicado em 2019), contra 8% que afirmam o contrário. No ambiente escolar, verificou-se que 60% dos alunos LGBTI entre os 15 e 18 anos dizem que encontraram alguém na escola que defendia os seus direitos enquanto pessoa LGBTI.
O caso da integração dos Refugiados
Virando a atenção para as pessoas refugiadas em Portugal, uma notícia d’O Jornal Económico de novembro de 2019 revela que Portugal recebeu 2144 refugiados durante quatro anos, cuja proveniência assentava fundamentalmente na Síria, Iraque e Eritreia. No que diz respeito à perceção dos portugueses em relação à presença dos refugiados, dados do European Survey, divulgados em 2019, indicam que os portugueses apresentam tolerância em relação aos imigrantes e refugiados, ainda que sentindo desconfiança em relação à sua situação.
No que concerne às questões culturais, a maioria considera que a presença destas pessoas contribui para o enriquecimento cultural do nosso país, no entanto a opinião divide-se no que diz respeito a Portugal se ter tornado num melhor ou pior lugar para se viver com a chegada de pessoas estrangeiras. Atente-se ainda que cerca de 50% dos refugiados acolhidos já terão abandonado o país, uma estatística que encontra relação com a falta de oportunidades adequadas dadas a estas pessoas no seu processo de reintegração, quer ao nível de questões de habitação e profissionais, quer de unificação familiar.
“Porque não contamos as histórias que partilhamos na sala de aula?”, propôs, em 2004, Isabel Galvão, professora de língua portuguesa, do Conselho Português para os Refugiados. Nasceu o grupo de teatro amador RefugiActo, cujo desejo, com seus encontros ao fim de semana, era, simplesmente, encontrar-se e ser encontrado. “É algo que foi sentido como uma necessidade, porque também não têm redes sociais. Não tinham e continuam a não ter. As pessoas, quando estão num novo país e têm de aprender uma nova língua, sentem-se muito sozinhas. O teatro tem um aspeto de desenvolvimento pessoal e social. Nós queremos sempre contar histórias. As pessoas querem realmente ser o eco de outras vozes que estão caladas, que não podem falar”, conta Isabel. De forma “trágico-cómica”, o grupo começou por explorar temas relacionados com a sua vida, enquanto pessoas refugiadas, em Portugal, os mal-entendidos, a dificuldade com a língua, em arrendar casa, o mau acolhimento de algumas instituições, os obstáculos no processo de legalização, por exemplo. Contudo, nestes textos coletivos, “muito tem sempre que ver com a liberdade.”
O Conselho Português para os Refugiados acolhe pessoas vindas de mais de cinquenta países. Este facto abriu a imagem que muitos portugueses têm desta realidade, construída por alguns meios de comunicação social, cujas câmeras se viraram apenas, num determinado momento, para a crise na Síria, ignorando que “os refugiados vêm de muitos pontos do mundo. Pontos de que ninguém fala, que não são falados.” As apresentações das peças permitem, ainda, uma aproximação de narrativas com rosto, reforçada pela conversa que, a seguir a estas, é promovida, na qual o público coloca questões aos atores. Esse momento é uma oportunidade para desconstruir preconceitos. Isabel recorda uma situação em que uma pessoa, ao ser questionada por um elemento da plateia, falou na sua língua materna. Fê-lo enquanto exercício, para que este último experimentasse, por dois minutos, o seu quotidiano.
Contudo, a pluralidade das vozes também é um desafio para o próprio grupo, pois está permanentemente a ser chamado a “olhar noutra perspetiva, que vem do outro lado do mundo.” Podemos dizer que a intervenção é centrípeta e centrífuga. Na medida em que os seus elementos vêm de contextos muito diversos, há aspectos que não são bem acolhidos e que, na relação, têm o caminho para sê-lo.
Para além do diálogo de primeira e segunda pessoas entre o público e os atores e entre estes últimos, há que considerar a presença junto das entidades culturais, que, muitas vezes, limitam o espaço de atuação, a partir da sua própria condição. “Chamam-nos para eventos que são de diálogo intercultural e multicultural, estes chavões, mas, depois, só estão grupos que são, de alguma maneira, ‘marginalizados’. Não há uma mistura, um cruzamento. E isso é que é importante porque, se estão todos os marginalizados juntos, a sociedade portuguesa não está, não se cruza. Sinto que há uma mudança, pequena, mas há. Estes eventos são muito bem intencionados, muitas vezes. Não ponho em causa a intenção. Mas são muito fechados na sua divulgação.” Isabel também nota um fechamento, por parte de alguns profissionais desta área. “Quem tem formação teatral, grupos de atores, muitas vezes, olham com alguma sobranceria para grupos e pessoas sem essas qualificações. Por outras vezes, não, é ao contrário, porque percebem que aquilo que se diz, que se sente, tem um peso. Pode não ter qualidade de excelência em termos artísticos, mas há uma força.”
Sónia Matos, vice-presidente e co-fundadora da Associação para o Desenvolvimento de Mulheres Ciganas Portuguesas (AMUCIP), sente a mesma falta de cuidado nos convites que vai recebendo para fazer parte de determinados eventos: “Eu costumo dizer que a cultura cigana é mais uma cultura portuguesa, porque se nós olharmos para a cultura do norte temos determinadas características, se olharmos para a alentejana temos outras completamente diferentes, e se olharmos para as ilhas ainda mais diferente é. Portanto, todos nós temos as nossas características. E quando me convidam para ir a encontros com imigrantes, eu tenho vontade de chorar.”
No trabalho que tem desenvolvido enquanto mediadora cultural, Sónia vai encontrando na arte a ponte entre a cultura cigana e a “dita cultura portuguesa”. Seja através de oficinas de dança em escolas, que servem de motivação para que crianças ciganas queiram continuar a estudar, ou de um grupo a desenvolver trabalho artístico na Oficina de Arte Manuel Cargaleiro, no Seixal. “Nas formações, a mulher cigana só serve para limpeza ou para costura, não lecionam outros cursos, e eu sou contra isso, portanto fiz um desafio às mulheres da associação. Eu digo sempre que as comunidades ciganas nascem com arte, a arte é intrínseca dentro delas. E quando lhes perguntei ‘o que é que vocês achavam de um projeto de arte?’, estas mulheres disseram-me que adoravam”, partilha sobre o momento em que propôs a parceria com a Oficina.
Os entrevistados e as entrevistadas reconhecem que há uma força que se vai fazendo sentir, num movimento de iluminação de cada lugar, contando-se para que não seja descontado. Gisela repara na coreografia das mulheres negras. “A mulher negra é precisamente a voz que mais se tem feito ouvir. Pilar da sociedade, alicerce invisibilizado, tem ressurgido em todas as áreas. Ela tem uma mente, uma voz, rosto, cabelo, corpo e todos eles são válidos e contam a sua história. Considerada durante muito tempo a última da cadeia social (depois do homem branco, da mulher branca e do homem negro), é agora a primeira a corrigir, rasgar, reformular os retratos que dela foram feitos. Muitos deles feitos, convenhamos, sem que ela sequer seja notada.” Há uma tensão desequilibrada, que faz com que a esperança e a confiança não se espraie nestes discursos, mas seja contida por tantas memórias e histórias que se reatualizam diariamente e em tantos corpos.
Estilhaçar preconceitos e tocar na ferida da normatividade
O esforço de instituições ligadas ao universo cultural, para darem espaço a uma programação mais ampla e com diferentes narrativas, tem sido notado ao longo dos últimos anos. Miguel Vale de Almeida sublinha que a atual tendência se deve aos “curadores, sejam eles permanentes ou convidados”, que “têm conseguido fazer algumas coisas mais críticas e para chocalharem o sistema”. O antropólogo dá o exemplo de certos ciclos relacionados com colonialismo, racismo ou feminismo, em que denota “uma influência grande dos estudos pós-coloniais e dos estudos de género”. “Há muitos artistas a produzir nessa área e isso acaba por penetrar, por exemplo, nos museus, galerias, entre outros espaços”, acrescenta.
Numa altura marcada por manifestações iconoclastas, regressa também um certo questionar e deslegitimar das narrativas historiográficas dominantes, extendendo o debate até à forma como certos conteúdos são apresentados no interior dos espaços escolares. A problemática, em última instância, volta a confrontar-se com um problema essencial: como é que se muda o sistema, se o mesmo é sub representado na sua diversidade?
Partindo de uma lógica de mediação cultural e educação de públicos, o Coletivo FACA, constituído por Maribel Mendes Sobreira e Andreia Coutinho, tem desenvolvido várias ações em museus e galerias. “O nosso trabalho é o de pensar e pôr a debate essas representações que se foram perpetuando ao longo do tempo, através da arte. Estamos melhor, se compararmos com épocas anteriores, mas parece-nos que ainda não se deu o salto para uma verdadeira representação, estamos sempre no campo da figura ideal, ou do oposto, caricatural. Veja-se, por exemplo, que um negro é estereotipado pela “beleza” ocidental; não vemos negros de nariz largo, lábios grossos. O mesmo se passa na representação das mulheres e pessoas não normativas”, explicam ao Gerador.
A analogia do corte, abre espaço para que outros elementos se deixem ver, formando-se novos centros e novas margens. “Pensamos acerca das temáticas do feminismo, colonialismo, racismo, LGBTQI+ e não-normatividade em geral. Todas estas questões têm a mesma raiz, um preconceito em relação àquilo que não é igual a nós, fazendo-nos sentir ameaçados, ramificando-se em temas considerados marginais”, explica. Além disso, o Coletivo defende que embora esta discussão já encontre narradores lá fora, precisa de ser trazida “para o debate cultural português contando com público especializado e não especializado”.
Em diferentes âmbitos, já existem outros projetos que em Portugal transportam essas mesmas temáticas para o centro do debate. Podemos falar do caso do Teatro Griot, formado por um grupo de atores negros que se propõem a explorar temáticas relevantes para a construção e problematização da Europa contemporânea; da editora Príncipe Discos, que tem dado espaço aos sons produzidos em bairros sociais e periféricos da capital - das duas margens do Tejo -, de Loures, Sintra, Sacavém, Corroios, e cuja identidade passa por África, com a inclusão de kuduro, kizomba e funaná; ou do projeto T Guys Cuddle Too, que alerta para os preconceitos e estereótipos que persistem relativamente às pessoas LGBTQI+.
Em entrevista ao Gerador, Ary e Issac explicam que o intuito é criar uma maior consciência sobre diferentes realidades, fornecendo informação que estabeleça essa relação de identificação: “recorremos muitas vezes a exemplos que, não tendo relação direta com o tema, criam uma ponte, tornando a nossa realidade menos distante e de fácil compreensão”. No setor da cultura, ambos observam avanços significativos para pessoas lésbicas, gays e bissexuais, mas que tal não se verifica ainda na integração de pessoas trans, queer e intersexo. “Estas três últimas, por norma, são chamadas para situações pontuais e com relação direta à sua identidade, o que reduz as suas possibilidades de percurso artístico”, sublinham.
Ao estilhaçarem preconceitos, desconstruirem dogmas, promovendo a inclusão de diferentes narrativas, são vários os projetos de hoje que, motivados pelo questionamento, tentam mudar a realidade mais intangível desta temática. A questão da representatividade pode ser trabalhada segundo diversos olhares, mas implica ir ao encontro de soluções, mais ou menos, pragmáticas.
Formas de pensar o futuro: algumas respostas que visam a diversidade
Miguel Vale de Almeida abre esta discussão afirmando que “nunca há uma escolha perfeita nestas coisas, são formas de nós tentarmos mudar a realidade, porque de outra forma ela não muda”. Para se pensar em soluções ou medidas que possam promover uma viragem do paradigma anteriormente exposto, será necessário começar por endereçar “um debate sério sobre as responsabilidades de Portugal na constituição histórica de outros países”, uma vez que “a não tomada de ação legitima a postura de algumas instituições”, sublinha o Coletivo FACA, que dá ainda o exemplo de outros países que assumiram publicamente a sua responsabilidade histórica ao contrário de Portugal, em que “ainda há pouco tempo estávamos a discutir se deveríamos ter um museu das descobertas”. Não obstante, o Coletivo reconhece o trabalho que algumas instituições têm vindo a desenvolver no sentido de direcionar a sua programação à luz destes temas, mas defende que “ainda não chegamos às práticas de museus europeus que contrariam a onda crescente de política de extrema direita.”
Uma das soluções mais faladas são as quotas de diversidade. Trata-se de uma medida de inclusão e/ou contratação de pessoas de uma etnia ou género em particular, com vista a promover uma maior diversidade nas oportunidades oferecidas, quer por empresas, quer por instituições de ensino. No entanto, a aplicação desta medida não tem sido consensual ao longo dos anos. Na base da sua contestação estão argumentos que questionam a genuinidade e nível de comprometimento/ longevidade da diversidade nos mais variados contextos.
A este respeito, o Coletivo FACA ilustra o problema das quotas recorrendo à música de Bia Ferreira, “Cota não é esmola”:
Sobre o tema das quotas, Miguel esclarece que estas sempre existiram embora não lhes fosse dado este nome, pois “determinadas identidades, masculinas ou heterossexuais, terem um privilégio muito grande e sobre representação é como se fosse uma quota”. Para se pensar neste modelo é necessário pensar em “variáveis conjuntas”, defende o antropólogo, dando o exemplo do Brasil, país em que quando se instituíram quotas raciais para o acesso à universidade, as mesmas contemplavam critérios socioeconómicos como o rendimento, “porque havia uma noção muito clara de que negros eram excluídos por serem negros, mas também porque coincidia com um nível de pobreza maior”.
Nesse sentido, o Coletivo FACA vai mais longe no seu questionamento: “podemos ter quotas, mas se o sistema de ensino e o social corta logo de início o acesso, como é que essas quotas podem ser preenchidas? Como ‘pessoas vistas como outras’, as questões das quotas são muito menos simples do que parecem - presumimos que todos têm as mesmas oportunidades de entrar no mercado de trabalho e de provarem o que são, à partida. Mas esquecemo-nos de que muitos jovens de meios mais periféricos, que numa grande parte das vezes também são jovens racializados, não chegam aos mesmos lugares no mercado por falta de acesso, não têm as mesmas oportunidades de base por falta de poder económico e, se não criarmos uma alavanca - seja ela uma quota ou outra coisa, para permitir a sua entrada nestes empregos e cargos, iremos perpetuar o problema”.
Outro dos critérios que deve ser tido em conta, de acordo com a perspetiva de Miguel, prende-se com a forma como são aplicadas as quotas. “Não se aplicam apenas definindo um número ou uma percentagem (de mulheres, por exemplo) para entrar numa determinada área de atividade, mas sim pela aplicação em função de pessoas com essas características que estejam em igualdade de circunstâncias com outras. Isto é, que tenham o chamado mérito. Não há quotas que se apliquem a questões de mérito absoluto. Essa é uma forma de fazer quotas como elas devem ser: perante dois candidatos que têm igual mérito, se eu precisar de aplicar uma quota, devo fazê-lo.”
Esta questão em torno do mérito é sensível no que diz respeito à aposta numa gestão por quotas. Um estudo conduzido pela Forbes, em 2014, revelou que a existência de um sistema de quotas assentes no género afastava tanto homens como mulheres da vontade de trabalhar nessas empresas. Este resultado estava ligado à crença de que “uma quota de género negava a importância do mérito”, refletindo-se numa tendência de 18% das mulheres inquiridas nesse estudo atribuírem o seu sucesso a um tratamento preferencial face ao seu género em detrimento do mérito próprio. A este respeito, Miguel destaca uma ideia contrária: “o que se verifica é que a introdução de quotas, curiosamente, acaba por aumentar os níveis de mérito, porque obriga a procurar mais pessoas, obriga a uma maior competição entre pares e obriga que aqueles que entravam sem mérito passem a ter que ter esse esforço.”
Segundo o estudo “Diversidade étnica e cultural na democracia portuguesa” de 2015, do Observatório das Migrações, “os interlocutores políticos entrevistados no âmbito do estudo foram quase sempre consensuais na caracterização dos seus partidos como sendo demasiado conservadores ou até mesmo fechados no que se refere à integração de maior diversidade (não apenas étnica e cultural, diga-se) nas suas fileiras.” Ademais, o estudo salienta ainda a problemática em torno da diferença entre etnia e perceções de migração, ou nas palavras das autoras, “a pertença étnica torna-se sinónimo de ‘diversidade’ e de ‘migrante’, mesmo quando a pessoa nunca teve senão nacionalidade portuguesa.” A este propósito, falam do caso do deputado Hélder Amaral (CDS-PP) que, ao vir de Angola, destaca maiores obstáculos em relação às “origens sociais” do que à cor da sua pele. Não obstante, o mesmo contou em entrevista que quando começou a aparecer publicamente ao lado de Paulo Portas, “as pessoas abordavam-no assumindo que ele era motorista de Portas ou o guarda-costas pessoal. Noutra passagem da sua entrevista, assinalou o facto de que muito poucas ‘pessoas de cor têm visibilidade pública’, o que prova o ‘racismo escondido da sociedade portuguesa’, apesar de considerar que ‘isto não tem de ser um obstáculo definitivo’.” O estudo espelha a cultura dos partidos políticos em Portugal que, tal como foi mencionado pelos entrevistados nesta reportagem, ainda carecem de representatividade, quer de imigrantes, quer de etnias - “Resulta deste estudo que os partidos são apresentados como muito fechados, muito distantes da realidade da maioria dos cidadãos, incluindo dos imigrantes, e demasiado conservadores, isto é, empenhados em manter o status quo das suas relações internas de poder.”
Perante este cenário, em março de 2019, a Associação de Afrodescendentes reivindicava “políticas de ação afirmativa” que englobavam a integração de quotas no acesso às universidades, assim como à função pública. No mesmo ano, em junho, vimos surgirem notícias de como o Partido Socialista punha a hipótese de vir a ter quotas étnico-raciais, uma medida que se revelou polémica.
Miguel aponta ainda um terceiro critério que pensa respeitar a diversidade na nossa sociedade: o critério de representatividade estatística. “Qual é a percentagem que nós julgamos que existe na nossa sociedade de pessoas gays e lésbicas… bom, anda entre os 5% e os 10%, então façamos isso. Qual é a percentagem de pessoas negras na sociedade portuguesa? Bom, não sabemos porque não temos categorias étnico-raciais nos nossos censos. Qual é a percentagem de homens e mulheres? Bom, por acaso é maior a de mulheres. Use-se isso com um critério que respeite a diversidade na nossa sociedade”, ilustra.
Maria Gil defende ainda que, antes de se falar de quotas, se deveria falar dos censos, seguindo o facto salientado na reflexão de Miguel Vale de Almeida. Em 2016, os coletivos de afrodescendentes em Portugal assinaram uma carta de denúncia à ONU em que frisavam que o estado português não incluía dados étnico-raciais nos Censos, que são importantes para se identificar a situação em que se encontram as mais variadas comunidades em Portugal, como são exemplo a comunidade negra, cigana ou mesmo os imigrantes, tal como apontou Beatriz Dias, ativista de movimentos afrodescentes, numa entrevista ao Expresso, em março de 2019. Na mesma linha de raciocínio, Maria Gil aponta a inexistência da “certeza do número de racializados, de ciganos, que existe em Portugal, não constando nos censos.” “Isso não promove a discussão, ou seja, os números mais próximos da realidade, das diferenças de exclusão que existem entre o português cigano e português branco. Depois de passarmos por isso, então podíamos perceber como trabalhar as quotas na academia, nas empresas e, falando das empresas, falamos da cultura”, acrescenta.
De acordo com o jornal Público, em 2019, uma sondagem elaborada pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica revelou que, numa população de 1906 inquiridos residentes em Portugal, 80% está a favor da introdução nos Censos de 2021 de uma pergunta sobre a origem étnico-racial dos inquiridos e que 84% avançaria com a resposta a tal pergunta. Foi também criado um grupo de trabalho pelo Governo com vista a refletir sobre a melhor forma de colocar esta questão, que se concluiu ser a favor da inclusão de uma resposta facultativa que visasse a questão da etnia. Nesta notícia, avançada também pelo Observador, surge ainda a indicação de que o grupo de trabalho sugeriu dividir a população portuguesa em quatro grandes subgrupos: branco, negro, asiático ou cigano. Ademais, a mesma sondagem indicava que 90% dos inquiridos tinha a perceção de que há discriminação em Portugal.
Nesse sentido, Miguel defende que essa recolha de dados deveria ocorrer seguindo perguntas de resposta aberta de maneira a que se pudesse perceber “a composição diversa da sociedade, as categorias usadas na sociedade para as pessoas se definirem, porque se pode ter surpresas”. Este princípio deveria ser aplicado, não só para as questões de nacionalidade, mas também de sexualidade ou até mesmo de género.
O sonho de “podermos ser aquilo que quisermos ser, e sermos respeitados por isso”
Tendo em conta que se trata de um problema estrutural, com uma raiz profunda e antiga, as possibilidades de resposta não são pontuais, nem cirúrgicas, e as acções de marketing de alguns agentes culturais, para se promover enquanto intervenientes sociais, apoiantes das causas minoritárias, só afundam e encobrem. Assim, a educação, que está sempre entre o presente e o futuro, tem uma enorme responsabilidade de desenterrar silêncios, que não são vazios e têm muito tempo para contar, para os escutar. Para isso, de se aproximar.
Depois, abrir espaço, o espaço de cada um(a). É no encontro que se dá a empatia. Um encontro não é um atropelo. A obra de Emmanuel Lévinas reflete precisamente sobre a transcendência que é o/a outro/a, que só é tomado como tal na minha impossibilidade. Isto significa que não pode ser dito. Ao ser dito, perde-se. “Há que não ignorar que existem pessoas. O que é Portugal e o que é a cultura Portuguesa?”, interroga Isabel Galvão.
E a sociedade só existe quando cada ser humano a habita, não como fantasma, mas como agente. “Há uma coisa que tem de ficar clara. A sociedade portuguesa é a nossa sociedade também. Nós somos portugueses ciganos. Temos é hábitos culturais diferentes, mas isso jamais nos deveria retirar do contexto cultural do país. Os lugares de cultura também deveriam ser nossa pertença. Não devia ser uma coisa fantástica ou diferente ver atores negros, ciganos, enfim todos os racializados, porque a cultura também é um espaço da nossa pertença,” partilha Maria Gil.
A educação continua a não dizer isso e é no início desta que se está mais preparado para desenvolver esta consciência e defender estes direitos, porque as crianças “ainda têm aquele espaço para não olharem para o outro de uma forma discriminatória. Sabemos que a sociedade vai acrescentando apectos que não são genuínos, não são nossos [seres humanos]. Infelizmente, em relação, ao outro acrescentam pela negativa”. “Nos manuais, há imagens e frases que são inadmissíveis”, comenta Isabel Galvão, que também é formadora na área da pedagogia.
Inseparável da educação, é a cultura. “É uma minoria tão pequena que não há registos da nossa História e da língua, praticamente. Não há um fechamento. Nós vamos às bibliotecas e não há livros sobre o que é ser cigano, é uma coisa muito rara.” Mustafa Abdulsattar, iraquiano, passou por diversos países, nomeadamente a Síria e a Turquia, para fugir à guerra e às terríveis condições de vida, na verdade, de uma vida sem condições. Da Grécia, veio para Portugal. Sabendo que a história deste país tem uma forte presença árabe, que permanece na língua e na arquitectura, por exemplo, lamenta que esta não seja reconhecida. Numa notícia da Universidade de Aveiro, intitulada “A propósito do Dia Mundial da Língua Árabe” e datada de 2018, podemos ler que “atualmente, o árabe é a língua oficial de 22 países cuja população ronda, aproximadamente, os 300 milhões”, “é considerada a 4.ª língua mais falada no mundo, a seguir ao mandarim, espanhol e inglês” e “ocupa o 2.º lugar, depois do inglês, na classificação das línguas faladas em maior número de países.” Devido aos movimentos migratórios, as comunidades falantes de árabe, vindas de regiões da África e da Ásia, estão, cada vez mais, presentes em Portugal. Embora nem todos os muçulmanos e as muçulmanas sejam provenientes de países cuja língua oficial seja esta, segundo dados do Público, relativos a 2015, calcula-se que haja mais de 50 mil muçulmanos, apesar do número não ser oficial. Ora, Mustafa diz-nos: “Nunca vi livros árabes, aqui. Nada. Mas, em Espanha há muitos, na França e na Bélgica também.” Está há cinco anos em Portugal e tem dificuldades no uso da língua. Por isso, a acessibilidade à cultura é reduzida e nem da sua pode usufruir. Até agora, foi três vezes ao teatro (uma peça do RefugiActo, outra na mesquita e no Festival Todos). Acrescenta: “Portugal não dá importância à arte árabe.” Gisela Casimiro convoca a reflexão sobre esta questão, a partir do caso dos negros e das negras. “Seria importante que as pessoas se questionassem: quantas autoras negras conhecem? Quantos livros de autoras negras compram todos os anos ou requisitam das bibliotecas? Quantos espectáculos de autores negros foram ver? Porque os atores negros são, também, muitas vezes, escritores negros.”
Para estas transformações, a arte, nas escolas, primeiro que tudo, não deve ser tomada como entretenimento, apenas, defende Isabel Galvão.
É neste sentido que Sónia, da AMUCIP, trabalha, e que após quase 20 anos de experiência em escolas, criou o kit pedagógico Romano Atmo (Alma Cigana), aprovado pelo Ministério da Educação. A partir do livro Contos Ciganos, de Diane Tong, começou a desenvolver o primeiro momento do kit, que “leva a cultura cigana para o centro da sala”: pequenas histórias que simplesmente incluem uma personagem cigana. “O professor tem sugestões de como pode trabalhar aquele conto, e são por exemplo as marés ou as profissões, nunca a comunidade cigana. Estamos a pedir para incluir um personagem cigano, que não só a do ladrão ou traficante que durante 20 anos esteve na Porto Editora. Eu quando abri aquilo na minha escola, na quarta classe, chorei. Porque eu era ladra, traficante, burlona, não tinha outra identificação. Esta era como a língua portuguesa me descrevia, a mim. E começamos logo por aí: como é que eu posso entrar numa escola que me vê assim quando tenho uma família alargada que me ama, quando somos todos unidos e nos apoiamos? É difícil sair daqui para saltar para ali, quando ali ninguém nos aceita.”
A História Cigana vive da oralidade, e é transmitida de geração em geração. Talvez por isso seja difícil encontrar livros sobre esta na Biblioteca, como menciona Vicente Gil, mas também por isso é importante recuperar elementos que se podem ir perdendo com o passar do tempo; para manter a Memória Viva. Na experiência de Romano Atmo em seis escolas do Seixal, as crianças não só tiveram contacto com contos ciganos, como aprenderam algumas palavras em romanon (língua cigana) através de conteúdos programáticos que já eram obrigatórios, como a Roda dos Alimentos. “A parte da língua romanon é a que os miúdos mais gostam. As crianças são esponja, e elas não têm preconceitos; os preconceitos estão nos adultos e são incutidos nas crianças. Não há cores, para eles; não existe isso”, diz Sónia com a esperança a transbordar o olhar.
O kit pedagógico criado por Sónia representa um lugar de encontro, tanto para crianças ciganas com a sua cultura, como para crianças não ciganas que têm contacto com algo que até então lhes era distante. A situação da educação nas comunidades ciganas é uma das maiores batalhas da AMUCIP, que trabalha desde o início no apoio a mulheres e crianças ciganas, e ao longo de 20 anos de existência já vê alguns avanços. O estudo nacional “Perfil Escolar das Comunidades Ciganas”, de 2018, pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência comprova-o com dados relativos aos alunos de comunidades ciganas matriculados no ano letivo de 2016/2017 em escolas públicas. O estudo aponta uma evolução positiva no que diz respeito à frequência do ensino secundário, embora verifique a permanência de problemas relativos ao insucesso e abandono escolar.
Ainda no o Relatório Anual 2018 “Igualdade e não discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem” aponta-se que “é premente continuar a apostar na educação, na formação e na sensibilização de todos os quadrantes da sociedade civil e dos agentes que integram as instituições, no que ao combate à discriminação racial e étnica diz respeito”, nas suas conclusões.
“Eu canto folclore, eu valorizo o fado, porque não tenho outra raiz. Eu sou tão portuguesa como todos os outros portugueses que aqui estão. Se a gente olhar bem, nós somos todos uma mistura. E Portugal é feito de misturas, nós temos uma história tremenda com a mistura de vários países. Eu acredito num sonho e num mundo em que todos temos os direitos iguais, em que podemos ser aquilo que quisermos ser e somos respeitados por isso”, partilha Sónia com o Gerador. Gisela Casimiro espera o mesmo para a comunidade negra: “Quando a comunidade negra ganha, toda a sociedade beneficia. Mas a nossa missão é dialogar, agir e transformar a partir de dentro. Ocupar lugares, ter melhores e novas conversas. Todos e todas são bem-vindos. A educação e o anti-racismo são um trabalho para sempre, um trabalho sério”. Acrescenta que “é preciso descentralizar a discussão e ir ao encontro das comunidades, ao lugar onde elas vivem, estudam e de onde saem todos os dias para fazer do centro o que ele é”.
Na videochamada que fizemos com Vicente Gil, este disse-nos, a certa altura, que “as pessoas mais conservadoras dizem que os ciganos não se introduzem porque não querem, mas não é verdade”, porque “o cigano quer-se introduzir, quer ter a oportunidade de receber ordenado, quer ter a oportunidade de fazer o ensino superior. Mas há que dar oportunidades”. “A segregação corta a possibilidade de nos desenvolvermos enquanto indivíduos, enquanto profissionais. Se não há a possibilidade de te desenvolveres nestes parâmetros, não há possibilidade de integração”, concluiu.