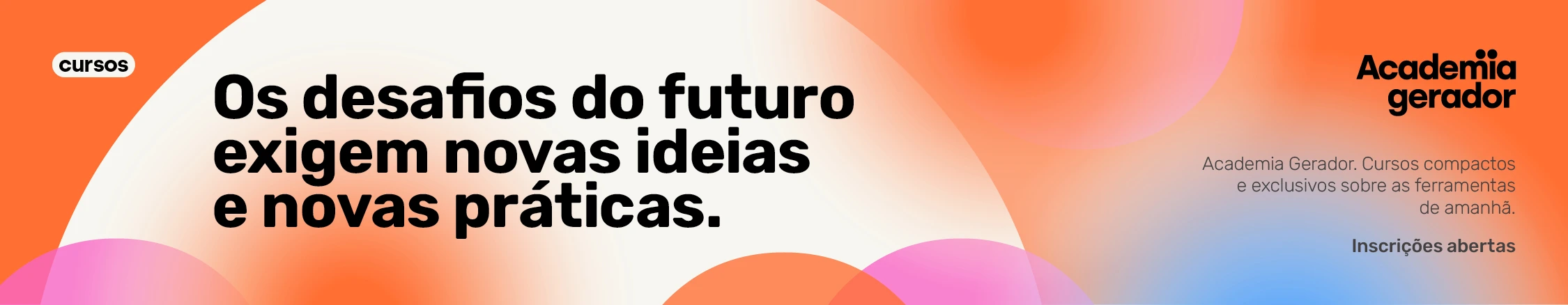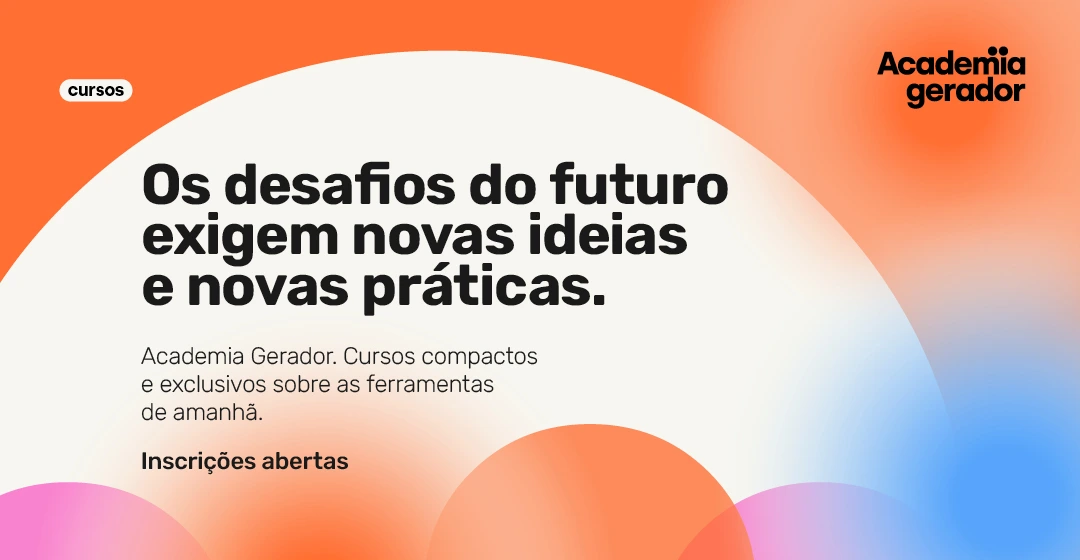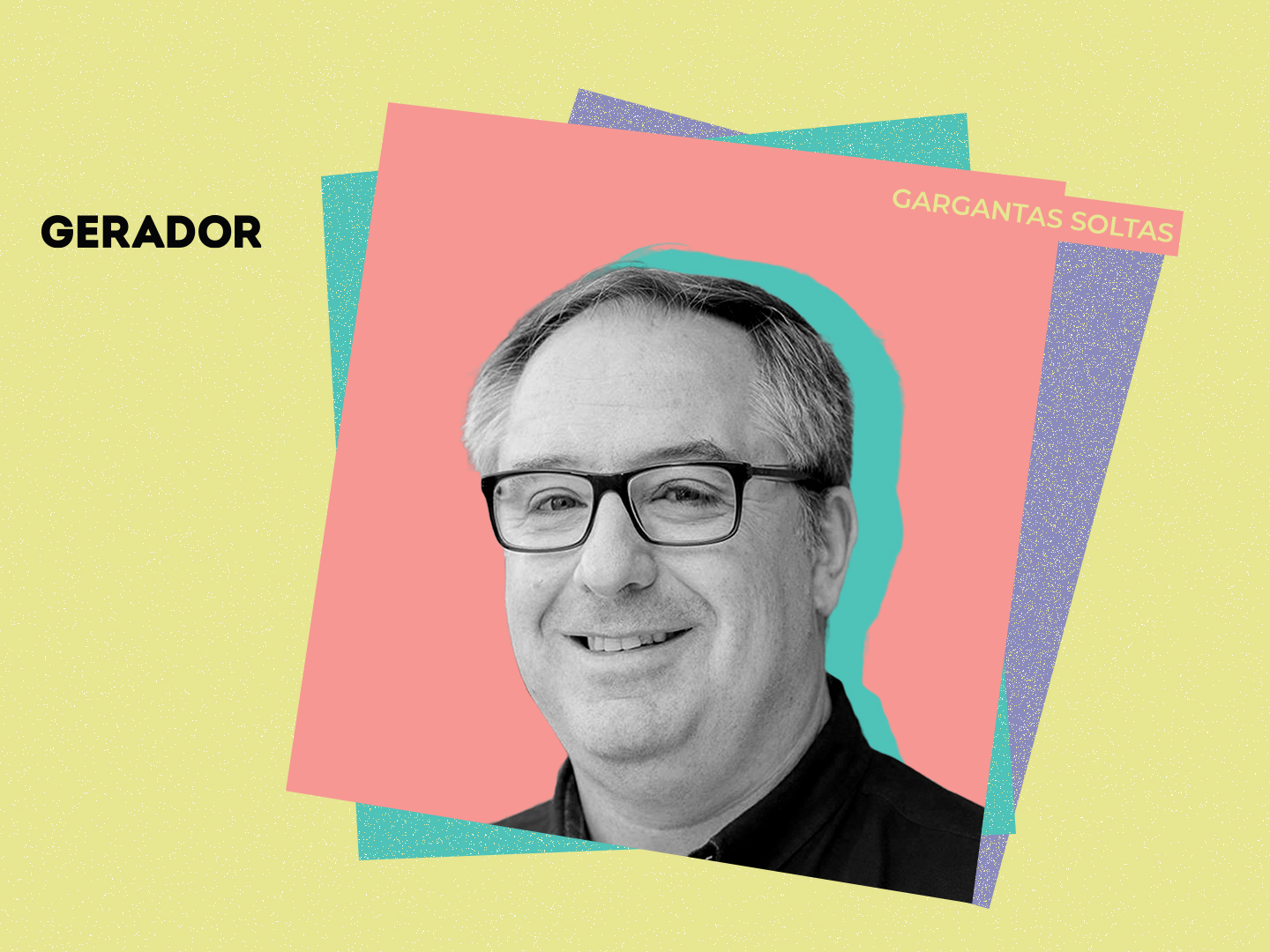Ontem, durante um concerto ao ar livre, assisti pela enésima vez à cena em que alguém tira um selfie e compõe a cara de modo a sorrir de tal modo que pareça a pessoa mais feliz do mundo. Tirada a foto, a careta desaparece e regressa ao mundo dos vivos (ou dos mortos?). Dilui-se o sorriso rasgado, até à próxima máscara.
Existe como que um novo imperativo categórico: sê feliz, sê positivo e exibe essas características o mais que possas, pois serão o indicador mais seguro de integração social e permitir-te-ão obter vantagens, já que ninguém quer saber dos tristes e negativos. Byung-Chul Han chama a este processo a optimização mental: o capitalismo, hoje, já não domina apenas o corpo, entra profundamente na psique, controlando-a, sem que as pessoas deem conta. Por isso, proliferam aquilo a que Michel Foucault chamou de tecnologias do eu: design emocional; inteligência emocional; coaching; gestão pessoal; filosofia positiva ou, até, uma sociologia positiva (não confundir com positivista)! Todos os bloqueios ou “disfunções” emocionais devem ser eliminados para não obstaculizar o processo de criação de valor. A pessoa tem de sentir-se livre, feliz e exportar permanentemente essa espectacularização da felicidade como uma mercadoria que se troca no mercado sensacionalista das emoções à flor da pele.
Ninguém aprecia, então, as pessoas recolhidas, silenciosas ou deprimidas. São como que um dedo apontado à fragilidade deste teatro. A velocidade fará o seu frenesim terapêutico: esquecer, deslizar de imagem em imagem, de afeto em afeto, de “gosto” em “gosto”, impedindo uma narração inteligível da experiência. Esta forma suprema de alienação – acumulamos experiências para delas nos desembaraçar o mais rapidamente possível, em forma de imagem ou fluxo – retira-nos o controlo da própria vida.
A vida zombie esquece a dor. Não a dor do marketing emocional, elogiada como desafio a “sair da zona de conforto” e a rentabilizar a performance. Mas a dor que imobiliza, que suspende, que retrai, que nos retira da velocidade e da circulação. A dor que nos obriga a fechar os olhos à estonteante mentira da nossa transformação em puro espetáculo de felicidade-para-os-outros-e-para-nós-mesmos-como-outros.
Assim sendo, sentir a dor emerge como ato de resistência. Descolonizar a mente pelo sofrimento, dar-lhe um sentido, perceber o passado do presente. Quem sabe esse é um passo para voltar a imaginar-nos vivos.
Para ler mais: Byung-Chul Han (2021), Psicopolítica. Barcelona: Herder
-Sobre João Teixeira Lopes-
Licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1992), é Mestre em ciências sociais pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (1995) com a Dissertação Tristes Escolas – Um Estudo sobre Práticas Culturais Estudantis no Espaço Escolar Urbano (Porto, Edições Afrontamento,1997). É também doutorado em Sociologia da Cultura e da Educação (1999) com a Dissertação (A Cidade e a Cultura – Um Estudo sobre Práticas Culturais Urbanas (Porto, Edições Afrontamento, 2000). Foi programador de Porto Capital Europeia da Cultura 2001, enquanto responsável pela área do envolvimento da população e membro da equipa inicial que redigiu o projeto de candidatura apresentado ao Conselho da Europa. Tem 23 livros publicados (sozinho ou em co-autoria) nos domínios da sociologia da cultura, cidade, juventude e educação, bem como museologia e estudos territoriais. Foi distinguido, a 29 de maio de 2014, com o galardão “Chevalier des Palmes Académiques” pelo Governo francês. Coordena, desde maio de 2020, o Instituto de Sociologia da Universidade do Porto.