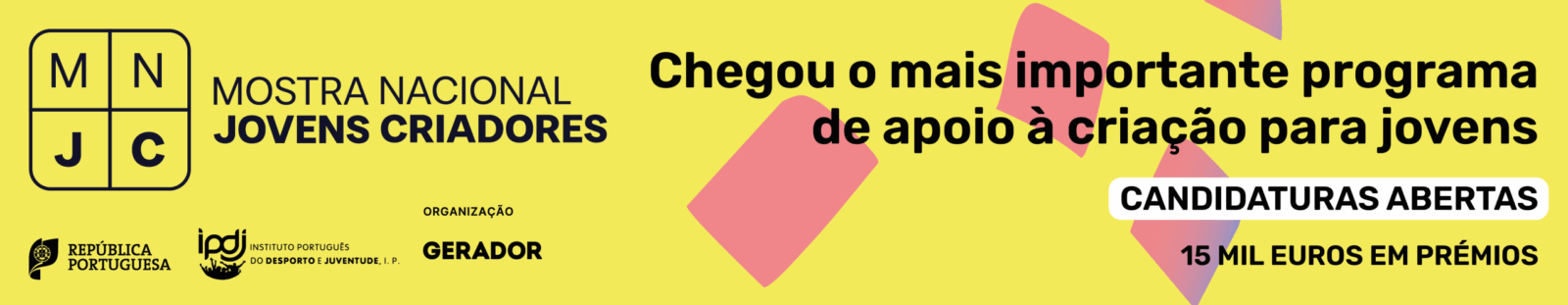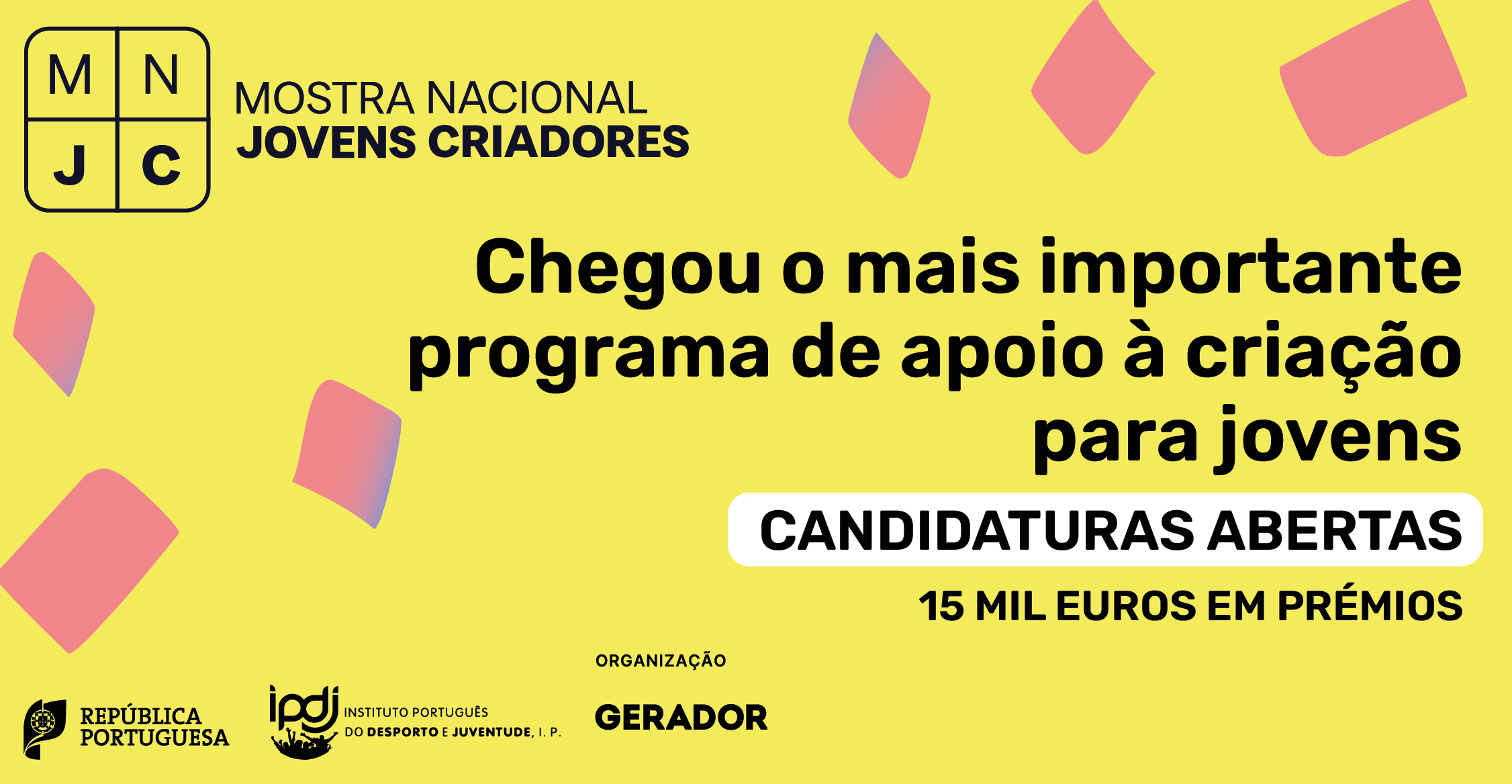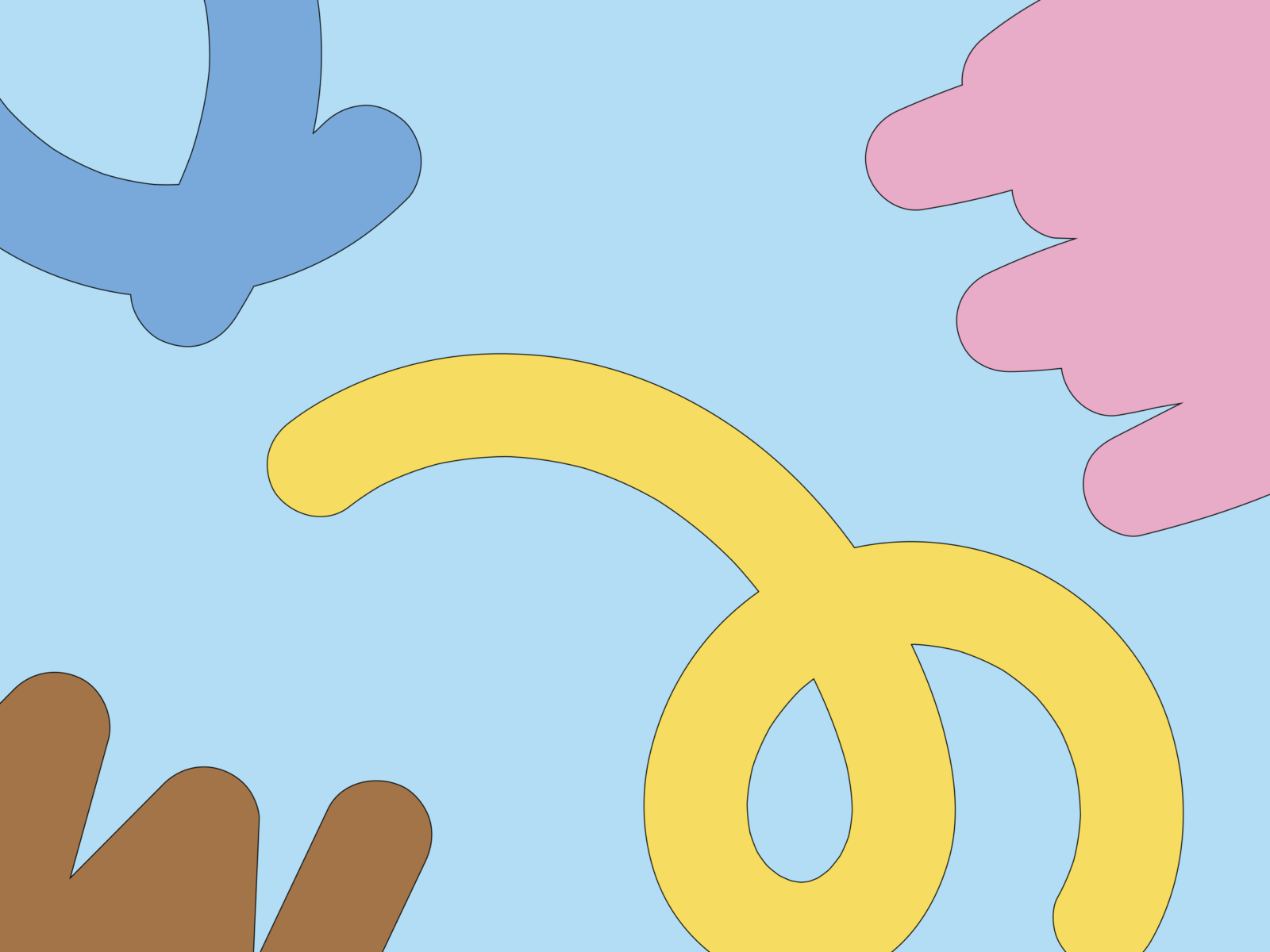A analogia é de fácil compreensão. Um quadro do famoso pintor holandês Rembrandt, por si só, é apenas um pedaço de tela, mas ao ser valorizado acaba também por bem tratado por quem o detém. Com a floresta passa-se o mesmo, defende o climatologista Carlos da Câmara. “No dia em que for valorizada, será bem tratada”, o que é urgente em Portugal, afirma.
Em entrevista por Zoom, o especialista, que também é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fala sobre as alterações climáticas, os incêndios e as medidas que se mostram necessárias para enfrentar os fenómenos (mais frequentes e intensos) que se antecipam.
Gerador (G.) – O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses afirmou que o país tem hoje um triângulo explosivo, quanto aos incêndios: seca, alterações climáticas e floresta por limpar. Como é que vê este triângulo?
Carlos da Câmara (C. C.) – Vejo de maneira um bocadinho diferente este triângulo explosivo. Quando analisamos eventos, como o fogo, há várias escalas espaciais e temporais. Posso estar a falar à escala de um incêndio, que tem uns quilómetros e dura, por exemplo, umas horas. Mas também posso falar de condições meteorológicas, que duram uma semana e afetam todo o Norte do país. E também posso falar de condições climáticas, que têm uma escala de 30 anos e afetam, por exemplo, o território inteiro. Todas estas escalas estão interligadas, mas todas elas têm uma análise ligeiramente diferente. Costumo dar o exemplo da lareira. O que é preciso para ter uma boa lareira? Boa madeira (bem seca), uma chaminé, que fume bem, e acendalhas e um fósforo. Se falhar um destes elementos, não há fogo para ninguém. Agora vamos transpor isto para um fogo rural. A lenha vai corresponder à vegetação, que pode estar stressada ou não [a nível hídrico], gerida ou não. Este ano, temos o pior [cenário] possível. Depois de uma seca, [a vegetação] está em ponto rebuçado para dar boas labaredas. A parte da chaminé corresponde à meteorologia. O terceiro elemento são as ignições e só uma pequeníssima percentagem destas tem que ver com fenómenos naturais. A maioria são de origem humana, por negligência, por exemplo. Depois, há ainda um outro triângulo. Nesse, temos o clima de Portugal, que vai ser responsável pela maior ou menor frequência de dias extremos, mas também a paisagem. Há 30 anos, o país era essencialmente rural, com agricultura, limpeza natural dos terrenos e descontinuidades, que evitavam a propagação do fogo. Isso tudo mudou. Houve, além disso, uma mudança na dinâmica de populações: houve uma migração fortíssima para o litoral e o interior ficou completamente despovoado ou está povoado por pessoas idosas, que continuam a utilizar práticas que já não se coadunam com as mudanças do clima e da vegetação. Então, porque é que temos os incêndios que temos em Portugal? Porque há um desequilíbrio nestes lados do triângulo. O clima evoluiu depressa demais, a paisagem mudou depressa demais, e a população não se adaptou a essas mudanças.
G. – Olhando para a seca em particular, o país está a caminhar para ter o ano mais seco de sempre. Está surpreendido?
C. C. – Há 30 anos que se vem dizendo a mesma coisa. Em outubro de 1981, organizou-se em Lisboa um encontro sobre a teoria do clima e esteve cá um dos prémios Nobel da Física, que mostrou os resultados de um modelo que tinha desenvolvido, que já diziam que nas nossas latitudes íamos ter secas e ondas de calor. Pergunta-me se isto [a atual seca] é novidade? Não. Ninguém ligou rigorosamente nada [às previsões feitas há 30 anos]. Temos de nos preparar porque o que vem aí será mais severo e com maior frequência.
G. – Andámos a ignorar os avisos nas últimas décadas, mas o que podemos fazer agora para mitigar os eventos futuros, uma vez que diz que serão ainda mais graves? Disse, recentemente, que temos de puxar pela imaginação.
C. C. – Portugal é um país que, do ponto de vista do clima, caracteriza-se por ter anos secos e anos húmidos, com o problema de que esses anos secos vão tornar-se cada vez mais severos. Quando temos uma grande variabilidade na quantidade de precipitação, só temos uma maneira de a reduzir: utilizar a política de formiga, que é armazenar nos anos em que há superavit para, depois, gastar nos anos em que há défice. É preciso uma política de administração da água, nomeadamente ao nível de armazenamento de barragens. As barragens são uma espécie de caudais do futuro. Sabemos também que há desperdício de água, uma vez que há perdas muito grandes no transporte dessa mesma água. Sabemos, além disso, que muitas vezes a água potável é utilizada para fins para os quais poderiam ser utilizadas águas pluviais. Depois, vamos ter, eventualmente, de repensar a paisagem de uma forma desprovida de emoção. A ideia de que há árvores bombeiras é um mito urbano. Ao nível dos pequenos incêndios, há uma diferenciação entre espécies, mas a grande distinção não está aí. Está no facto de a floresta ser gerida ou não. As florestas geridas praticamente não ardem. Temos de olhar com muita atenção para como podemos que a floresta seja bem gerida. Temos de valorizar a floresta. Se uma pessoa tem um [quadro de] Rembrandt em casa, é um bocado de papel, mas trata muito bem dele, porque é algo que é valorizado. É a mesma coisa. No dia em que a paisagem for valorizada, de certeza que será bem tratada. Vai ser preciso olhar para o problema pacientemente e, sobretudo, de uma forma não emotiva e, muito provavelmente, despolitizada.
G. – E que avaliação faz da ação que tem sido tomada, por exemplo, pelo Governo português em relação a estas questões?
C. C. – Não conheço. Aquilo que me preocupa são as alterações climáticas, tentar quantificá-las e colaborar com os colegas do Instituto Superior de Agronomia, a Proteção Civil e a Navigator. Nunca me preocupei – nem nunca fui convidado sequer para participar em nenhum fórum – em dizer se [as medidas] estão a ser bem implementadas ou não.
G. – Voltando aos incêndios. Tem sido dito que os incêndios deste ano são diferentes. Há risco de as alterações climáticas servirem de justificação e desculpa, esquecendo-se as falhas na limpeza das florestas?
C. C. – Praticamente, desapareceu das televisões e dos jornais a ideia de que a origem dos fogos tinha que ver com os madeireiros ou uma série de bodes expiatórios, que se arranjava de forma imediata. O que ficou muito bem identificado foi que, primeiro, se há grandes incêndios, isso tem que ver com as políticas de gestão florestal não terem tido ainda o sucesso que lhes era exigido. Em cinco anos, não se pode fazer uma reforma a esse nível. Na Espanha e na França, foi possível, mas, nesses países, o Estado é proprietário da maioria dos terrenos florestais, enquanto, em Portugal, é exatamente o contrário. Por outro lado, a onda de calor que tivemos foi prevista, e isso mostra que há uma evolução muito grande relativamente a 2017. Pela primeira vez, começa a querer-se fazer uma gestão integrada do fogo. Antes, a mentalidade era que o fogo é um inimigo que se combate. Hoje, o fogo, quando ocorre, mesmo que se vença, é considerado uma derrota, porque a derrota começou logo por ter havido o fogo. Aí as coisas mudaram e há que ser justos. Quanto às alterações climáticas, é muito importante perceber que elas estão aí e são uma condicionante que temos.
G. – Em relação às alterações climáticas e especificamente ao calor, a mortalidade, por exemplo, aumentou nas últimas semanas. Isso mostra que o país, em termos de infraestruturas, não está preparado para o que aí vem?
C. C. – Não estou totalmente de acordo. Temos um problema que é característico de todos os extremos meteorológicos. Um extremo, por definição, é uma coisa que ocorre raramente e, ao ocorrer raramente, as infraestruturas não estão preparadas. Olhe para o que aconteceu em Londres: arderam edifícios, morreram pessoas com excesso de calor, morreram pessoas afogadas, que quiseram nadar porque estavam com calor. Quando dizemos que há um aumento médio de temperatura de dois graus, a maior parte das pessoas pergunta o que importam dois graus. Quando se está a discutir se devemos limitar [o aquecimento global] não a dois graus, mas a grau e meio, dizem que os climatologistas devem estar a brincar ao discutirem meio grau. O problema não é esse. O que vai acontecer é que um acontecimento que ocorreria uma vez a cada 20 anos vai passar a ocorrer duas ou três vezes. E são esses eventos que provocam mortos e incêndios. O problema não é a média, são os extremos. Em termos de previsão, as coisas melhoraram imenso. O que é que não melhorou? As infraestruturas. Discordo da ideia de que houve um falhanço e de que as pessoas morrem porque as coisas estavam mal preparadas. As infraestruturas não estão preparadas para extremos. Nunca vi uma onda de calor como esta.
G. – Mas, perante os fenómenos deste ano, o país está agora preparado para o caso de se repetirem estas condições ou receia que falhe essa adaptação?
C. C. – É muito complicado, até porque nem sequer teremos os mesmos recursos económicos. No que respeita ao conhecimento técnico e científico, quer do ponto de vista da predictabilidade, quer dos impactos esperados, quer ao nível da mortalidade, quer da morbilidade, tem havido muita progressão.
G. – Quanto às alterações climáticas, que consequências já se notam mais claramente em Portugal?
C. C. – A seca é extremamente preocupante. Cinco anos seguidos de precipitação abaixo da média é algo inacreditável. O segundo ponto são as ondas de calor. Antes, tínhamos uma de quando em vez. Este ano, já tivemos duas e não sei se haverá três. Pior ainda é a conjunção da seca com uma onda de calor. Em 2003, houve uma onda de calor, mas não houve seca. Em 2005, houve seca, mas não houve uma onda de calor. Em 2017, houve seca e uma onda de calor e agora passou-se o mesmo. São os extremos compostos. Quando temos seca e uma onda de calor, o impacto da onda de calor é muito mais exacerbado. A vegetação que não esteja seca e o solo que não esteja seco consegue regular a sua temperatura, evaporando a água e absorvendo a energia. Se temos secas mais frequentes e ondas de calor mais frequentes, a probabilidade de ocorrerem as duas em simultâneo também aumenta. Este é um dos grandes problemas que temos nas alterações climáticas. Vai haver mais tempestades perfeitas, usando o jargão dos jornalistas. Outro aspeto é a erosão costeira. Além disso, há uma mudança drástica na precipitação. Vai acontecer uma redistribuição da precipitação: vai cair menos frequentemente e com muito maior intensidade, causando problemas ao nível da erosão dos terrenos e das inundações.
G. – Citando-o: “No clima, as coisas não voltam para trás. A ideia de que, se deixarmos de fazer alguma coisa, tudo fica restaurado é uma ilusão.” Não teme que essa irreversibilidade desincentive as ações necessárias para evitar um novo agravamento da situação?
C. C. – Aprende-se em física que quase tudo é linear e irreversível. Já no caso do sistema climático, o homem emite gases com efeito de estufa, e isto leva a atmosfera a ter um novo regime. Mas se disser que agora vou voltar atrás – o que demora muitos anos –, a garantia de que voltemos ao estado inicial [não existe]. Não vamos voltar, com certeza. Dizer que isto leva a que as pessoas se desinteressem... Acho que é o contrário. É perceber que, se isto pode acontecer, se calhar o melhor é não mexer. Portanto, aumenta a responsabilidade. No fundo, é o mesmo que dizer para não aumentar demasiado os volts de um circuito, porque começaria a deitar fumo. A física do século XX mostrou que o determinismo não existe e que a reversibilidade não existe. Quando as pessoas acham que tudo é reversível e, portanto, controlável, há um incentivo à irresponsabilidade.
G. – Portanto, a irreversibilidade funciona como um aviso.
C. C. – Sim.
G. – E entende que a responsabilidade é, sobretudo, política de não irmos longe demais?
C. C. – Sim. Não é por acaso que os grandes desastres ecológicos foram feitos em regimes comunistas. A história dos pardais é conhecida. O [imperador] Mao disse para todos baterem com madeira, de maneira que os pardais não pousassem durante dois ou três dias. Morreram milhares. Nos anos seguintes, houve uma invasão de insetos, que destruiu as colheitas. No fim de contas, esta ideia de que o homem consegue controlar tudo é uma coisa que tem de ser combatida e leva a uma maior responsabilização. Os negacionistas nunca são físicos. São pessoas que estão habituadas a lidar com sistemas razoavelmente pequenos e controláveis, enquanto o sistema climático, por definição, é um sistema incrivelmente complexo, porque envolve uma brutalidade de escalas espaciais e temporais, e de fenómenos não lineares, que interagem uns com os outros e que vão fazer com que o problema não seja tratável ao nível da intuição. Não dá para utilizar senso comum, porque não há senso comum, neste tipo de sistemas. Há matemática.