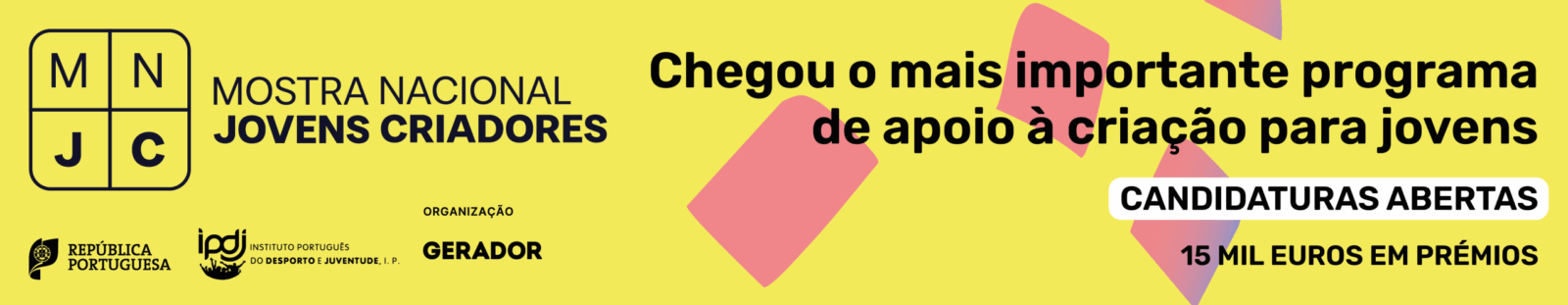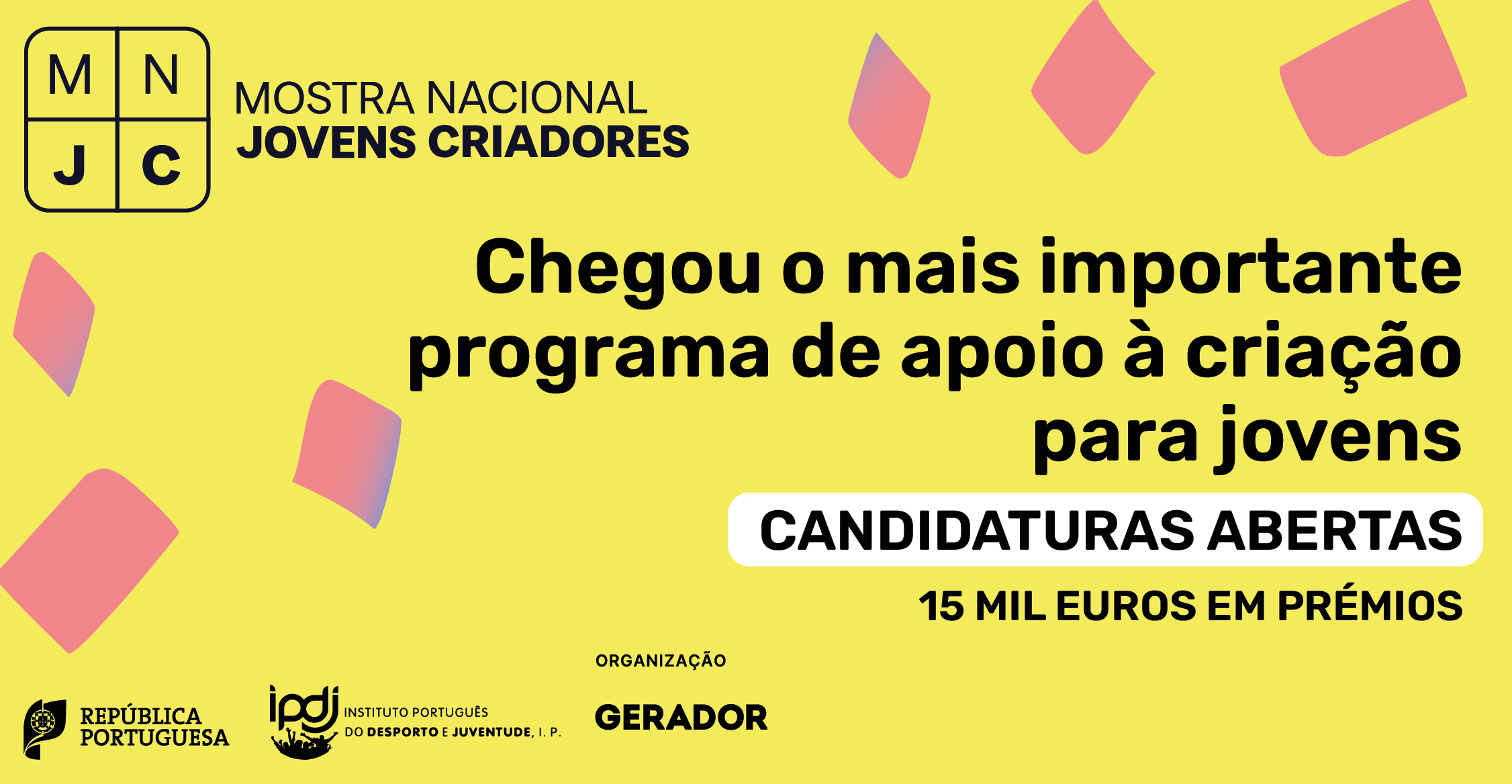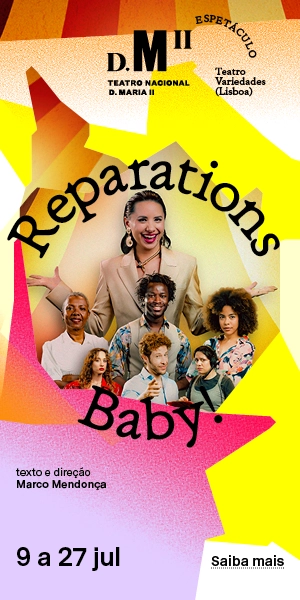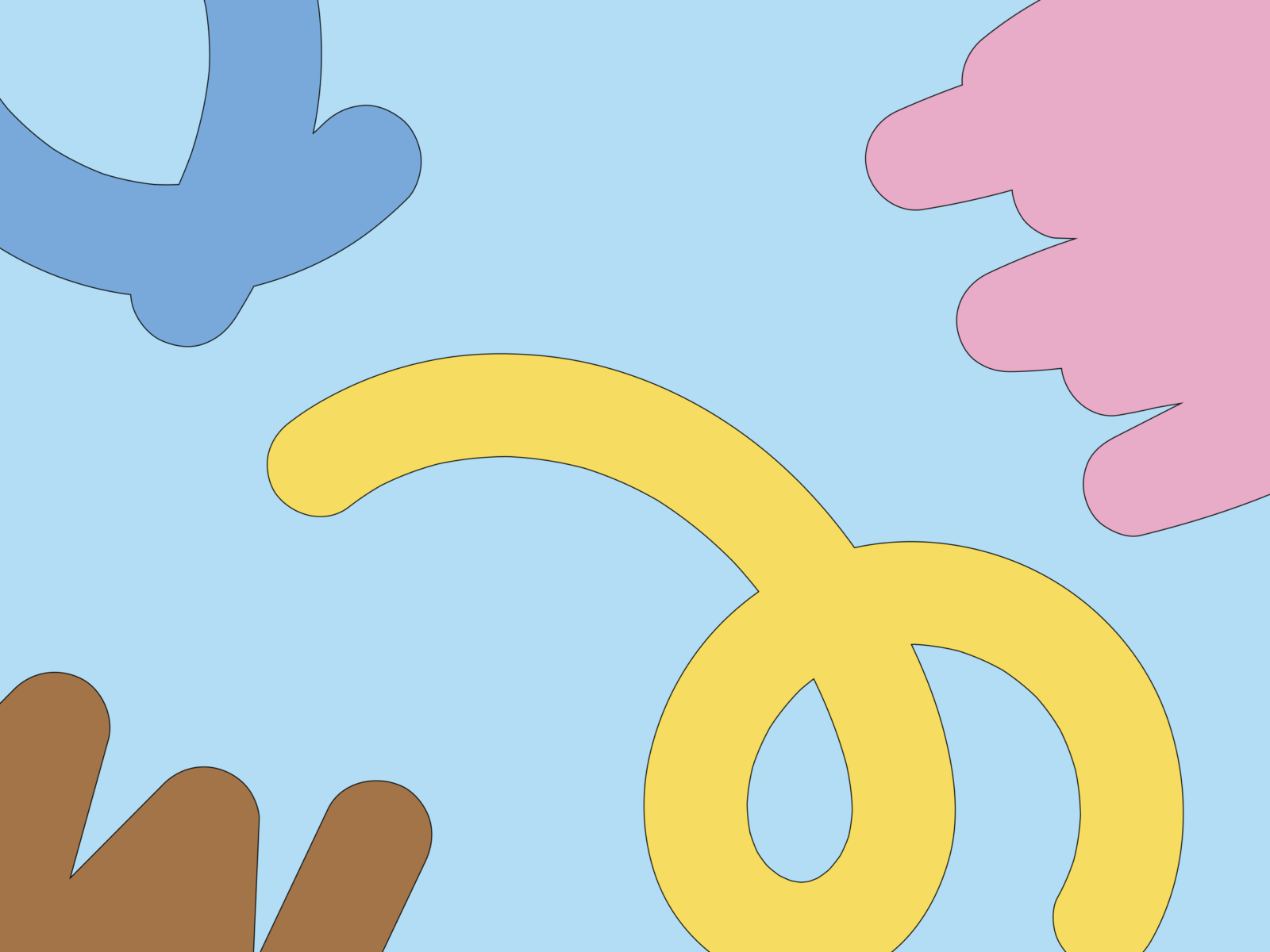Colecionar e exibir obras de arte são processos antecessores à criação dos museus, mas o museu é o grande confirmador da verdade sobre o que é e não é arte, estando no topo da cadeia do sistema da arte e, mais ainda, no eixo central da ação transformadora do mundo, estabelecendo pontos de contacto e de ação concreta sobre o território em que se insere e, ao mesmo tempo, programando a uma escala global e avassaladora. Mais de cem anos depois de Filippo Marinetti ter defendido no “Manifesto Futurista”(1909) a destruição dos museus, reduzindo-os a meros dormitórios públicos e a espaços para o carcinoma de professores, arqueólogos, guias e antiquários[1], assistimos a uma transformação radical no paradigma desta instituição. “Dada a sua importância atual enquanto centro de urbanidade e civilização, o museu é considerado como a nova catedral do século XX”[2]. Entendido como polo de atração turística e protagonista da economia da cultura[3], é hoje um fator determinante na requalificação e reanimação urbana, conquistando um lugar de destaque nas nossas cidades, tornando-se centros de encontro e de validação mútua entre os vários atores do sistema da arte.
O museu oitocentista que fascinava Walter Benjamin entrou no século XX sujeito a mutações de diversa ordem, colocando em causa a coerência interna das narrativas que o sustentavam e obrigando a um maior refinamento das suas estratégias de legitimação. Os museus, muito particularmente aqueles ligados à história da arte, sempre se construíram a partir de uma narrativa que pressupunha um enredo central e ordenador. Ora, a proliferação de reproduções de obras de arte retirou ao museu o exclusivo na construção dessas narrativas, de um enredo central passámos, numa lógica exponencial, a um estilhaçar das centralidades. No seu O Museu Imaginário[4], originalmente publicado em 1947, André Malraux (1901-1976) fixa este fenómeno de coletivização da arte. Para Malraux, a solução salvífica para a heterogeneidade museológica residia exatamente neste nascimento de uma linguagem universal da arte, paradoxalmente centrada na individualização das escolhas. O museu imaginário de Malraux traz consigo um lado relacional e um elenco de dicotomias: estátua – corpo, figura – espectador, natureza viva – natureza morta, cinema – pintura, fantástico – real, relíquia – banal, nu figurado – nu filmado, interior (do museu, vida privada) – exterior (cidade, vida pública). Polaridades que, não se anulando, permitem compreender o museu como um espaço de constante interrogação e incerteza e também como um lugar cuja explicação ultrapassa a própria história da arte.
A partir da década de 1980 proliferam, por toda a Europa, museus de iniciativa privada, como proliferam arrojados projetos de arquitetura que notabilizam as instituições, ao mesmo tempo que sacralizam a figura do arquiteto enquanto inventor dos novos templos do belo. Um novo renascimento urbano surgiu a partir de planos e projetos nos quais a cultura se destaca como principal estratégia e as preocupações urbanas recaem sobre as políticas culturais. Cultural planning[5], planificación cultural[6], regeneração cultural[7] são termos que surgiram, em contextos diferentes, referindo-se ao planeamento e ao projeto urbano com ênfase na cultura.
No estudo destes processos, Bianchini[8] identifica algumas experiências precursoras norte-americanas (Harbor Place, de Baltimore; Waterfront e Quincy Market, de Boston e South Streer Seaport, de Nova Iorque) de intervenção em zonas históricas. No entanto, os casos europeus de inserção de equipamentos culturais de grande destaque tornaram-se paradigmáticos: o Centro Georges Pompidou de Paris, o Museu de Arte Contemporânea e o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona e o Museu Guggenheim de Bilbao. Em algumas ocasiões misturam-se os dois princípios da revitalização: a recuperação do ambiente histórico existente e a criação de equipamentos culturais como âncoras dos projetos. Efetivamente, nas últimas três décadas tem chamado a atenção o grande número de novos equipamentos culturais, quer se tratem de construções antigas reabilitadas, como o caso da Tate Modern de Londres, ou de arquiteturas de vanguarda, com forte apelo aos recursos formais, tecnológicos e monumentais. Dentro destes equipamentos destacam-se os museus e os centros culturais.
Hoje, no exercício dialogante que a arquitetura de museus do século XXI deve estabelecer com os contextos urbanos habitados e/ou os centros históricos turistificados, queremos museus que atravessem as paredes e os muros das cidades, que façam os seus fruidores mudar de tempo e espaço depois da inquietação da experiência estética e da ativação do pensamento reflexivo a atuante sobre o mundo que os museus devem provocar. Queremos museus que tomem a arte como ponto de partida para a construção de pensamento crítico sobre o mundo que nos rodeia, numa crença profunda, muito profunda, que um povo, uma comunidade promotora do conhecimento, através da ação cultural e do contacto com as estruturas e práticas de criatividade, exerce mais ativamente a sua cidadania e, em momento algum, era escolher a opressão em detrimento da Liberdade e eleger um governo ditador e totalitário para o leme do seu destino. É por isso que cabe à Museu do futuro ser a Praça, ser a Agora das novas Pólis, ser o lugar de debate e de construção coletiva por excelência.
[1] MARTIN, Sylvia – Futurismo. Colónia: Taschen, 2005. Páginas 6 a 10.
[2] COUTINHO, Bárbara – “O Popular, Jovem, Espirituoso, Sexy e Deslumbrante Museu”. In MEDEIROS, Carlos L. (Coordenação) – Cultura, Factor de Criação de Riqueza. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2008. Página 85.
[3] CARVALHO, Mário Vieira de – “Cultura e Economia” In MEDEIROS, Carlos L. (Coordenação) – Cultura, Factor de Criação de Riqueza. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2008. Página 19.
[4] MALRAUX, André – O Museu Imaginário. Lisboa: Edições 70, 2011.
[5] EVANS, Graeme – Cultural planning, an urban renaissance? London: New York: Routledge, 2001.
[6] WERWINJNEN, Jan – “Sobre o planeamento cultural e estratégico. Fazer cidade: planos, estratégias e desígnios.” In BRANDÃO, P. e REMESAR, A. (Coordenação) – O espaço público e a interdisciplinaridade. Lisboa: Centro Português de Design, 2000. Páginas 90 a 98.
[7] WANSBOROUGH, Matthew e MAGGEEAN, Andrea – “The role of urban design in cultural regeneration.” In Journal of Urban Design. Volume 5, número 2, 2000. Páginas 181 a 197.
[8] BIANCHINI, Franco – Cultural policy and urban regeneration: The West European experience. Manchester: Manchester University Press, 1993.
-Sobre Helena Mendes Pereira-
É curadora e investigadora em práticas artísticas e culturais contemporâneas. Amiúde, aventura-se pela dramaturgia e colabora, como produtora, em projetos ligados à música e ao teatro, onde tem muitas das suas raízes profissionais. É licenciada em História da Arte (FLUP); frequentou a especialização em Museologia (FLUP), a pós-graduação em Gestão das Artes (UCP); é mestre em Comunicação, Arte e Cultura (ICS-UMinho) e doutoranda em Ciências da Comunicação, com uma tese sobre a Curadoria enquanto processo de comunicação da Arte Contemporânea. Atualmente, é diretora geral e curadora da zet gallery (Braga) e integra a equipa da Fundação Bienal de Arte de Cerveira como curadora, tendo sido com esta entidade que iniciou o seu percurso profissional no verão de 2007. Integra, desde o ano letivo de 2018/2019 o corpo docente da Universidade do Minho como assistente convidada. É formadora sénior e consultora nas áreas da gestão e programação cultural. Com mais de 12 anos de experiência profissional é autora de mais de 80 projetos de curadoria, tendo já trabalhado com mais de 200 artistas, nacionais e internacionais, onde se incluem nomes como Paula Rego (n.1935), Cruzeiro Seixas (n.1920), José Rodrigues (1936-2016), Jaime Isidoro (1924-2009), Pedro Tudela (n.1962), Miguel d’Alte (1954-2007), Silvestre Pestana (n.1949), Jaime Silva (n.1947), Vhils (n.1987), Joana Vasconcelos (n.1971), Helena Almeida (1934-2018), entre tantos outros. É membro fundados da Astronauta, associação cultural com sede e Guimarães e em 2019 publicou o seu primeiro livro de prosa poética, intitulado “Pequenos Delitos do Coração”.