«Será que ela vai ficar assim branquinha ou vai virar preta como tu»? Há quatro meses, estas foram as primeiras palavras que Diana Santos Depuydt afirma ter ouvido por parte da enfermeira que acompanhava o seu pós-parto num hospital privado, em Lisboa. Tratava-se da sua segunda filha e, de acordo com Diana, da segunda vez que sofria violência obstétrica em Portugal. Ao Gerador, explica que prefere manter o nome do hospital anónimo pois, para si, “isto é uma epidemia de todos os hospitais e não só do meu”.
Diana Santos cresceu na Baía, no Brasil, e mudou-se para Portugal em 2015. No mês de setembro de 2022, preparava-se para ser mãe pela segunda vez, acabando por ter de ser submetida a uma cesariana às 42 semanas de gravidez. Conta-nos que, ao longo de toda a gestação, não sofreu nenhum tipo de discriminação ou violência obstétrica. Contudo, lembra-se que, na altura em que o seu parto foi induzido, as suas “queixas de dor foram continuamente desvalorizadas” pelas enfermeiras do hospital onde se encontrava.
No dia seguinte ao nascimento da sua bebé, Diana admite que se sentiu desconfortável e discriminada quando as auxiliares de saúde se aperceberam de que era casada “com um homem branco, belga”, formando assim um casal inter-racial. “A enfermeira perguntou-me se as minhas filhas eram do mesmo pai, porque a bebé não tinha nascido com o mesmo tom de pele da irmã”, começa por contar, “depois, quando estava a sair do meu quarto, “ordenou-me” que fizesse uma laqueação de trompas para que não voltasse a ter mais filhos”.
Diana relata-nos ainda uma situação semelhante que ocorreu aquando da visita de um pediatra ao seu quarto. Dessa vez, a nossa entrevistada refere que se sentiu “humilhada” pelo profissional de saúde, já que foi questionada, pelo menos três vezes, se a bebé era sua. “Não é só o que se diz, é também a maneira como se diz. Ele fazia uma cara de nojo sempre que falava comigo.”
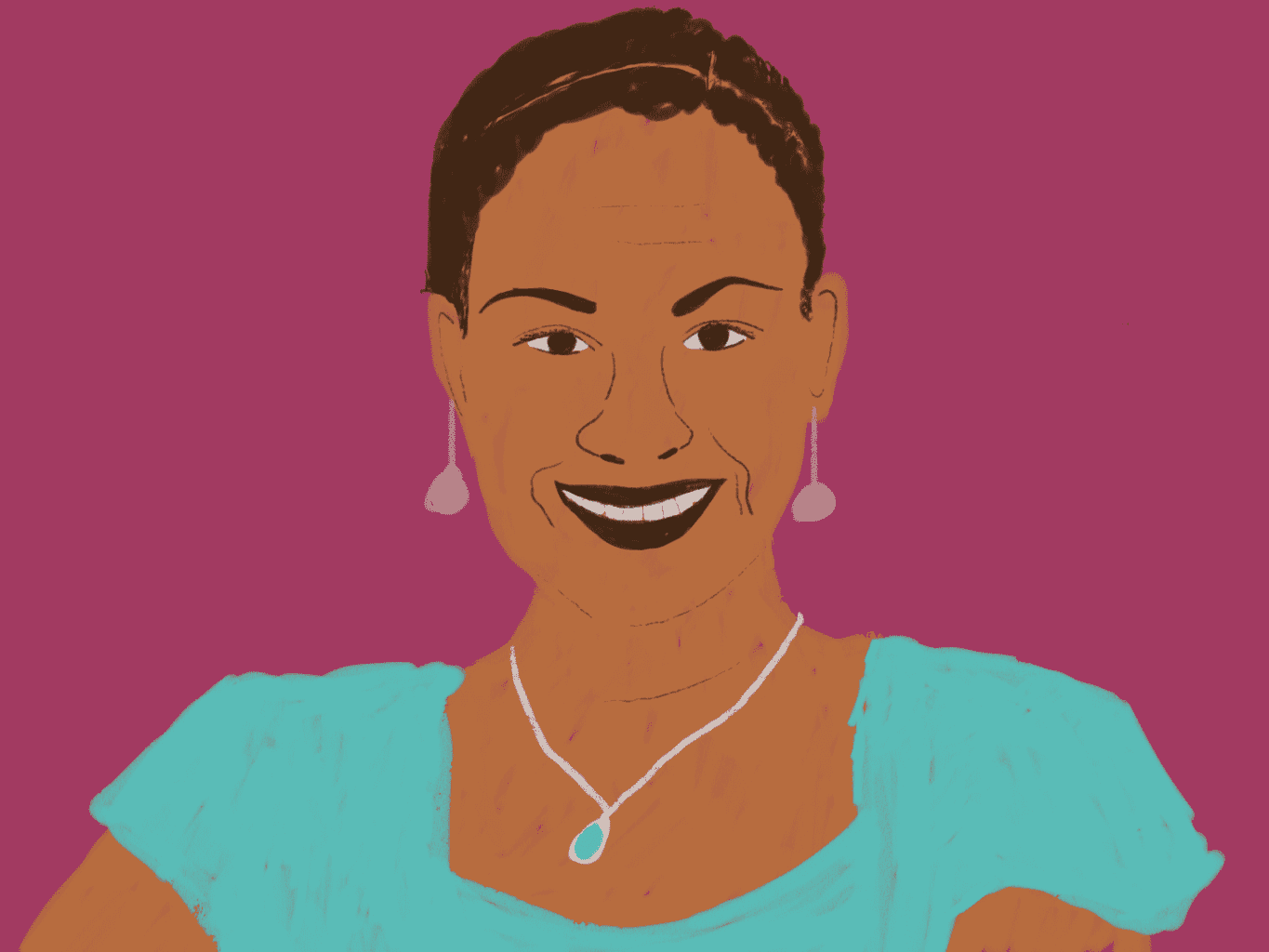
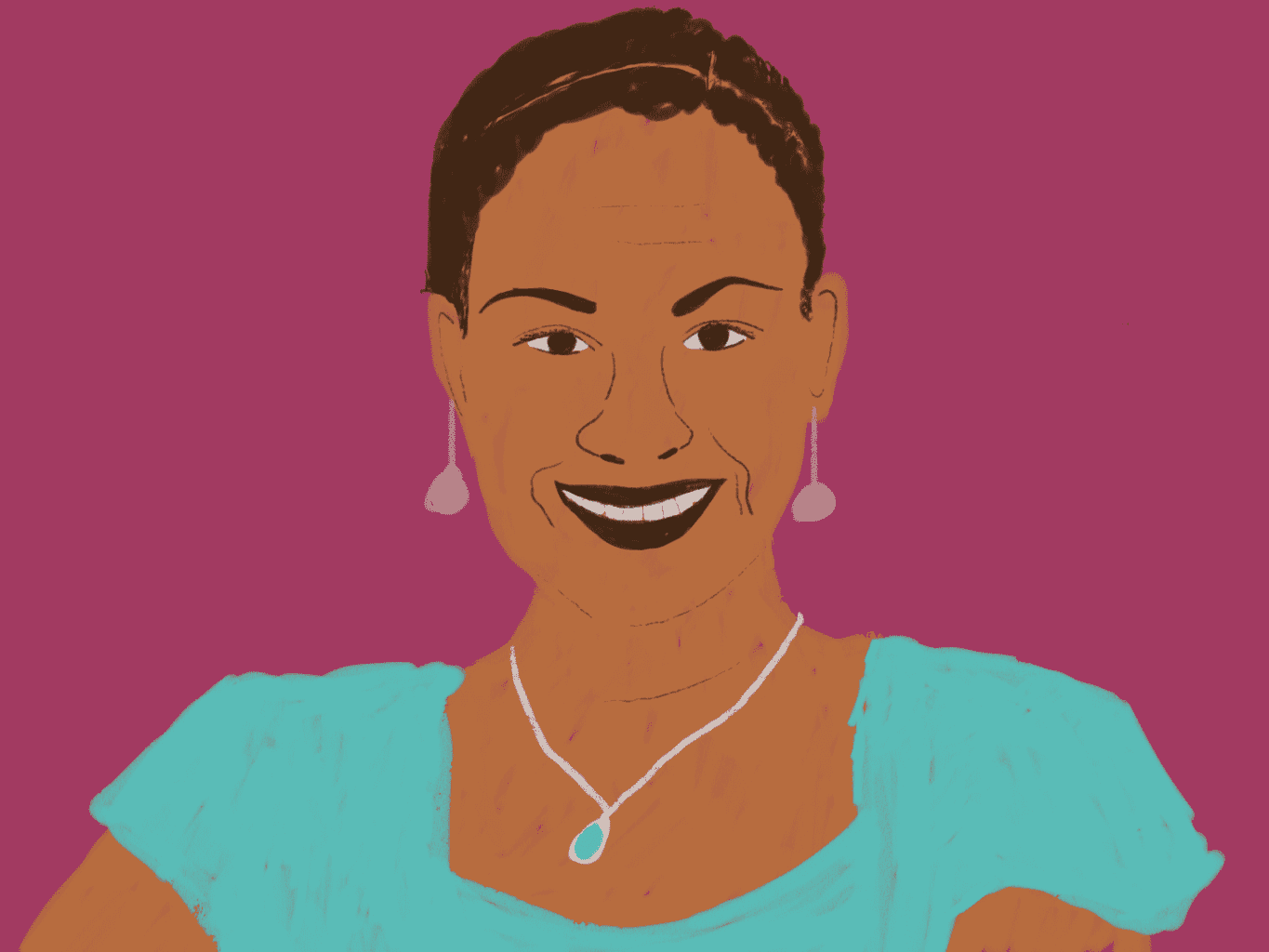
No dia 26 de julho de 2021, o Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia pronunciou-se relativamente à violência obstétrica em Portugal entre 2018 e 2020. Entre as respostas fornecidas, pode ler-se: “constata-se, quase sempre, que foram cumpridas as boas práticas e que ‘mau trato’ teria sido não se terem providenciado as intervenções que se realizaram, mas também é verdade que o acolhimento e a comunicação com as grávidas, e com as suas famílias, nem sempre se fazem de forma digna […].” Acrescenta-se ainda que, de acordo com as estatísticas apresentadas na segunda edição do inquérito “Experiências de Parto em Portugal” (2015–2019), realizado pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto (APDMGP), uma em cada três mulheres alega ter sido vítima de violência obstétrica em Portugal.
Há três anos, no pós-parto da primeira filha, Diana Santos caracterizava-se como “uma mãe inexperiente”, mas recorda-se das palavras de uma enfermeira quando esta se recusou a avaliar a amamentação da bebé. «As mulheres pretas já sabem como se faz. Têm mamilos grossos, logo não fazem fissura.» Na entrevista com o Gerador, Diana afirma que, de facto, saiu do hospital com uma lesão nos seios por não ter recebido ajuda com a amamentação.
Tendo em conta as duas situações pós-parto que sofreu nas suas gravidezes, a nossa testemunha garante que não só foi vítima de violência, mas também de racismo obstétrico. Optou por não apresentar queixa, pois acredita que os maus-tratos obstétricos foram unicamente psicológicos, o que “torna difícil de se provar e a única coisa que iria conseguir seria um pedido de desculpa”. Diana não quer um pedido de desculpa, “quer mudança”.
Em 2014, a Organização Mundial de Saúde reconheceu, na Declaração sobre prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto nas instituições de saúde, a ocorrência de violência obstétrica um pouco por todo o mundo. Já a regulamentação sobre a violência obstétrica na Europa, surgiu apenas em 2019 com a elaboração do primeiro texto sobre o tema, presente na Resolução do Conselho da Europa nº 2306/2019, de 3 de outubro. Neste documento estão registadas algumas recomendações para a erradicação deste tipo de violência e que, segundo um artigo publicado (“Violência Obstétrica – tendências legislativas em Portugal”) pela advogada e membro da APDMGP, Vânia Simões, “ainda se encontram por cumprir no nosso país”.
De acordo com a Declaração acima referida, os “relatos sobre desrespeito e abusos durante o parto em instituições de saúde incluem violência física, humilhação profunda, abusos verbais, procedimentos médicos não consentidos […]”, entre outras formas de violência. Confirma-se ainda que, segundo o estudo, as “adolescentes, mulheres solteiras, mulheres de baixo nível socioeconómico, de minorias étnicas, migrantes e as que vivem com HIV são particularmente propensas a experimentar abusos, desrespeito e maus-tratos”.


Catarina Barata é investigadora e ativista na Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto (APDMGP). Atualmente, encontra-se em fase de redação da sua tese de doutoramento em Antropologia, a qual incide sobre o tema da violência obstétrica em mulheres migrantes em Portugal. “É uma violência sistemática e que está completamente normalizada”, esclarece em conversa com o Gerador.
Ao longo da sua investigação, Catarina Barata apurou diversos fatores que podem contribuir para a existência deste fenómeno que é o racismo obstétrico. “O racismo é a classificação de seres humanos com base numa ideia de raça. Existe a raça humana, mas também existe a raça socialmente criada. Na assistência obstétrica, esta está presente devido ao preconceito que existe nas instituições que são inerentemente racistas”, explica-nos. Para a investigadora, na esfera obstétrica, o racismo manifesta-se, por exemplo, ao se conceptualizar que as mulheres negras são menos sensíveis à dor. “Isto relaciona-se com a noção evolucionista da sociedade. Muitos acreditam que as mulheres negras e, muitas vezes, as ciganas, estão mais próximas da natureza e da animalidade”.
Catarina foi mãe em 2013 e não sofreu violência obstétrica. Admite-nos que esse acontecimento a impulsionou a tomar a decisão de se tornar membro da APDMGP, pois percebeu que existia um “problema sociológico” em Portugal e nos cuidados maternos. “Sempre que falava com mulheres sobre o seu parto descobria várias histórias chocantes, às quais o meu parto não correspondia.” Deste modo, passou a integrar a associação e continuou, paralelamente, o seu caminho enquanto investigadora e ativista.
Num dos seus projetos publicados, a investigadora concluiu que é difícil determinar se é a raça ou a origem geográfica que influencia a existência de racismo obstétrico. Catarina explica-nos que os estudos que existem em Portugal sobre este assunto são, maioritariamente, sobre migrantes. Mas as pessoas que são afrodescendentes e que sempre viveram em Portugal também são racializadas, logo, para a investigadora, ambos os fatores podem contribuir para este fenómeno.
Isolar o racismo obstétrico, dentro da violência obstétrica, tem que ver com o facto de se entender que as questões do racismo estão pouco explícitas na noção de violência obstétrica. Para além disso, Catarina Barata reforça que a “necessidade de se cunhar um termo para denominar um fenómeno – tal como aconteceu com a violência obstétrica – corresponde à emergência de uma luta sociopolítica”. Neste caso, a entrevistada refere-se à “evidência de que Portugal, o estado-nação, continua a perpetuar a ideia de que o país deve ser branco e hétero patriarcal”, logo, os grupos migrantes “irão continuar a sofrer discriminação por não corresponderem à identidade nacional”.
Catarina identifica determinados fatores que podem agravar a ideia do que é normativo na sociedade portuguesa, tais como a raça, a idade, a orientação sexual e o estatuto económico. “As mulheres com pouco poder económico estão sujeitas à equipa que encontram no dia do parto, por exemplo. Mas as mulheres com maior poder aquisitivo, às vezes, são muito mais vulneráveis e estão igualmente sujeitas a sofrer violência obstétrica. Mesmo que possam escolher de que forma querem ter o seu parto, podem estar sujeitas a uma cesariana, pois são coagidas a tal.”
Ao longo da sua investigação descobriu que o abuso de intervenções é uma das formas mais identificadas de violência obstétrica, isto é, intervenções que não são clinicamente necessárias em prol da saúde da mãe ou do bebé. O recurso às cesarianas eletivas nos hospitais privados é um desses exemplos. “São intervenções muito convenientes e rentáveis, ou seja, existe uma motivação financeira. Para os profissionais de saúde é mais rentável, economicamente, fazer uma cesariana do que um parto vaginal.”
Segundo Catarina Barata, a noção do que é o racismo obstétrico surge nas mulheres que têm mais consciência da luta antirracista. Porém, a linha que separa a discriminação de género e a racial é, para si, muito ténue. “Enquanto houver desigualdade nas outras áreas da sociedade, não vai haver igualdade no sistema de saúde materna”, começa por argumentar, “não podemos isolar a luta pela igualdade de género da luta pela igualdade em geral. Infelizmente, quem tem poder aquisitivo terá sempre acesso a mais coisas. Só o facto de teres escolha, por teres dinheiro, já te protege um bocadinho. Mas, no âmbito da violência obstétrica, pode acontecer com qualquer mulher, de qualquer classe”.


Cláudia Marques é afrodescendente, nasceu em Lisboa e vive no Porto há 12 anos. Há 10 anos estava grávida daquele que viria a ser o seu primeiro e único filho, e tratava-se de uma gravidez de risco. Às 37 semanas de gestação, Cláudia dirigiu-se ao Centro Materno-Infantil do Porto, queixando-se de dores no ventre. Acabou por ficar internada com um diagnóstico de pedras nos rins. “Senti que não estava a receber a atenção que merecia, mas, sendo que o meu problema era, supostamente, pedras nos rins, achei que fizesse sentido as outras grávidas serem prioridade”, conta-nos numa entrevista online.
Ao longo da nossa conversa, Cláudia relata-nos os eventos que se sucederam nessa noite. Horas depois de ter ficado internada, as suas águas rebentaram. Estava sozinha e, segundo as suas palavras, pensou “que o parto ainda iria demorar e não quis ligar logo para o pai da criança”, seu marido na altura. “Lembro-me de que não tinha nada escrito na minha ficha médica. Nem sequer estavam a controlar os batimentos cardíacos do meu bebé. Aliás, chegaram a escrever um número ao calhas e tomaram essa decisão à minha frente.”
Tal como aconteceu com Diana Santos há quatro meses, Cláudia relembra que sentiu “a sua dor a ser desvalorizada”. Chegou a pedir a epidural, mas recebeu sempre justificações por parte da enfermeira para que o analgésico não fosse administrado. “Ora a anestesista estava ocupada, ora não tinha dilatação suficiente. Pedi a epidural três vezes e das três vezes recusaram dar-ma”.
Em 2010, os investigadores Diana Bowser e Kathleen Hill publicaram um estudo intitulado “Exploring Evidence for Disrespect and Abuse in Facility-Based Childbirth”. Na sua investigação identificaram sete categorias que podem ser associadas à violência obstétrica institucional, sendo uma delas o “abandono ou recusa de cuidados, como, por exemplo, deixar a mulher sozinha na sala, num período longo de tempo, durante o trabalho de parto” ou “cuidados não dignificantes (incluindo abusos verbais), tais como a falta de consideração pelos sintomas e sentimentos referidos pela mulher”.
Em Portugal, a Lei n.º 110/2019, alterada a 9 de setembro de 2019, estabelece os princípios, os direitos e os deveres aplicáveis em matéria de proteção na gravidez e no parto, nomeadamente, o “direito ao alívio da dor” (artigo 15.º-F, n.º 4)” e o “direito à assistência contínua” (artigos 15.º-G e 18.º, n.º 2). Apesar de estes direitos estarem expressamente consagrados na nossa legislação, “a verdade é que continuam a ser tornadas públicas situações que revelam a sua violação em instituições de saúde”.
Cláudia Marques alega que, durante o período em que esteve internada, uma das enfermeiras gritou com ela repetidamente, sem motivo aparente. Quando a encaminharam para a sala de parto, ouviu a mesma auxiliar de saúde a questionar “se a criança não teria pai”, sendo que o mesmo já teria sido contactado por Cláudia, encontrando-se a caminho do hospital.
“Eu estava com tanta dor que só queria que aquilo acabasse. Nem me lembro bem de todos os acontecimentos ou do que me fizeram. Só me lembro da dor”, descreve. “Só percebi que me tinham feito uma episiotomia sem o meu consentimento quando me coseram sem anestesia.”
Com o inquérito “Experiências de Parto em Portugal” (2015–2019), a APDMGP apurou que cerca de 30 % das mulheres alega ter sido vítima de desrespeito, abuso ou discriminação. “Destacou-se particularmente a prática de intervenções não consentidas, as quais afetaram direta e negativamente a perceção das inquiridas sobre a sua experiência de parto. Foi ainda mencionada a relação deficiente com os prestadores de cuidados e situações de abuso verbal e físico.”
Dados do mesmo inquérito também revelaram que, em mais de 60 % das situações, houve recurso à episiotomia (corte na zona do períneo) sem o consentimento da mulher. Esta prática é, segundo o Relatório Primavera 2018 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, “particularmente mais frequente em Portugal que nos restantes países europeus”.
«Muito bem! Um parto à antiga», foram as últimas palavras que Cláudia garante ter ouvido por parte da enfermeira. “No final do parto, fiquei com a sensação de que as enfermeiras estavam com muita pressa para se irem embora. Uma delas colocou a placenta no lixo e depois lembrou-se de que tinha de recolher sangue para saber o tipo sanguíneo do bebé. Então foi buscar a placenta… ao lixo.”
Cláudia afirma que sabia, com toda a certeza, que tinha sido vítima de violência obstétrica, mas atribuiu este tratamento a questões de estatuto social e não à cor da sua pele. “Existem vários clichês na estrutura do sistema dos profissionais de saúde. Presumem sempre que as mulheres negras são mães solteiras e que o seu estatuto social é baixo. Se és uma mulher negra, és imediatamente vista como sendo pobre”, remata a nossa entrevistada. O seu companheiro da altura não conseguiu assistir ao nascimento do filho, mas, de acordo com Cláudia, terá ouvido as auxiliares de saúde gritarem com ela ao longo de todo o parto.
Mais tarde, quando já se encontrava na sala do pós-parto, Cláudia começou a receber, tal como caracteriza, “uma atenção e simpatia exageradas” por parte das enfermeiras. De acordo com a nossa entrevistada, isto deveu-se ao facto de o seu companheiro ter referido aos profissionais de saúde, por mero acaso, que Cláudia tinha um doutoramento e que trabalhava na área das ciências biomédicas. “Trataram-me como se fosse diferente das outras mulheres negras”, frisa.
A investigadora Catarina Barata justifica este tipo de comportamento referindo que a violência obstétrica será sempre, e acima de tudo, um exercício de poder, independentemente da raça da mulher. “Os profissionais de saúde são pessoas que são socializadas num sistema e que aprendem a fazer o que fazem. Qualquer pessoa que esteja numa situação de poder, ou seja, em que está numa posição de ascendência sobre o outro, pode prejudicá-lo.”
Cláudia Marques, tal como Diana Santos, optou por não apresentar queixa. Contudo, admite-nos que “saiu do hospital com a certeza de que nunca mais queria ter filhos”.
Uma semana depois do nascimento do seu filho, Cláudia começou a “sentir desconforto na área onde tinha sido suturada”. Descobriu, mais tarde, numa consulta de ginecologia, que o procedimento não tinha sido executado corretamente na altura do parto. Cláudia conta-nos que ficou, para sempre, com uma marca física nessa região do corpo. “Foi uma experiência muito dura”, conclui. Cláudia considera que, “para este racismo estrutural desaparecer, tem de haver mais formação. Dos profissionais e das mulheres”.
Durante a investigação para esta reportagem, o Gerador contactou, via email, o Centro Materno-Infantil do Porto para que o mesmo se pronunciasse relativamente aos factos relatados por Cláudia Marques, mas não obteve resposta.
Investigar sobre o tema do racismo obstétrico é, para Catarina Barata, fundamental para que se mudem mentalidades. Na nossa entrevista, a antropóloga esclarece que as mulheres conseguiriam identificar melhor o que estão a passar no momento se conhecessem verdadeiramente o conceito. “Quando estas mulheres conseguem finalmente atribuir um nome ao problema, apercebem-se de que afinal é um tipo de violência estrutural e de que a culpa não é delas ou do seu corpo”, explica. “Ainda existe muita contestação acerca do termo violência obstétrica. Enquanto estivermos nisto, não estamos a debater os casos em si, nomeadamente, os que envolvem racismo. Daí a importância de se cunhar termos para as coisas”, acrescenta.
Para a elaboração desta reportagem, entrevistámos também uma médica interna obstetra que exerce num centro hospitalar do Sul do país. A mesma preferiu manter a sua identidade e local de trabalho anónimos, contudo, aceitou responder a algumas das nossas questões. Esta entrevistada revela que já testemunhou “inúmeras situações de racismo obstétrico” no estabelecimento onde trabalha, “principalmente com mulheres de etnia cigana e com emigrantes do Sul da Ásia. De uma forma geral, estas mulheres não são tratadas com a mesma empatia e as suas queixas são menos valorizadas”, explica.
Nas suas respostas, esta médica relata ainda que os profissionais de saúde se sentem “estigmatizados”. “Sinto que existe uma suspeita geral sobre uma categoria profissional inteira, sendo que a grande maioria dos profissionais na área da saúde obstétrica se preocupa com o bem-estar físico e emocional das mulheres e dos seus bebés. As mulheres já entram inseguras nos hospitais e isto dificulta a comunicação e a criação de laços emocionais entre a grávida e os profissionais.”
Relativamente à forma como este tema deve ser transmitido à sociedade, de maneira a que não se criem ideias erradas a propósito da obstetrícia e dos profissionais desta área, mas que proteja e informe as mulheres adequadamente, a mesma médica defende que “deve haver menos sensacionalismo e mais individualização. Temos de dar voz aos profissionais de saúde dos hospitais públicos que estão empenhados em proporcionar uma boa experiência de parto”.
Tal como Cláudia Marques, a referida médica também conclui que as soluções para erradicar o racismo obstétrico passam por “aumentar a literacia em saúde das grávidas e criarem-se cursos de comunicação e antirracismo para os profissionais de saúde”.
Até à data, nunca foram publicados dados estatísticos relativos ao racismo obstétrico em Portugal. A investigadora Catarina Barata acredita que “só irão aparecer dados quando houver um reconhecimento público, por parte das instituições de poder, de que estes números interessam”.
Em resposta a esta evidência, e fruto da necessidade de se criar uma associação que combatesse o racismo vivido pelas mães negras e racializadas em Portugal durante a gravidez, parto e pós-parto, Carolina Coimbra cria o coletivo SaMaNe – Saúde das Mães Negras em julho de 2020.
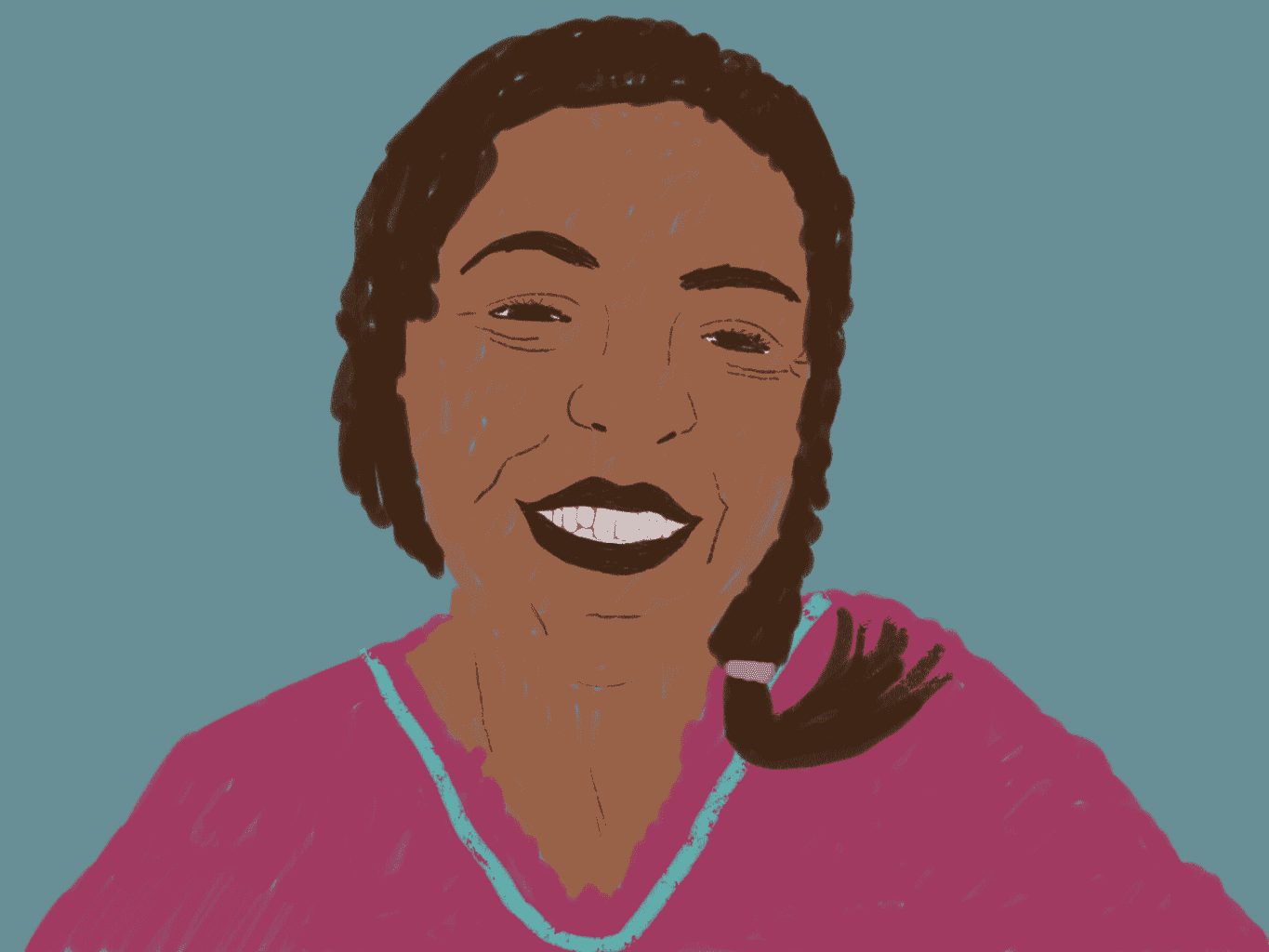
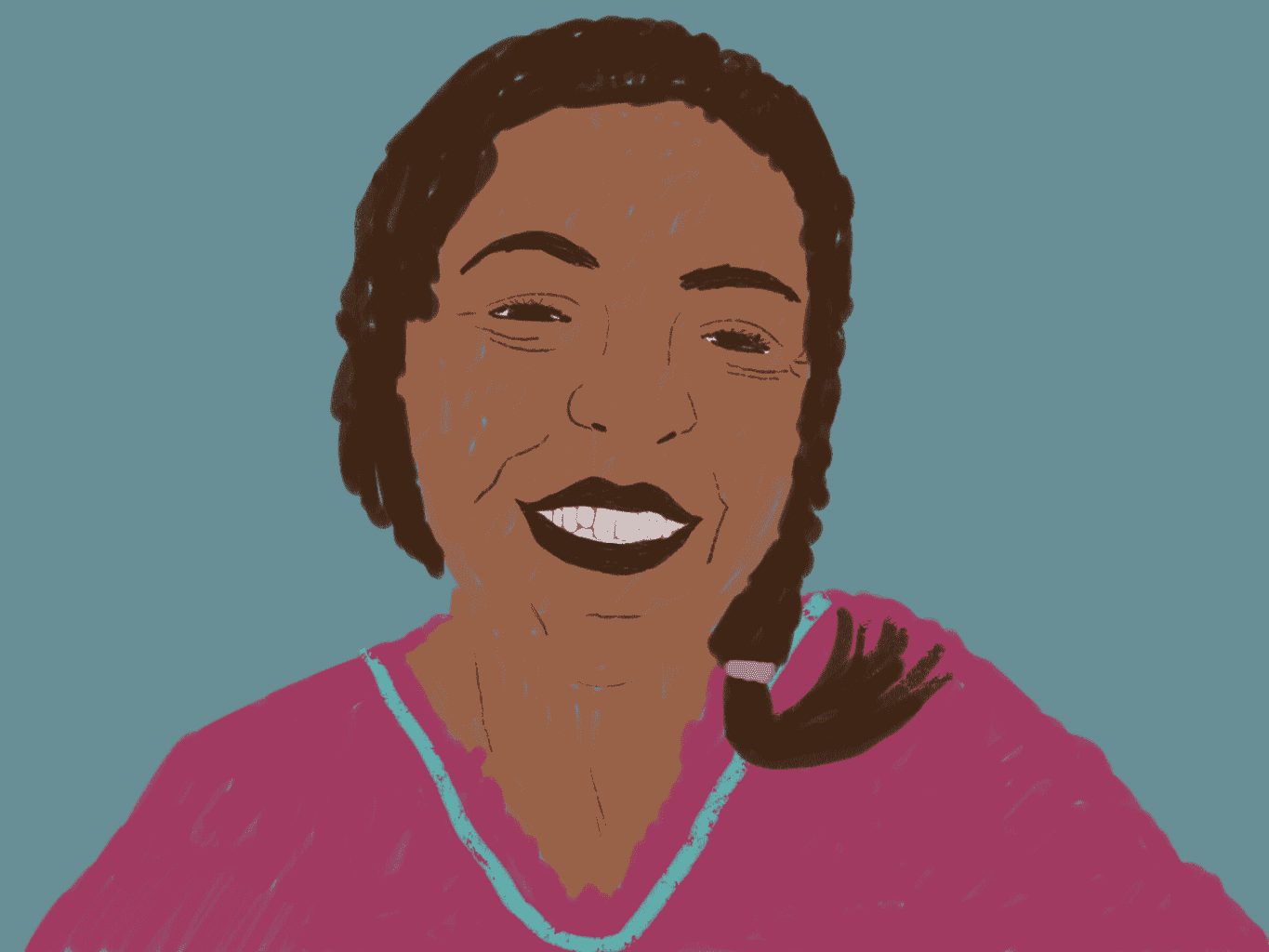
Carolina Coimbra é socióloga, afrodescendente e vive em Portugal. Mãe de dois filhos, integrou a Associação Portuguesa Pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto entre 2019 e início de 2022. Ao descobrir que a taxa de mortalidade materna nos Estados Unidos da América e no Reino Unido era mais alta nas mulheres negras, em comparação com as mulheres brancas, começou a questionar se o mesmo aconteceria em Portugal.
Perante a ausência de informação, o grupo SaMaNe, constituído por mulheres brasileiras, portuguesas e africanas, nasce após as manifestações mundiais desencadeadas pelo movimento Black Lives Matter. “Queremos apurar a verdadeira experiência das mulheres negras”, explica-nos Carolina Coimbra, “o objetivo é que consigamos desmistificar certos preconceitos que existem em torno destas mães, como o facto de serem mais tolerantes à dor, terem muitos filhos ou de não os planearem”.
De forma a conseguirem, finalmente, apurar dados relativamente à experiência obstétrica das mulheres negras em Portugal, o grupo lançou um questionário online no dia 8 de março (Dia da Mulher) de 2021. O mesmo está dividido em três partes: gravidez e planeamento, parto e pós-parto.
“Sabemos que, tendo o questionário online, estamos apenas a chegar a uma parte das mulheres. Não conseguimos chegar a todas”, afirma a socióloga. Até à data da nossa entrevista em novembro de 2022, a Associação SaMaNe já tinha obtido mais de 150 respostas. De acordo com Carolina Coimbra, o relato mais comum da maioria das mulheres que respondeu ao questionário é o de que “viram a sua dor a ser desvalorizada” pelos profissionais que as acompanharam durante o parto.
Um desses relatos é o de Irina Pires. Nascida em Angola, veio viver para Portugal com três anos. Tem agora 31 anos, é assistente operacional numa escola e, na altura da nossa entrevista, encontrava-se grávida de risco do seu quarto filho.


Irina conta-nos que a primeira vez que se sentiu vítima de racismo obstétrico foi aos 18 anos, durante o parto da sua primeira filha. “Sempre recusei a epidural, porque queria ter um parto o mais natural possível”, começa por dizer, “na altura da expulsão da minha bebé, cortaram-me a sangue frio, sem anestesia e sem me avisarem. A minha mãe estava comigo e perguntou à enfermeira a razão para me terem feito aquilo, ao que ela responde: «Ela nem quis epidural, agora aguenta.»
O parto da sua primeira filha não foi a única altura em que Irina se sentiu discriminada. Segundo o seu testemunho, uma enfermeira de um Centro de Saúde de Cascais terá sugerido a Irina que interrompesse a gravidez ou entregasse o bebé para adoção, pois a mesma “não teria condições para cuidar de uma criança, visto que era uma mãe jovem, negra, sem estudos e proveniente de um bairro social”.
O Gerador entrou em contacto com o Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais, via email. Pedimos para que, se assim o entendessem, prestassem os esclarecimentos e informações que considerassem necessários sobre a situação acima descrita, ao qual responderam:
“Considerando o tempo decorrido, o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Cascais não se vai pronunciar sobre factos que remontam a 2009. […] no entanto, as unidades de saúde que atualmente compõem este ACES pugnam por um acesso equitativo aos cuidados de saúde, respeitando por isso a idade, raça ou etnia, realidade socioeconómica e crenças de todos os utentes […]”.
A Associação SaMaNe revela-nos que, ao longo da sua investigação, também contactaram vários centros de saúde, pois receberam relatos de mulheres que não foram acompanhadas durante a sua gravidez, porque não tinham número de utente. “Os que respondem, dizem que não se revêm nesta situação”, explica Carolina Coimbra, “já ouvi histórias de mulheres negras e estrangeiras que foram impedidas de entrar nos centros de saúde, porque os seguranças não sabiam que essas mulheres também tinham direito ao acesso aos cuidados de saúde materna. Vamos acreditar que é falta de informação. Então, se é falta de informação, temos de começar a formar estas pessoas”.
Para a socióloga, é crucial que se comece a estudar mais a comunidade negra em Portugal, tal como “o corpo humano das pessoas negras, para que se conheça melhor a sua anatomia e se entenda que as suas características físicas não são defeitos. Na verdade, é só os outros começarem a ver as pessoas negras como pessoas”, argumenta.
Carolina Coimbra considera que não existem dados sobre o racismo obstétrico em Portugal por vários motivos, nomeadamente o facto de ser proibido perguntar qual é a identidade étnico-racial de quem responde aos questionários de investigação. “Deve fazer-se uma distinção entre racismo obstétrico e violência obstétrica, pois, dessa forma, seremos capazes de identificar mais um problema da sociedade e de apurar mais informação sobre a população portuguesa”, acrescenta.
Em 2020, Irina Pires encontrava-se grávida da sua terceira filha e estava a ser acompanhada na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra. Conta-nos que, também aí, terá sentido preconceito, pois foi encaminhada para os serviços de assistência social que a terão considerado, segundo o seu relato, “uma mulher desfavorecida”. “‘Vocês, africanas, estão sempre a ter muitos filhos e depois anda tudo ao molho e fé em Deus’, foram as palavras que mais me marcaram”, revela, “disseram-me que era um procedimento da maternidade, mas eu sempre tive condições para cuidar das minhas filhas. Ali estava eu, mais uma vez, a ser julgada sem motivo, quando poderia dar o meu lugar a alguém que realmente precisasse”.
Ao Gerador, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no qual se integra a Maternidade Daniel de Matos, enviou a seguinte resposta relativamente aos factos descritos por Irina Pires:
“[…] sim, houve intervenção pelo Serviço Social, no âmbito de Consulta Externa, no CHUC, da utente abaixo identificada.
Mais se esclarece que, ouvidos os profissionais da equipa e da consulta aos registos constantes no processo social da utente, a intervenção realizada, que se considera exímia, foi ao encontro das necessidades sociais identificadas, tendo sido pautada por princípios de dignidade, rigor e humanismo, como é apanágio do Serviço Social deste Centro Hospitalar […]”.
Quando questionado sobre as “necessidades sociais” identificadas pelo Serviço Social das Maternidades do CHUC, o mesmo respondeu: “a questão entra no domínio da informação de sigilo profissional e como tal de caráter confidencial, e o CHUC respeita a privacidade e confidencialidade da informação dos utentes”.
Foi também durante a sua terceira gravidez que Irina tomou conhecimento do trabalho de Carolina Coimbra e da sua associação. Para Irina, “precisávamos de algo mais direcionado e de alguém que nos ouvisse. Alguém com a nossa pele”.
A Associação SaMaNe concluiu, com a sua pesquisa, que o racismo pode afetar a saúde mental das mulheres de forma a que isso cause problemas a nível físico. “Quando estão grávidas, algumas mulheres podem sofrer hipertensão, podem ficar com diabetes gestacional, pré-eclampsia, entre outras condições”, reforça Carolina Coimbra. “Também recebemos o relato de uma mulher que, na sua terceira gravidez – sendo que nas duas primeiras tinha sofrido aborto espontâneo, logo este era um bebé muito desejado – recebeu a notícia de que o seu bebé não teria nariz. Ainda ponderou abortar, mas já não ia a tempo. Esta mulher passou a gravidez em depressão. Foi encaminhada para vários especialistas e todos lhe disseram que o bebé não tinha nariz. O bebé nasce, e ela ainda hesita em olhar para ele. Quando finalmente o faz, descobre que o filho afinal não tem nenhum problema físico no rosto. Sabes qual foi a justificação do médico? “Ah sabe, é que vocês têm o nariz assim achatado, então nem sempre dá para ver o nariz nas ecografias.”
Irina Pires assume que, depois de ter tido a sua primeira filha, sofreu com depressão pós-parto e chegou a “rejeitar um pouco” a sua bebé. “Sempre que penso no parto da minha primeira filha, só me lembro da dor. Era suposto ter sido um momento de felicidade”, conclui.
A psicóloga Raquel Costa não trabalha na área da intervenção clínica, mas está, atualmente, a desenvolver vários projetos onde analisa, não só o desenvolvimento das crianças, mas também a saúde mental perinatal e a qualidade dos cuidados que são prestados durante o parto e pós-parto. Até ao momento da nossa entrevista, a psicóloga ainda não tinha recolhido dados que lhe permitissem avaliar se existe, ou não, discriminação nos cuidados que são prestados a uma mulher em função da sua etnia. Contudo, de uma forma geral, Raquel Costa pode concluir que “as experiências negativas de parto estão associadas ao surgimento da perturbação de stress pós-traumático”.


De acordo com a psicóloga, esta é uma perturbação que interfere na relação entre a mãe e o bebé. “Quando existe uma perturbação que interfere na forma como a mãe e o bebé interagem, surgem consequências no desenvolvimento da criança ao longo da sua vida. A interação é um processo em que os pais comunicam com o seu bebé. Se uma mãe tiver uma patologia mental, vai ter menor capacidade para captar adequadamente os sinais do bebé e para responder em conformidade”, começa por explicar.
Na nossa entrevista, Raquel enumera algumas das implicações que podem derivar de uma má experiência de parto, nomeadamente do ponto de vista da futura vinculação entre a mãe e o bebé, um aspeto que a psicóloga considera “crucial” para o desenvolvimento da criança. “Se o bebé desenvolver esta perceção dos pais, como pessoas que estão presentes fisicamente, mas que depois não respondem adequadamente às suas necessidades, irá, mais tarde, ser incapaz de estabelecer outras vinculações ou de atribuir valor a si mesmo. O mundo não é um local seguro. A forma como nos relacionamos com os outros é um reflexo daquilo que foi a nossa história de vida relacional. E a nossa base relacional é a relação que temos com os nossos cuidadores.”
Para Raquel Costa, todas as mulheres que passam por uma experiência negativa de parto devem ser acompanhadas psicologicamente. “Não existe muita investigação sobre o impacto do ponto de vista mental das experiências negativas de parto. Sabemos que a depressão e a ansiedade podem aparecer, e que muitas mulheres escolhem não voltar a engravidar”.
Outro aspeto que a psicóloga considera importante é a relação que a grávida estabelece com o seu médico. “A confiança que a mulher tem no seu médico vai determinar a sintomatologia mental da mesma”, reforça, e “é importante que o nosso país comece a mudar a sua maneira de pensar a saúde mental e que comece a lutar por mais recursos financeiros para esta questão”. Para além disso, acredita ser necessário mais financiamento para as unidades de saúde materno-infantis e que os recursos humanos sejam ajustados ao número de mulheres que recorrem a estas unidades. “Não pode ser um médico para 20 mulheres. Não existem especialistas suficientes. Decretarem cuidados iguais para todas as mulheres não é equidade. Equidade é quando prestamos informação à medida das necessidades específicas daquela pessoa.”
Para Raquel, só será possível erradicar a violência e o racismo obstétricos quando houver mais formação dos profissionais de saúde e se esclareça o que é o consentimento informado. Desta forma, as mulheres conseguirão estar mais informadas acerca do seu plano de parto, das soluções e das consequências. “As mulheres também têm de ser ativas na procura de cuidados”, acrescenta, “se as mulheres não confiarem nos serviços de saúde, não vão aceder aos mesmos. As mulheres que têm medo de ser discriminadas, não vão querer dirigir-se a uma unidade de saúde por sentirem que é um ambiente hostil”.
Igualmente apostada neste propósito, a Associação SaMaNe, que está inserida em vários movimentos feministas de forma a chegar a mais mulheres e transmitir informação acerca dos seus direitos, presta também apoio psicológico a todas as mulheres que precisam.
“Não quero que as minhas filhas sejam mães daqui a uns anos e estejam a passar por isto”, confidencia-nos Irina Pires. Porém, para a nossa entrevistada ainda existe um longo caminho a percorrer até que o racismo obstétrico deixe de ser “normalizado”.
Por sua vez, Diana Santos passou a integrar a SaMaNe em 2021, na esperança de que as experiências das mães negras em Portugal comecem a ganhar visibilidade. Para si, “o racismo nem sempre é evidente, mas têm de haver sanções para quem o pratica. Infelizmente, as pessoas só aprendem quando há consequências”. Na conversa com o Gerador, confessa-nos que a sua experiência lhe trouxe sequelas negativas a nível psicológico, mas que “está a transformar o seu sofrimento em luta”.


Também a investigadora Catarina Barata quer acreditar que é possível erradicar a violência. “O próximo passo é continuar a investigação e discutir este problema. O poder político também deve investir no setor público da assistência ginecológica e materna, e formar pessoas. Não basta criminalizar a violência obstétrica”, salienta. Já a psicóloga Raquel Costa frisa que “a nossa sociedade é determinada pela qualidade de vida e o bem-estar das pessoas” e que “as populações mais vulneráveis serão sempre aquelas que precisam de mais cuidado”.
“Temos de assumir que existe racismo em Portugal”, conclui Carolina Coimbra, “mas, apesar de estarmos a falar de racismo obstétrico, também recebemos relatos de boas experiências. Nem tudo é mau. E isso traz alguma esperança”.
*Esta reportagem foi inicialmente publicada a 1 de janeiro de 2023.






