Rafaela nasceu nas Caldas da Rainha em 1994. À medida que foi crescendo, nada fez prever que aos 26 anos teria uma vida tão cheia de memórias e acontecimentos que mudariam o rumo da sua vida para o que tinha de ser. Porque tinha de ser. Com 21, recém-licenciada em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema, foi convidada por Joaquim Pinto e Nuno Leonel para dar vida a Santa Perpétua em Pathos, um filme que acabou por se tornar uma trilogia – e foi (também) esse papel que lhe mudou o rumo da vida.
Depois de um episódio que a marca até aos dias de hoje, e certamente marcará para sempre, Rafaela ressignificou a sua relação com o Cristianismo. Desde então, este tem sido um tema recorrente no que cria em nome próprio – ainda que vá trabalhando com outras companhias, como Teatro Praga ou Cão Vadio, no teatro, e que se vá encontrando no cinema com as narrativas de outros realizadores. Em palco, sentiu, durante os últimos anos, que o que criava era “demasiado religioso” [Ad Bestias] ou “demasiado artístico” [Choo-Low]; chegou, finalmente, o momento em que uniu dois mundos que compõem o seu mundo, e assumir-se de forma plena, em performance, como uma cristã queer que quer recuperar os valores primordiais do cristianismo.
Via Crucis, a performance que apresenta em maio na Rua das Gaivotas, e que teria já estreado em fevereiro se os espaços culturais não tivessem fechado, é esse momento. E foi também o momento que serviu de desculpa ao nosso encontro. Na altura ainda sem saber, encontrámo-nos através de uma plataforma de videoconferência na semana que marca as primeiras quatro audiências públicas de Joana d’Arc, que Rafaela inevitavelmente nos faz lembrar, que decorreram a 21, 22, 24 e 27 de fevereiro. Rafaela, que falou a partir da sua vila, para onde se voltou a mudar recentemente, trouxe honestidade e amor para transmitir por via das palavras. Sabe que nem todos a entenderão, mas que a sua história pode chegar às pessoas certas. E é a essas pessoas que quer chegar. Basta estarem dispostas a sentar-se, e ouvir.
Gerador (G.) - Foi Via Crucis que nos proporcionou este encontro, podemos começar por aí. O que é Via Crucis, uma espécie de statement?
Rafaela Jacinto (R.J.) - É um statement [risos]. Estou a tentar que seja porque, durante muito tempo, enquanto performer, tentei separar dois mundos: o mundo artístico do mundo espiritual e religioso. Isto acontecia por me sentir numa caixinha entre as duas coisas, porque não posso ser suficientemente religiosa porque sou uma pessoa queer, e não posso ser suficientemente queer porque sou uma pessoa religiosa; então ficava numa sombra, e tentava separar. E foi o meu maior erro, porque tentava encaixar-me num padrão que não refletia aquilo que eu era, e acabava sempre por correr mal, para mim. Acabava por fazer performances em que puxava sempre um lado ou demasiado “artístico” ou demasiado religioso, e resultava sempre numa auto-sabotagem que me deixava mesmo triste. Eu já tinha feito o Ad Bestias, que era só religioso, depois fiz o Choo-Low, que foi uma loucura total, e que não tinha nada de religioso, e agora decidi juntar estes dois mundos e perceber que é possível. As coisas são todas interseccionais, por isso é possível ser-se queer, e ser-se uma pessoa efetivamente cristã, e encontrar validade nisso. Como tenho uma longa experiência em estar em Mosteiros, é uma coisa que adoro — vou muitas vezes ao Mosteiro de Santa Escolástica, em Roriz, que é da Ordem Beneditina — , comecei a sentir uma ligação com o modo de vida de um monge ou uma monja. Para já, são pessoas que escolhem uma comunidade específica para cuidar sem interferir no resto do mundo, ou seja, diminuem a pegada ou o estrago no mundo porque querem cuidar daquelas dez pessoas, depois podem ser uma pessoa individual, que tem o seu espaço, mas que vive em comunidade (não deixa de haver uma individualidade), e porque a Ordem Beneditina é a mais antiga – começou com São Bento de Núrsia, que construiu o primeiro mosteiro do cristianismo primitivo. Era aquele senhor de barba que vivia numa caverna, sozinho, que depois começou a construir mosteiros e tinha uma irmã que é a Santa Escolástica, daí o mosteiro de Roriz ser da Santa Escolástica. Ele tinha uma coisa muito primitiva que, para mim, são os valores do cristianismo: cuidar dos marginalizados. O cristianismo é dos freaks, dos marginalizados; não é nada daquilo que nós achamos hoje em dia [risos] – a elite. Eu não me revejo, de todo, nesse grupo.
G. - O mosteiro acaba por ser o símbolo da fase pré-gótico, onde começa toda a ostentação ligada à Igreja. E tu vais mesmo ao princípio de tudo e desses valores que foram sendo adulterados com o tempo.
R.J. - Eu acabei por fazer uma pós-graduação em História e Cultura das Religiões e foquei-me no Cristianismo antigo e primitivo, e no Cristianismo atual e contemporâneo. Passei por todo o Cristianismo, porque era mesmo o que eu queria estudar – apesar de também ter estudado o judaísmo para perceber as origens – , mas escrevi muito sobre Teologia Queer e Teologia Feminista. E este estrago todo da ideia de heterossexualidade, de teres de construir uma família, da procriação, nasceu com a Igreja Medieval. Parece que tudo o que está para trás é “puro”, porque tens Cristo a dizer-te para abandonares a família e a abandonar a mãe, porque tens cinco pessoas que são os teus irmãos espirituais, e depois, posteriormente, tens uma ideia de família que não corresponde. As missas eram dadas em latim, não havia a preocupação de que toda a gente sabia ler ou não — e até convinha que não soubessem, para pagarem todos os meses à Igreja. E a Igreja é muito política; o Império Romano cresceu depois de se converter ao Cristianismo por causa do Papa, então parece que toda a história do Mundo é religiosa, porque é tudo política, mas que se esquece completamente dos valores primitivos. Havia mulheres que eram diaconisas, por isso dar uma missa era aberto a elas. Na Grécia, havia um contrato matrimonial entre pessoas do mesmo sexo; isso existia no Cristianismo antigo. Eram casamentos entre irmãos que não se sabe bem se eram matrimoniais, mas à partida, se era para viver o amor em Cristo, estes valores eram transversais a todos e a todas. E parece que se esqueceu totalmente isso… acho que há uma crise muito grande que se está a passar na Igreja Católica, que é esquecerem-se do princípio. Das catacumbas, daquilo que os perseguidos sofriam, da validade do ser humano enquanto pessoa que ama (que acho que é mesmo a célula da coisa). E quando eu visitei um mosteiro pela primeira vez, senti isso.
É muito engraçado porque no início as monjas, naturalmente, comentam “ah, aquela menina de cabelo rapado, que chegou aqui”. Mas é tudo tão puro, sabes? No primeiro dia, sentes que elas estão um bocadinho a questionar “quem é esta pessoa?”, ao segundo dia, já te abrem o Livro das Horas no lugar onde te costumas sentar, e no terceiro, já te estão a oferecer jesuítas e barrigas de freira. Estas realidades não são assim tão distantes… os coletivos queer, LGBTQIA+, não são assim tão diferentes de uma comunidade religiosa que vive estes princípios de amor, só que são separados pela sociedade. Porque se és isto, não podes ser aquilo; porque não encaixa. E a minha ideia com esta performance foi juntar esses dois mundos e perceber que posso ser uma pessoa queer, ativista, artista, posso estar envolvida em montes de atividades disruptivas na sociedade, posso ser feminista, pró-aborto e posso gostar de ir a mosteiros e rezar 24 horas sobre 24 horas com dez velhotas simpáticas. E isso não faz de mim menos queer, nem menos cristã. Vou tentar trazer a liturgia diária – porque no Mosteiro tens de rezar cinco vezes por dia – , que é a Liturgia das Horas — para um espaço artístico em Lisboa, neste caso a Rua das Gaivotas, que é um espaço incrível que me acolhe sempre, e ficar lá das sete da manhã até às onze da noite, a rezar aquilo que lá está. De forma séria, porque acho que se brinca muito com a religião e a espiritualidade – e deve brincar-se, mas não vou fazer um juízo crítico, vou estar só despida de qualquer preconceito, meu também, e vou estar a ler os textos às mesmas horas. As pessoas podem entrar e rezar, ou não, e no fim de todo este dia de oração, a ideia é que na última, que normalmente se chama Completas, que é a que fecha o dia, apareça uma pessoa que é um suposto Cristo contemporâneo, que é o Luís Morais. Trazer um Cristo queer e estar ali a conversar com ele; e dizer que quero dançar com ele, que quero estar com ele, que quero dar-lhe um beijo na boca e está tudo bem. Acho que se passar o dia a rezar num tom mais sério e depois aparecer esse rapaz no final, vais personificar Cristo nele e, se calhar, vais perceber que as coisas podem ser diferentes. Então é um bocadinho por aí, é juntar estes dois mundos, trazer o que está no interior do país para a cidade. E os textos fazem todo o sentido, porque são muito atuais, embora tenham sido escritos há muitos, muitos anos. Nós não filtramos o texto da Bíblia e pensa-se que Deus disse que a homossexualidade está errada, mas Deus não disse nada; tu vais à Bíblia e tens de te lembrar que foi escrito por homens num contexto muito específico da época, e a outra hipótese é que Deus é um Deus vivo, e se ele está a dizer isto aqui, já não habita em ti como é suposto e já não te cria dúvida. Se vês Deus como uma entidade fechada, então também não podes mudar… é um pouco como uma simbiose espiritual. É suposto que Deus seja vivo, que habite em ti e que tu te vás transformando. A minha ideia de Deus no ano passado não era, de todo, a minha ideia de Deus de hoje. Eu achava que não podia gostar da filosofia budista, ou que não podia fazer meditação, que não podia fazer yoga porque as poses do yoga relembram deuses… mas claro que posso. Podemos juntar essas coisas todas, até porque a ideia de teres um mestre é que depois pegues nas coisas do teu mestre e as transformes um bocadinho para o atual. E então isto fez-me pensar muito, fez-me estudar a Teologia Queer e a Teologia Feminista, e comecei a fazer uma filtragem — é importante não te reprimires porque, embora tenhas legitimidade para achar que a Igreja Católica te castrou por completo e te fechou no armário, também podes transformar tudo aquilo que te disseram em coisas boas. Mas tem de haver uma educação religiosa um bocadinho mais progressista, o que também não existe. E é sempre um passo; eu fiz o meu coming out Cristão muito depois de ter feito o meu coming out Queer.


G. - Pois, a tua relação com a religião ressurgiu nas gravações de Pathos, o filme do Joaquim Pinto e do Nuno Leonel, em que tinhas um papel de Santa Perpétua. É verdade?
R.J. - É verdade, é… [risos] Isto já se arrasta há alguns anos, e na altura era só o Pathos, entretanto passado dez anos temos três filmes de quase dez horas: o Pathos, o Ethos e o Logos. Na altura, eu fazia só de Santa Perpétua, eles tinham-me convidado porque eu tinha a mesma idade que ela na altura, ela tinha o cabelo rapado, porque era algo que faziam com as mártires, era uma coisa assim meio violenta, e eu aceitei sem fazer a mínima ideia de quem ela era. Entretanto, o Nuno e o Joaquim enviaram-me o Diário de Santa Perpétua, que é um registo que há dela, que foi um companheiro de cárcere que escreveu, porque ela entretanto morreu e não conseguiu continuar. A história dela é uma loucura: ela era super rica, era filha de um aristocrata, entretanto recusou totalmente a ideia de maternidade, apesar de ter um filho, porque queria seguir a vida de Cristo, não queria ser rica, queria viver na pobreza, e o pai sempre a dizer “não, tens de renunciar à tua fé, porque isso não é digno de uma mulher como tu, e tens um filho para criar”. E ela dizia sempre — “eu não posso dizer-me outra coisa a não ser aquilo que sou” — são as palavras que estão no diário dela — “e aquilo que sou, é que sou Cristã”; e o pai mandou-a para a prisão. O Ad Bestias, que é a minha outra performance, vem daí, porque significa “às bestas”, atirar às bestas os mártires. Atiraram a Santa Perpétua às bestas e houve um touro que a atacou e ela ficou com a anca perfurada, magoou-se no joelho, mas não morreu porque foi salva por alguém. E nós achámos aquilo super interessante e pensámos não em recriar a cena, mas em pôr-me em frente a um touro, com toda a distância e segurança possível, e a hipótese de o touro me atacar era quase impossível — o senhor da praça de touros garantiu-nos que era uma num milhão. Surpresa das surpresas, o touro é um animal super inteligente. Eu estava vestida de escrava e toda pintada de terra, o touro estava do outro lado do calabouço e havia uma pequena porta que não estava fechada. O que o senhor nos tinha dito era que ele ia embater com os cornos nessa porta, mas não ia passar, porque era impossível; só que ele passou, porque virou a cabeça e conseguiu passar por ali. Isto aconteceu no dia 22 de julho, que era o Dia da Maria Madalena, que era uma das personagens do filme. Eu pensei “olha, vou morrer... mas que pena, faço anos amanhã, não queria morrer aos 21”.
G. - Pensaste mesmo isso no momento em que estava a acontecer?
R.J. - Pensei. A primeira coisa que me veio à cabeça foi — “bolas, vou morrer, amanhã faço anos e queria viver só um bocadinho mais”. Foi uma fração de segundos em que pensei isso, e depois ele não me largou; mandou-me contra a parede, andou às voltas comigo… o Nuno estava às voltas com a câmara, deixou-a cair e filmou tudo, aquele pedacinho ficou intacto. E aconteceram-me duas coisas: a primeira foi eu proteger-me imenso, a segunda foi perceber que não conseguia fugir. Assim que senti que não podia fugir, o touro perfurou-me a anca com o corno, completamente. Entretanto, havia uma daquelas vigas fininhas, das obras; eu pego na viga, atiro-me para cima do touro, parecia uma luta pré-histórica. Eu estava à luta com o touro, o Nuno estava a agarrá-lo pelos cornos. Pensei que se não morria, tinha de atacá-lo e tentar fugir dali. Entretanto, ouço o senhor dizer “dá-me a mão”, e só me lembro de fechar os olhos e lhe dar a mão, para sair por uma janela que havia no teto, porque era a única maneira de sair dali. Aí foi o caos, porque percebi que tinha a anca toda perfurada, que tinha um traumatismo craniofacial, que estava toda cortada, que não sabiam se eu tinha hemorragias internas ou não… e fiquei internada nesses dias no serviço de urgências.
G. - E quando estavas internada apareceu alguém com o mesmo nome da irmã da Santa Perpétua, não foi?
R.J. - À minha frente estava a dona Felicidade, que é o nome da escrava da Santa Perpétua, e que é uma das personagens do filme. A história é a Santa Perpétua e a Felicidade, falam sempre das duas — também não se sabe se elas tinham uma relação, há quem diga que sim — mas, no filme, ela faz de minha irmã. E estava ali a dona Felicidade à minha frente. Foi uma sequência de coincidências. Para já, fiquei em choque, não acreditei naquilo, e depois o Nuno dizia-me sempre “bem, há pessoas que vão precisar que lhes contem a história, tu não vais precisar” e eu dizia, “mas isto foi só uma coincidência”. Ele enviou-me o texto todo da Santa Perpétua e foi tudo igual. O touro atacou-a na anca, caiu de joelhos, ela diz que foi puxada por uma janela da luz e não morreu. Aliás, do que vejo no diário dela, nunca ninguém a conseguiu matar, ela só morreu porque se suicidou.
G. - E foi a partir daí que se tornou demasiado evidente para ti, depois da negação?
R.J. - Sabes, já era uma coisa muito presente, eu sempre fui muito ligada a Deus, mas de uma maneira muito específica e muito pessoal. Nunca quis fazer a catequese, não concordava com nada disso, e toda a elite que estava à volta da Igreja, não me dizia nada. Eu sempre fui uma miúda muito solitária, nunca tinha muitos amigos, e encontrava um certo conforto a falar com Deus. A minha mãe dizia-me sempre “fala com Deus para teres um amigo”, e, de facto, isso acontecia, só que à medida que comecei a crescer e a perceber que, se calhar, a minha orientação sexual não era compatível com ser aceite numa missa ou numa igreja, apaguei. Foi uma espécie de memória dissociativa. Apaguei a religião da minha vida, e foi horrível porque eu sentia-me muito perdida, mesmo. Tive os piores anos da minha vida antes desse acidente, porque estava completamente perdida, a tentar corresponder a coisas. Depois, no meio artístico, como sabes, há muito pouca representatividade LGBT e eu queria fazer certos papéis e não conseguia, porque ou tinha os braços tatuados ou tinha o cabelo rapado e não era “suficientemente mulher” – e eu considero-me mulher, embora não corresponda ao que a sociedade espera que seja ser mulher. Primeiro, tentei corresponder a algo hetero-normativo, depois pensei “OK, eu sou religiosa, mas não quero casar nem quero ter filhos”, e andei numa zona negra até ter tido esse acidente. O que é engraçado é que, depois do acidente, não tive aquela coisa de “vamos aproveitar e agarrar-nos à vida”. Adoro que isso aconteça com as pessoas, mas comigo foi só — “agora tenho uma ferida enorme para curar” – demorei quase um ano a curar a que tinha – “ainda tenho imensas dores na anca” – já passaram cinco anos e tenho essas dores, e o corpo meio constrangido do acidente. Esse período foi bom para repensar um bocado: “OK, isto aconteceu, foi uma coincidência, será que quer dizer alguma coisa?” e, a partir daí, as coisas desenrolaram-se todas. Fiz uma peregrinação um ano depois, a Santiago de Compostela, e foi aí que percebi. Decidi ir com a paróquia mais conservadora possível, da minha vila, tentar ver no que ia dar, e o que aconteceu foi que fui com muitos jovens (eu era a mais velha) e às tantas comecei a dar o meu contributo e a dizer “esperem lá, se calhar não é bem assim”. Eu não fazia ideia do que era Teologia, do que era a Bíblia e, entretanto, comecei a estudar por mim, e a tentar fazer essa ponte com esses miúdos, e foi uma viagem super fixe porque percebi que a minha “missão” era contar a minha experiência aos outros, enquanto pessoa queer, e fazê-los acreditar que é possível ser muitas coisas. Não fui assim tão posta de parte, e isso fez-me bem. E foi aí que eu percebi, porque tive uma espécie de epifania, quando cheguei à Praça de Santiago e comecei a chorar, a chorar, a chorar – porque não tinha chorado nada no acidente, tive sempre uma postura muito rígida, então desfiz-me em lágrimas ali no meio da praça, e pensei “se calhar é só a minha consciência humana a dizer que tenho de acreditar em alguma coisa, mas eu vou escolher acreditar”. A partir daí, foi um desenrolar. Fui estudar, depois fui a Taizé e conheci o António Pedro Monteiro, que é um padre super pró-direitos LGBT, já casou duas meninas, e percebi que era mesmo possível. Aprendi tudo sobre a Igreja Católica, estudei tudo sobre a História para também poder dizer — “o teu sermão não está certo; se queres pôr as mulheres em casa, submissas, isso não está certo”. Conseguir denunciar o que está errado, e esses valores que têm de ser ultrapassados. Entretanto, o filme [Pathos] tomou seis anos de filmagens, acabou por ser a minha história enquanto Rafaela a ter projeções de personagens. Ou seja, eu estou a sonhar acordada e, de repente, sou a Santa Perpétua, estou a sonhar acordada e, de repente, sou a Simone Weil, estou a sonhar acordada e, de repente, sou a Vittoria Colonna. Mas é um filme muito sensível e é um bocado complicado falares sobre alguns assuntos, como questões de género, dentro da Igreja; as pessoas não percebem, porque acham que é ameaçador para os valores da família, mas os valores tradicionais da família estão ultrapassados, e as pessoas continuam a dizer — “ah, no meu tempo não era assim”, “isso é uma moda, não são coisas do meu tempo”. Isso é um comodismo, porque o teu tempo é o agora. As pessoas podem ter 10, 60 ou 80 anos, mas estão a viver o mesmo tempo.


G. - Mas há um esforço que tu consegues fazer e que não é muito fácil de se conseguir, também; por um lado, há esses “valores de família”, que são usados como bandeira em países como a Polónia, com governos de extrema direita, mas por outro lado não se ouve muito falar do Cristianismo de uma forma progressista quando se analisam essas situações, uma vez que a Igreja tem um papel muito ativo na falta de progresso. Ainda assim, consegues ir desconstruindo.
R.J. - Completamente, e as pessoas da comunidade LGBTQIA+ com quem eu falo têm toda a legitimidade de sentirem que a Igreja Católica é perigosa e lhes retira segurança, e é vista como um inimigo, mas eu não vou generalizar a Igreja Católica porque sei que dentro da Igreja Católica há pessoas como o António Pedro Monteiro, há comunidades de monjas que acolhem pessoas Trans. Eu acho que a Igreja Protestante é mais progressista, porque tens mulheres pastoras na Suécia, por exemplo, que se podem casar e ter filhos. Depois vem o Papa dizer que as mulheres já podem dar missas, quando tu sabes que as mulheres sempre deram missas, porque quando falta o padre, elas não fazem o sacramento todo, mas fazem a maior parte das coisas. Nós também somos uma sociedade muito matriarcal, só que não é vista da maneira que nós queríamos. Há muitas pessoas que se dizem feministas e que depois acham que a mulher é forte porque está em casa a cozinhar para dez pessoas, quando, se calhar, ela teve de sacrificar os sonhos e tudo o que ela quis fazer na vida, porque teve de ter dez filhos, de repente. É uma zona um bocado difícil e é complicado fazeres essa desconstrução. Eu senti-me muito mal, durante muito tempo. Quando conheci o António, esse padre de que tenho estado a falar, fui com preconceitos; pensei — “mais um padre que vem para aqui dizer para deixar crescer o cabelo, perguntar quando é que arranjo namorado, e eu já não consigo”. Houve uma vez que me levantei de uma missa porque o padre estava a dizer que a mulher tinha de perdoar o marido, porque às vezes o marido estava num dia mau e tinha de descarregar em alguma coisa e “é para isso que a mulher serve”. Eu levantei-me, respirei fundo, fiquei furiosa, apesar de não ter dito nada, e tomei a postura da Simone Weil, que é — “eu não vou entrar numa igreja Católica para compactuar com isto”. Mas, além de estar a fazer uma mudança interior, primeiro, que é esta desconstrução que é muito complicada, quero tentar desconstruir pessoas — pessoas que vêm ter comigo e que me perguntam — “mas é possível? É que eu sofri tanto, a Igreja tentou fazer-me curas gay” — muitas vezes disseram isto. O que tento dizer é: “o trabalho principal começa em ti e tens de perceber que és muito amada, se escolheres ser amada”. Mas esta ideia de haver mediadores entre a pessoa crente e Deus é um bocado um negócio; faz muito bem a algumas pessoas que não se conseguem ligar, mas é um bocado um negócio, temos de ver sempre com desconfiança – e cada vez mais. Portanto, é super legítimo uma pessoa sentir preconceito, mas há uma filtragem que tem de ser feita. Eu acho mesmo que se formos buscar estes valores primitivos do Cristianismo, que é possível construir uma sociedade baseada no amor e na igualdade, mas até lá chegar é preciso bater muito o pé.
G. - Como é que se pensa o cristianismo de um ponto de vista feminista e queer? Identificas-te com as Teologias Feminista e Queer, de que falavas há pouco?
R. J. - Eu acho que o futuro da Teologia são estas teologias progressistas, como a Teologia da Libertação, a Teologia Feminista… na feminista, a ideia é tu deixares de ver as distinções entre homem e mulher que se fazem na Bíblia, saberes que todos os seres humanos são iguais. No século XIX houve, também, um movimento através de uma senhora chamada Elizabeth Cady Stanton, que reescreveu a Bíblia e escreveu a Women’s Bible. Não é aquela ideia que nós temos da Bíblia da Mulher, que é dada pela IURD, da mulher ficar em casa submissa; é uma Bíblia feminista, que empodera as mulheres lá presentes. Depois, também, a Teologia Feminista tem muito em base a Maria Madalena como a apóstula escolhida, porque, para já, ela esteve nestas três etapas e os três apóstolos escolhidos – que dizem ser “a pedra da Igreja” – , quando Deus morreu, foram embora, não acreditaram nela, e ela foi escolhida. E era prostituta. Não era por isso que deixava de ser a preferida. E isto foi tão apagado, depois a Igreja meteu tudo nos apócrifos, como “não vamos ler isto, as mulheres não podem ler isto, se não acaba-se a ideia de quererem ter filhos”. Outro pilar da Teologia Feminista é tu pensares a essência da mulher, porque a Igreja vai muito à essência da mulher, mas o que é isso? É a função reprodutora, claro. É constituíres família, teres filhos, seres submissa, teres alguém a tomar conta de ti, que é o teu irmão, se não for o irmão é o avô, o pai. Há sempre alguém a tomar conta de ti. E é essa essência que é questionada. Na Bíblia, há muitas questões sobre isso, como as escravas que vão dar os filhos às mulheres que são inférteis… mas lá está, foi escrito por homens, num contexto muito específico, muito conservador e muito antigo. Não vamos trazer a Bíblia tal e qual como está para agora, é um erro. Podes aprender com ela para melhorar. Mas depois tens coisas muito bonitas também, como “somos todos iguais”, “não há escravo nem livre”. No fundo, o que a Bíblia Feminista faz é acabar com a distinção entre homem e mulher.
G. - Mas no sentido de não assentar num sistema binário, ou de homem e mulher terem papéis de igual valor?
R. J. - A segunda hipótese. Acho que ainda não há estudos tão avançados, ou não há pessoas que se interessem o suficiente para pôr essa perspetiva não binária, ainda. Na Teologia Queer já se faz isso, já se pensa nestes géneros que foram postos à margem; já vê todos os seres humanos como válidos, como são. Uma das pessoas que eu admiro mais, e que tem falado sobre isso, é a Teresa Forcades, que é uma monja beneditina e médica, e que entrou numas lutas para denunciar a indústria farmacêutica. Ela escreveu um livro sobre Teologia Queer, que já fala sobre todos os géneros. Mas não há grandes referências nesta área; há muitos textos, mas não tem grandes bases científicas, ainda, apesar de se estar a fazer um grande progresso nesse sentido. Eu não vejo por que excluir as pessoas Trans e não-binárias da Teologia Queer, acho que têm um grande papel de destaque, até porque falamos da figura do divino e, muitas vezes, os anjos não têm sexo, a espiritualidade também não tem de ter uma personificação…
G. - É interessante que, ao mesmo tempo, há uma série de figuras femininas importantes na História da Igreja, como é o caso da Joana d’Arc, que tem características muito associadas ao masculino — usar as roupas de homem, combater, ter o cabelo rapado. Sentes que ainda existe, nos dias que correm, um código de conduta no que toca ao que é suposto seres, quando és Cristão ou Cristã? Como é suposto vestires, como é suposto comportares-te, como é suposto estares…
R.J. - Sem dúvida! É engraçado estares a falar na Joana d’Arc, porque há um livro francês muito bom, que diz que ela é a primeira santa queer, porque, de facto, reivindicou para ela uma data de coisas que lhe estavam interditas, como comandar as tropas e conquistar aquele forte para o Rei. E há muitas outras, como a figura mítica da Papisa Joana – é um mito, mas parece que tudo o que nos envolve a nós, mulheres, é um mito. Como a Lilith, a primeira mulher, é um mito, também não existiu. É um mito porque a História foi toda escrita por homens, e mais importante do que a História, é a História paralela, que tem estas figuras que fizeram com que o mainstream se destacasse. Mas sim, há um código muito claro do que é ser católico em Portugal; mas as pessoas que são verdadeiramente cristãs não correspondem, de todo, àquilo. Por exemplo, o Nuno [Leonel] é cristão, está todo tatuado, e vive num mosteiro com o Joaquim [Pinto], onde estão a viver enquanto casal. Eu não percebo, ainda, porque é que o católico tem de corresponder a essa conduta, porque tu vais a Taizé e conheces hippies que são cristãos e espirituais e não seguem nada daquilo, e vês muitos casais de pessoas do mesmo sexo que estão lá a rezar de mãos dadas e isso é completamente normal…
G. - Em Portugal, na verdade, há uma série de fatores que contribuem para isso. Desde o Estado Novo e a propagação do ideal de família, de como é suposto comportares-te como um “bom católico”... depois existe Fátima, e o legado colonial que continua até aos dias de hoje.
R.J. - Por isso é que é tão difícil. Isso sim, parecem-me mitos: a ideia de pátria e família do Estado Novo. Não são mitos, porque criaram muita dor e sofrimento a muitas pessoas, mas a sua concretização é um mito. O líder do partido de extrema direita português dizer que é cristão, para mim, é extremamente revoltante. Não é possível uma pessoa dizer-se cristã e promover os valores que ele promove; não é possível uma família católica onde o marido bate na mulher, reprime os filhos por terem uma orientação sexual diferente, e isso ser o exemplo perfeito da família. Um casal homossexual não pode recorrer à inseminação nem à barriga de aluguer porque já é anti-natura, e não pode dar tanto ou mais amor do que uma família hetero-normativa vai dar? Está tudo muito trocado, e esquecem-se que Cristo saiu de casa e andou aí sozinho a recrutar pessoas para viverem num sistema quase de anarquia. De repente, chega um homem de barbas e atira com as mesas e as moedas todas ao chão — “a César o que é de César, a Deus o que é de Deus”. Hoje ser de Deus ou de César, é tudo a mesma coisa… é horrível. Mas também estamos a passar por uma fase em que as pessoas estão descrentes, querem ver resultados imediatos, não conseguem cumprir o mandamento que é o mais difícil de todos, que é amar o próximo. Ninguém disse que ia ser fácil. Quem me dera que as pessoas percebessem que são todas iguais, e que algumas pessoas percebessem que as pessoas queer são exemplos de resiliência. Nós temos uma forma de atravessar as adversidades que é brutal; não é como se fossemos super-heróis, mas é quase, porque todos os dias se mete uma capa às costas contra o assédio, contra o preconceito, contra a discriminação. É na saúde, é no teu local de trabalho, é na rua. Então, é quase como se fosses super-herói. E uma das coisas de que a Teologia Feminista também fala muito é de que forma é que os crentes normativos vão aprender com os outros. Se houvesse uma troca muito humilde e direta, a Igreja teria um poder diferente – não para o mal, já que a Igreja é um bocadinho maldosa. O que é que um crente normativo tem a aprender com estas comunidades? Eu acho que tem muito a aprender, porque, para já, somos um exemplo de resiliência, de ultrapassar adversidades, de ter sempre propostas de sobrevivência muito maiores, porque temos de nos adaptar a um meio muito dominante. Eu agora mudei-me para o campo outra vez, porque me faz falta o contacto com a natureza, mas também tenho de lidar com a vizinha do lado. Mas tem de se dar visibilidade, e isso começa nos media; tens de criar conteúdos onde as pessoas se sintam respeitadas e onde os outros possam criar empatia. Porque se a personagem Trans é sempre “o freak” e “a aberração”, então as pessoas vão vê-las como “o freak” e “a aberração”. Se a personagem Trans for só uma “pessoa normal, como tu”, então é uma “pessoa normal, como tu”. A linha é tão ténue e os media é que têm esse papel. Se decidires ocultar as pessoas lésbicas de toda a programação, são invisíveis; e na Igreja é a mesma coisa.


G. – Daí também ser importante as pessoas assumirem publicamente, ou identificarem-se como algo? Há muito essa discussão de “porque é que um político tem de dizer que é gay, que é bi, ou que é Trans?”, mas acaba por ser um statement, também — por um lado, para quem se identifica com essa pessoa perceber que pode ser mais do que o que lhe dizem que pode ser, e por outro, para quem não se identifica e não percebe, passar a entender que essa questão é apenas uma camada da vida da pessoa.
R.J. – Durante muito tempo, eu achei que a minha orientação sexual fazia só parte da minha vida e que não tinha de andar a dizer a todo o mundo, mas depois penso — “o inimigo está a avançar com a sua ideologia de extrema direita e eu estou só confortável, porque, no meu privilégio, decido não dizer”. E, para mim, — porque todas as pessoas têm todo o direito de escolher —, se temos o lugar de fala e se temos a hipótese, devemos fazê-lo. Há muitas figuras públicas que não o fazem porque têm medo de perder o trabalho, mas isso só vai criar uma lógica de “não podes dizer que és gay, porque podes perder o teu trabalho”. Tem de haver mais santos queer, não sei... mas parece que a nossa luta só fica concluída quando a última criança queer estiver 100% confortável na sociedade, se não há muito por fazer, cada vez mais. Ontem deu aquela reportagem sobre a morte da Gisberta, na TVI, e foi ligeiramente reconfortante quando a jornalista disse “um longo caminho que teve de se percorrer para que as pessoas possam mudar o seu nome no cartão de cidadão”, mas depois aparece o agressor que está arrependido, porque tinha 15 anos e não sabia o que fazia. Foi um crime de ódio. Vamos mudar o prisma, vamos dizer que foi um crime de ódio, vamos educar. Nunca se falou na palavra educação, nunca ninguém disse — “o que é que podemos fazer para que isto nunca mais volte a acontecer?”. É só “um travesti não sei das quantas” – havia notícias horríveis. E é muito fácil informares-te e teres entendimento sobre estes assuntos, se procurares. Depois, legitima-se apenas a sociedade binária, mas o resto sempre existiu; sempre. Só que foi marginalizado. As pessoas antes de fazerem um coming out, já o fizeram na sua cabeça umas dez, vinte ou trinta vezes, a pensar como é que vão sobreviver na sociedade sendo aquilo que são.
G. – Lembro-me de teres dito numa entrevista que o teu coming out cristão foi tão ou mais difícil quanto o teu coming out queer. E outra coisa que dizias lá era que, mesmo no meio artístico, sentiste algum preconceito – não sei se ainda o sentes – quando assumias a tua fé perante as pessoas.
R.J. – Eu senti muito na altura, porque também não tinha conhecimento de alguém à minha volta que também o fosse. Dependeu um bocado das pessoas com quem trabalhei, mas houve algumas pessoas, que são ateístas, que gozavam um bocadinho, não sei se por ingenuidade – “lá vem aquela com as histórias dos mosteiros”. “Ah, tu vais para monja”. Era sempre um bocadinho depreciativo... não sei se as pessoas queriam perceber. Acho que é por esta revolta de sentirem preconceito por parte da Igreja, que as fazia sentir uma distância... e depois tu, enquanto cristã, também tens de fazer algo na sociedade. Nem que seja distribuíres comida às pessoas. Então, muitas vezes as minhas referências eram cristãs, sempre andei com uma santa dentro da mochila ou com uma Bíblia, uma liturgia, com textos religiosos. E, às vezes, estava a ler sobre isso e as pessoas perguntavam — “estás a ler sobre quê?” — e a reação era um bocado — “pronto, lá vem ela com as igrejas”. Não era “normal” uma pessoa que é artista ou trabalha no meio artístico acreditar em Deus, porque era contraproducente – diziam eles. “Estás a ter uma crença cega numa coisa que não existe”. Isso fazia-me muita confusão. Não é à toa que 2021 anos de História te chegam com o impacto que chegaram. Mas senti um bocadinho, sim... senti muito no início, e depois tive de bater o pé, porque deixava que as pessoas me gozassem. Um dia, num ensaio, alguém começou a gozar, porque quando eu fazia digressões gostava de ir visitar as igrejas locais – mais pela arquitetura e pela arte, até – e houve um dia que estávamos em Madrid e eu gostava de ir ao Museu de História Natural, que tem muita história religiosa, e tinha trazido qualquer coisa, um ícone ou algo do género. Alguém começou a gozar e eu tive de dizer — “parem com isso, não faz sentido, já chega”. As pessoas começaram a chamar-me para trabalhos e a dizer — “mas eu ouvi dizer que és muito religiosa, e essas coisas” — e essas coisas? Já me estão a pôr numa caixa, e eu nem sou nada o que se espera de uma pessoa católica. Não sou uma santa, de todo. Comecei a ficar muito desconfortável com essas situações e a dizer que sim, sou religiosa, mas isso não vai definir o meu trabalho. A última pessoa com quem trabalhei foi o Luís Miguel Cintra, que é uma pessoa católica, e eu senti que nós aprendemos muito um com o outro. Mas já passei por diversas experiências, como trabalhar com Companhias que supostamente eram muito abertas e, afinal, não eram assim tão abertas, e de pessoas que supostamente seriam muito fechadas a novas perspetivas e que se revelaram super disponíveis para aprender e ter estas novas perspetivas.
G. – Para ouvir.
R.J. – Eu acho que isso é o balde do mundo. Acho que basta ouvir. A Simone Weil dizia uma coisa incrível, que era que a atenção pura é a maior forma de amor, porque tu estás a ouvir, estás mesmo atenta. Nós agora estamos a olhar para a pessoa e passado um bocado já nem nos lembramos. O mesmo é válido para as pessoas normativas – eu também quero conversar com uma pessoa normativa e perceber o que é que a levou a aceitar as coisas como elas são de uma forma tão rígida; também é importante haver esse diálogo. O problema é que, para nós, isso implica estarmos quase frente a frente com o agressor, percebes? É sempre muito desconfortável, por isso é que tem de haver uma ponte, que não existe. Eu acho que não senti tanto preconceito quando assumi a minha orientação sexual – se calhar, a minha mãe ficou um bocadinho incomodada, mas depois tornou-se normal. Apesar de, enquanto pessoa queer, teres de escolher muito bem o sítio em que queres viver, onde te podes sentir segura.
G. – Talvez na vila em que estás agora seja mais fácil seres cristã e mais difícil seres queer, e na cidade o contrário...
R. J. – É verdade [risos]. As pessoas acham graça. Algumas pessoas já me viram na missa, e ficam um bocado “humm o que é que temos aqui?” [risos], mas também não vou deixá-las desconfortáveis. Sempre que posso conversar com elas, faço-o sem problema nenhum, só que também tenho de perceber que há sítios em que é complicado. Como esta vila, eu sempre vivi aqui e saí por me sentir sufocada; saí porque não podia ser quem era e porque, apesar de a minha mãe me aceitar, as pessoas falavam, e as coisas recaíam sempre sobre terceiros. Isso era muito desconfortável, e saí por isso mesmo. E voltei pela saturação da cidade, por estar super desligada, haver muitos estímulos, pela parte espiritual ser completamente posta de parte, de eu não conseguir, no meio de cimento e betão, sentir-me conectada com a natureza de forma alguma. Mas voltei para cá assumindo a postura de “tenho de trazer a minha experiência para meios mais pequenos”, porque a educação passa por descentralizar.
G. – Voltando ao que nos juntou, Via Crucis, e pegando no que dizias há pouco de gostares de andar sempre com textos bíblicos, reparei que no texto de apresentação da performance tinhas um provérbio que era algo como “o orgulho vem antes da destruição; o espírito altivo, antes da queda”. Queres falar um bocadinho sobre ele?
R.J. – Foi um bocado ambíguo, porque o orgulho vir antes da destruição é irónico. Queres andar com o teu orgulho todo, mas isso também te provoca dano. E foi porque me perguntaram qual era a minha biografia e eu achei que esta era perfeita, porque a primeira parte é irónica e a segunda fala do espírito altivo e do que acho que tem de acontecer: o ego tem de morrer para que todos nos unamos numa só entidade, seja ela qual for. Pensei — “vamos pôr uma coisa séria e outra irónica” —, porque eu não consigo deixar de ser sarcástica, mesmo num assunto que esteja ligado à religião, por isso é que vou pôr músicas de RuPaul [Drag Race] na performance; não pode ser tudo muito sério, se não as pessoas vão achar que não é possível falar. Já reparaste que eu falo de Deus como um gajo de barbas? É o que me faz sentido, porque se o vou pôr como um senhor sentado num trono, a falar para as pessoas cá em baixo, deixo de sentir empatia com Deus. Essa frase vem com um misto, e o orgulho acaba por te trazer destruição porque tu não podes ser orgulhosa, porque te destrói de várias formas, não podes ter um ego muito elevado, porque acabas por te prejudicar e não ajudar os outros, e não podes andar com a bandeira LGBTQIA+ porque corres o risco de, quando fores na rua, te maltratarem. Pareceu-me uma passagem com dois propósitos.
G. – Também é preciso as pessoas não se levarem tão a sério e saberem rir de si próprias (?)
R.J. – É mesmo a morte dos artistas. As pessoas levam-se muito a sério, querem corresponder a padrões, depois reprimem-se. A questão do amor próprio, parece muito cliché, mas é mesmo importante. É como aquela frase de RuPaul, “if you don’t love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?” As pessoas vão-se reprimindo, tentando corresponder a padrões, tentando ser muito sérias e muito rígidas, e isso corre muito mal. Depois, causa constrangimentos; tens de saber rir de ti própria. Com uma pandemia em cima, com confinamentos, com palavras de proibição a toda a hora, se não te ris...
G. – No começo da nossa conversa também dizias que antes fazias coisas demasiado religiosas ou demasiado “artísticas”, mas acho que, no que vais fazendo, há uma certa fusão de tempos cronológicos e de temas aparentemente distantes. Sinto que fazes isso no teu livro de poemas, Regime – tens palavras mais herméticas que combinas com elementos pop, e do teu tempo. Sentes que o teu lugar na arte acaba por ser um espaço em que os tempos que te unem, também se unem entre si – o teu tempo do agora e o teu tempo ancestral?
R.J. – Eu sempre achei que tinha de ser uma coisa ou outra. Para mim, foi uma questão de sobrevivência. Depois, percebi que sou muitas coisas; que tenho um fascínio imenso pela Idade Média, tenho um fascínio imenso pelo Cristianismo Antigo, mas também sou fascinada pela ficção científica e pelo cyberpunk – o que é que eu faço à minha cabeça? Parece que vivo num filme, não consigo organizar. E a escrita, de facto, é onde consigo fazê-lo melhor. É onde consigo cruzar estas referências todas: esta minha suposta vida ancestral, a vida futura, o presente. E fundir estes tempos. O filme do Joaquim também me ajudou a fazer isso, porque se passava em três tempos – 2017, 2028 e 2038 – e eu tive de aceitar que vivia em três tempos; que vivo em três tempos. Passar isso para a escrita foi muito mais fluído, porque podia pegar num poema sobre a Maria Madalena e falar sobre a influencer que tem medo de perder followers, por exemplo. No teatro é mais difícil enquanto personagem, por isso é que também passei a fazer performance enquanto meio de sobrevivência, porque consigo dar voz àquilo que preciso. E aí, na performance, é juntar a escrita ao visual: os momentos de lypsinc com o estar de joelhos a rezar durante dez horas, vale tudo. E é tudo deste tempo, porque está a ser feito agora.
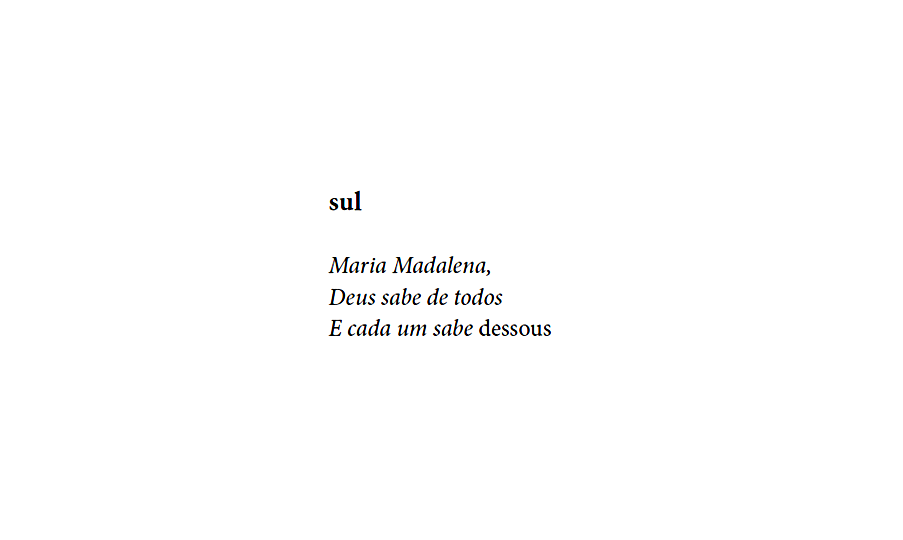
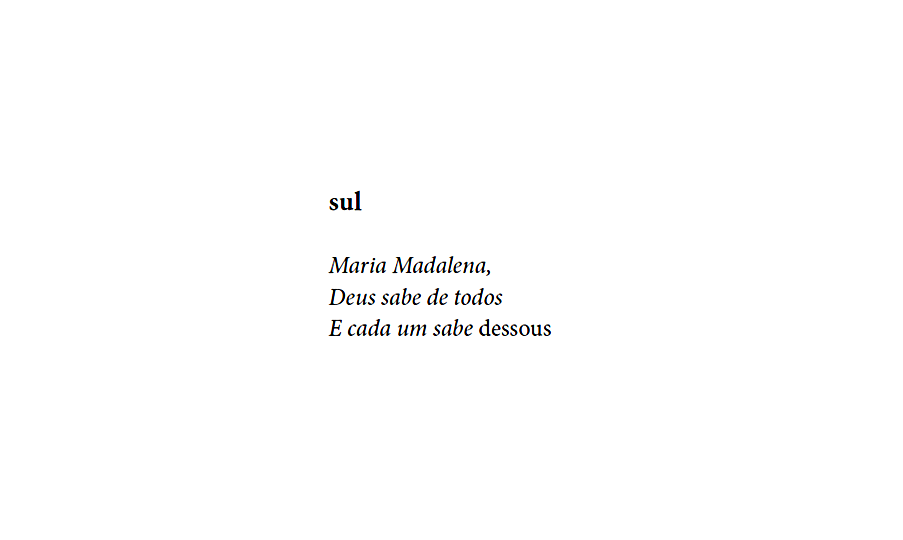
Texto de Carolina Franco
Fotografia de Nônô Noxx
Se queres ler mais entrevistas sobre a cultura em Portugal, clica aqui.






