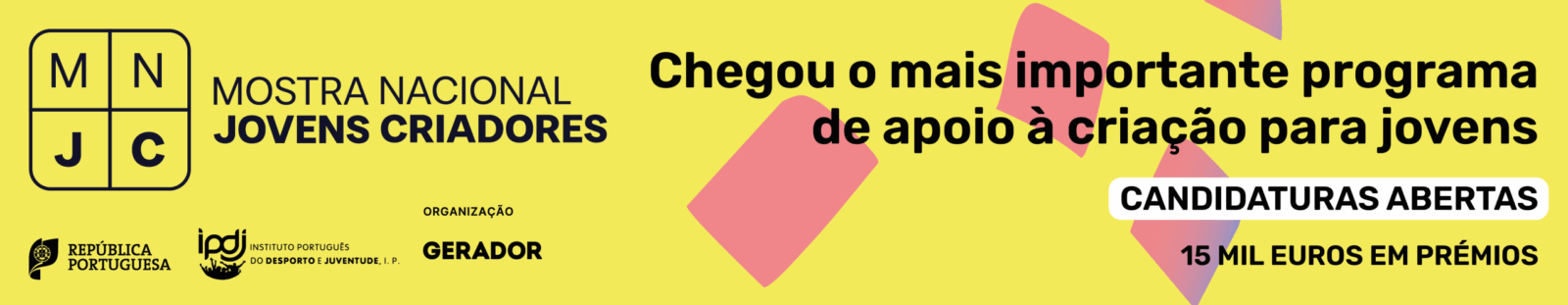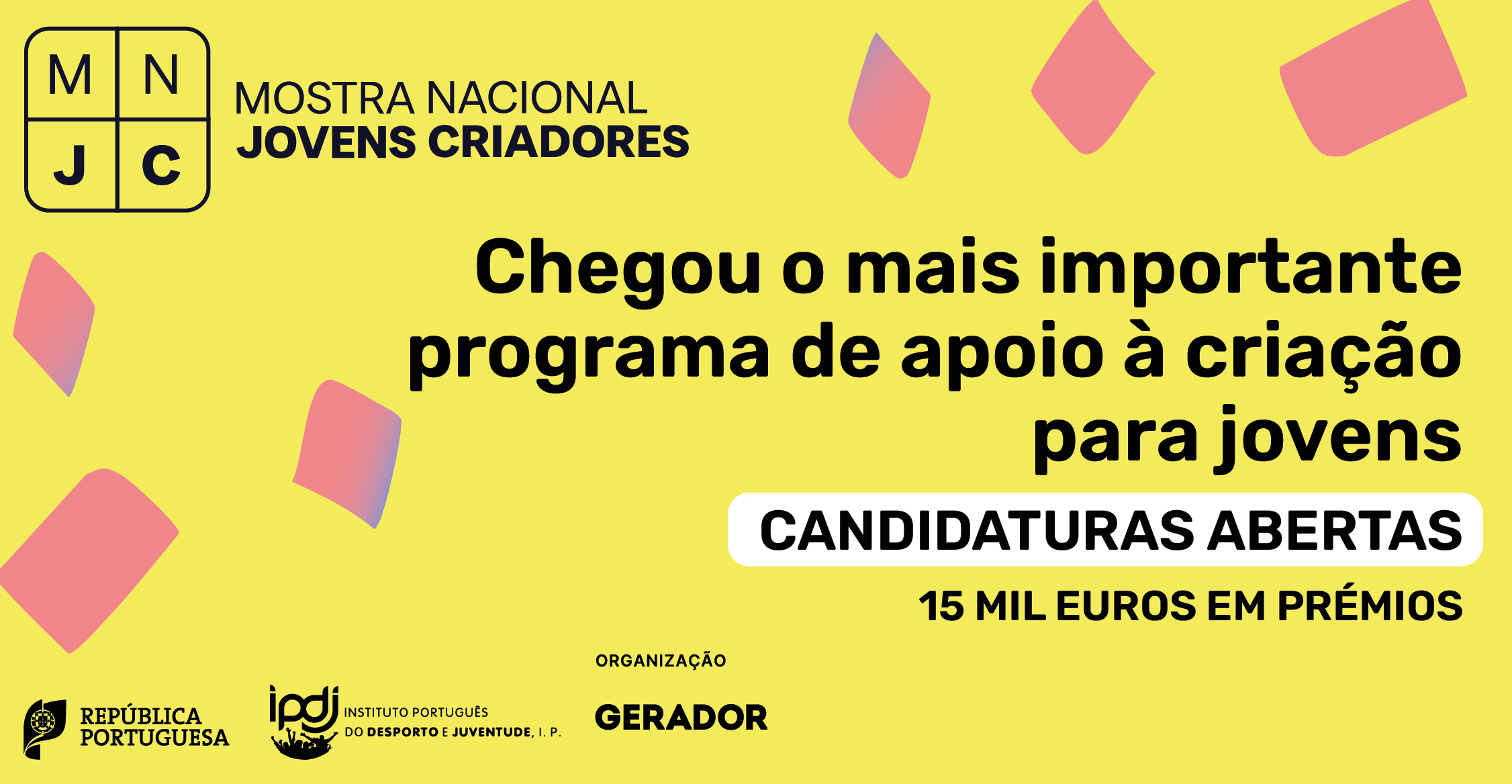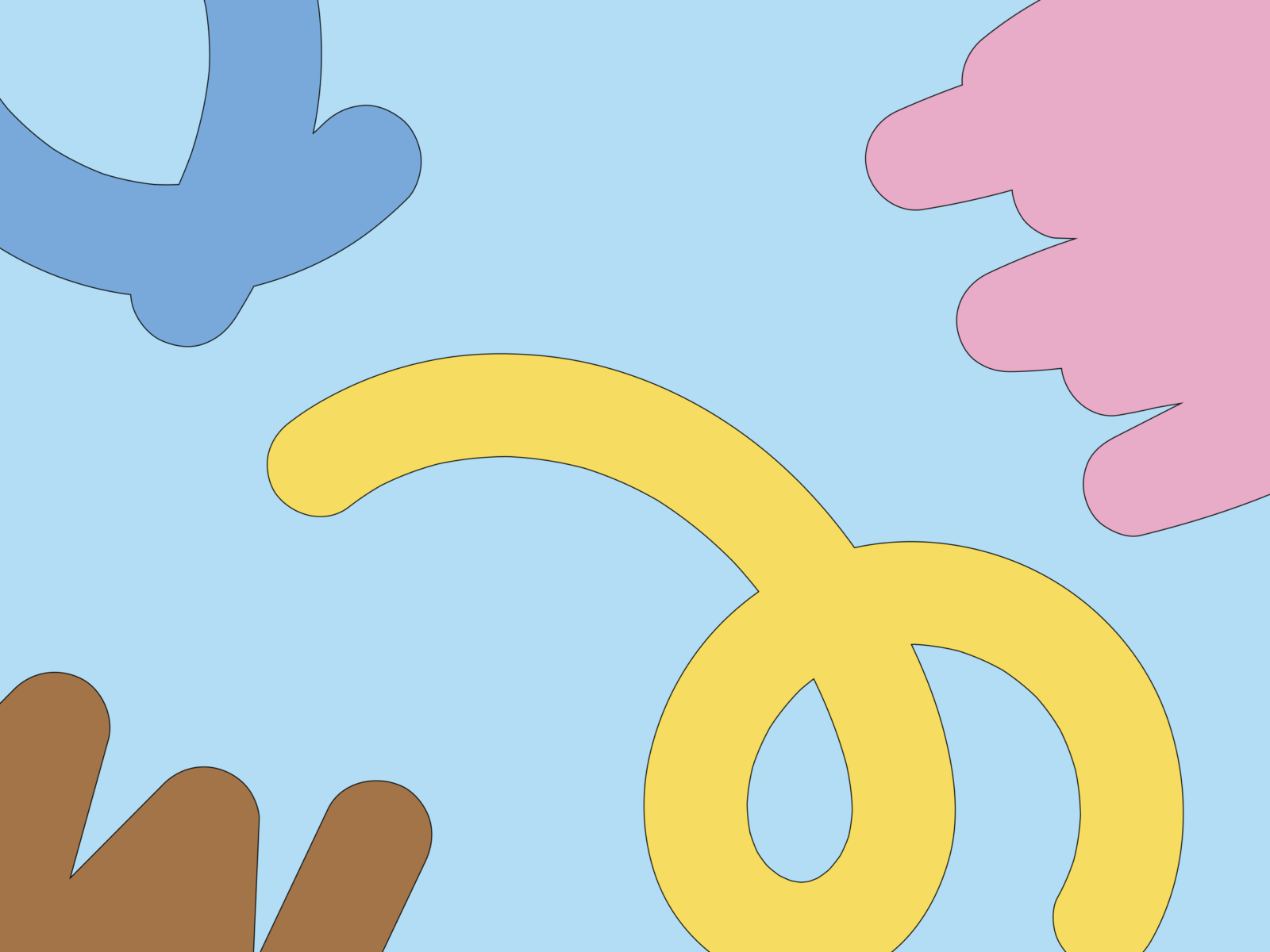Há alguns anos, quando eu estava no início do atribulado processo que é uma transição de género, convidaram-me para participar num debate sobre transfake. Recusei, dizendo que não sabia nada sobre o assunto e que não fazia sentido participar num debate sobre uma questão que desconheço.
Explicaram-me que transfake é o nome dado ao ato de pessoas cis (as que se identificam com o género com que foram designadas à nascença) interpretarem personagens trans, seja no teatro, no cinema ou na televisão.
A minha primeira reação foi defender a crença de que um ator se pode transformar em tudo. Esta é uma ideia à qual todas e todos somos expostos ainda na infância, quando também percebemos que na televisão, no teatro, no cinema, acontecem coisas a fingir, das quais não precisamos de ter medo.
Somos muito menos expostos a identidades trans, no palco ou fora dele. Se encontramos uma pessoa trans no palco, também ficamos livres de medos? Podemos dizer que era a fingir? Ou os nossos corpos estão demasiado carregados de verdades?
Ao longo do meu percurso e graças à proximidade de pessoas pertencentes a outras minorias, fui percebendo a complexidade que envolve o transfake e como não se trata da capacidade de representar ou não um papel.
A história das artes performativas é também uma história de exclusões, trágicas tanto nas raízes como nas consequências.
Na época Isabelina, as mulheres estavam proibidas de representar, por isso todos os papéis femininos criados por Shakespeare foram inicialmente representados por rapazes. Ainda no século XVI, em Itália, o Papa Sisto V proibiu as mulheres de cantarem em público. Isto levou a que, nos séculos seguintes, milhares de rapazes fossem brutalmente castrados antes de atingir a puberdade, para não perderem a capacidade de atingir as notas agudas dos cânticos religiosos.
Nos EUA, no rescaldo da abolição da escravatura, pessoas negras foram proibidas de exercer cidadania, de andar em transportes públicos ou de participar em eventos culturais. Nessa época, e por muitos anos, atores brancos pintavam os rostos para ilustrar os comportamentos que as pessoas brancas associavam às negras, ridicularizando-as e acentuando os estereótipos negativos, e com eles o racismo e a segregação.
É esta a origem do blackface, e a razão de ser uma prática tão ofensiva, racista e inaceitável em qualquer circunstância. Mesmo no Carnaval, mesmo na brincadeira.
O transfake é mais um elo de uma longa cadeia de exclusões. Também esta prática exclui uma minoria dos palcos e dos ecrãs, enquanto a substitui por representações caricaturais que reforçam os estereótipos e a discriminação.
As identidades trans são ainda mal conhecidas e as pessoas têm dificuldade em reconhecê-las. Por exemplo, muita gente interpreta as mulheres trans como homens maquilhados que, por motivos perversos, se fazem passar pelo que não são. Esta crença é a base de muita violência sobre mulheres trans e é reforçada cada vez que um homem interpreta o papel de mulher trans.
Lutar contra o transfake é lutar contra a manutenção da violência transfóbica.
Atribuir papéis trans a atrizes e atores trans humaniza os personagens, gera empatia e oferece oportunidades de integração a uma das populações que enfrenta mais dificuldades no acesso ao trabalho.
Mas a discussão sobre o transfake encalha em muitos mitos. Um deles é o de que quando pessoas trans interpretam personagens trans, não estão a atuar de verdade.
Será que podemos dizer que Robert de Niro não representou verdadeiramente quando no “Taxi Driver” interpretou um homem que, tal como ele, era branco, cis e heterossexual?
O argumento da “verdadeira representação” está insuflado de transfobia porque assenta na crença de que, enquanto a realidade cis é diversa, a realidade trans é singular. Como se todas as pessoas trans fossem iguais e passassem pelas mesmas experiências. Como se bastasse ouvir falar uma para as conhecer a todas.
A única forma de desfazer este mito é dar a conhecer mais pessoas e realidades trans, e a arte é uma excelente forma de o fazer.
Consigo imaginar a reação dos atores a quem a dada altura foram retirados os papéis de Julieta ou de Ofélia e de como terão achado escandalosa a presença de atrizes nos palcos. Ainda para mais, mulheres a representar mulheres, como se os homens não fossem tão bons ou melhores que elas, que nem tinham prática de representação.
Sempre que se procura corrigir uma desigualdade surgem vozes de protesto, principalmente daqueles que beneficiam do estado das coisas. No dia 19 de Janeiro, uma manifestação anti-transfake organizada por um grupo de ativistas trans interrompeu o espetáculo “Tudo sobre a minha mãe”, no Teatro São Luiz, em Lisboa. O rosto mais visível desta organização foi o da atriz Keyla Brasil, que invadiu o palco e deu voz ao protesto. Desde então, Keyla Brasil não parou de receber ameaças de morte. No momento em que escrevo este texto, Keyla está desaparecida há 72 horas.
-Sobre a André Tecedeiro-
André Tecedeiro é um escritor português nascido em 1979. Tem licenciatura e mestrado tanto em arte como em psicologia. Publicou sete livros de poesia, sendo o mais conhecido “A Axila de Egon Schiele” (Porto Editora, 2020).