A Metamorfose dos Pássaros. O título da primeira longa metragem de Catarina Vasconcelos faz, desde logo, prever que entre o filme e quem o vê haverá uma proximidade poética, como se tudo o que há de sagrado estivesse ao alcance das mãos. É como se conhecêssemos o filme antes sequer de o ver; como se sempre tivesse estado lá, como um registo a que fomos recorrendo pela vida fora. Ver o filme torna-nos de facto próximos — há uma confirmação da ideia de que sempre esteve lá. É que na vida de Catarina, o filme estava lá antes sequer de ter aberto os olhos para ver o mundo pela primeira vez. Estava lá a partir do momento em que os seus avós nasceram, ou até desde que os pais dos seus avós nasceram.
Quando é que um filme nasce, afinal? A Metamorfose dos Pássaros acordou quando Catarina Vasconcelos soube que o seu avô tinha pedido aos filhos para queimarem a correspondência entre si e a sua avó, companheira de uma vida. É pelas palavras de Henrique, o seu avô, e Beatriz, a sua avó, que Catarina nos começa a guiar pela história que dava um filme quase desde que as primeiras sequoias nasceram na América do Norte. Na vida longa destas árvores-mãe, cabe uma imensidão de vidas e de mortes. Cabe a história de Henrique e Beatriz, dos seus pais, dos pais dos seus pais, dos pais dos pais dos seus pais. Cabe a história dos seus filhos. Cabe a história de uma ditadura que os puxou para o chão na idade em que queriam voar. Cabe a história de Catarina, do dia em que nasceu, do dia em que uma parte de si morreu com a sua mãe.
No tempo que define a categoria de A Metamorfose dos Pássaros enquanto longa-metragem, cabem vidas ancestrais e as que estão por vir. Entre respirações, vão havendo silêncios necessários para que possamos guardar na memória aquela frase ou aquela imagem. No fim, o silêncio toma conta de nós. É preciso ir caminhar, sentarmo-nos num banco de jardim enquanto a brisa corre; arranjar tempo para a solidão de quem acaba de encontrar uma parte de si que ainda não conhecia: a parte que só existe depois deste encontro.
Numa mesa ao fundo da Cinemateca, Catarina espera-nos iluminada pela pouca luz natural que entra de fora, com a sua camisola azul. Nessa semana, o seu filme estreava nas salas de cinema do país depois do sucesso em Berlim, no ano passado, e do entusiasmo com que foi recebido em Espanha, este ano. Na conversa, a mesma sensação de um encontro que já lá estava antes de estar.
Gerador (G.) – Há um diálogo que partilhas com o teu pai, no filme, que aconteceu durante a rodagem. Cruzaste-te com uma senhora na feira da ladra, a Esperança, e, quando disseste que as compras que ias fazer eram para um filme, ela perguntou “faz filmes?” E tu respondeste “estou a fazer este”. Podias ter escolhido muitas formas de contar esta história, mas escolheste fazer um filme. Porquê?
Catarina Vasconcelos (C. V.) – Eu não estudei cinema, venho de Belas-Artes e antes fiz o Conservatório. Toco violino desde os 7 anos, e a primeira arte pela qual me apaixono é a música. Depois do Conservatório, decido seguir Belas-Artes — eu queria ir para Pintura ou Design de Comunicação, mas como não sabia desenhar, achei que era inglório seguir Pintura. Fui para Design de Comunicação e quando estava a fazer a licenciatura, comecei a fazer teatro no grupo de teatro do Técnico. É um momento muito importante da minha vida, porque é a primeira vez que começo a fazer algo próximo das artes do espetáculo. Já havia a música, mas aqui era diferente. Acabei a faculdade de Belas-Artes e decidi estudar Antropologia Visual. A minha mãe era das ciências humanas, era socióloga, e eu achei que já chegava de arte, o que eu queria agora era perceber as pessoas. Uma grande utopia, de alguma forma, e na Antropologia Visual estava muito próxima da ideia de documentário. Durante um ano, vi o início do cinema, que, na sua génese, estava muito próximo da Antropologia; eram filmes para estudar, como se dizia na altura, “o outro”. No fim deste primeiro ano, tinha enviado uma candidatura para o Royal College, em Londres, e entrei no mestrado lá. Mudei-me para Londres e, durante dois anos, passei todo o tempo que tinha a ver filmes. Acho que o facto de ter estado em Antropologia Visual e ter começado a fazer exercícios com câmara ajudou, e quando acabei o Royal College o meu projeto final foi uma curta. Fiquei muito contente quando percebi que era possível juntar a música, a literatura, o teatro, a performance num sítio que era um filme. Isso apaziguou-me, de alguma forma. As minhas primeiras dúvidas em relação a fazer um filme surgiram nesta curta porque, tal como este filme, era sobre a morte da minha mãe. Ainda pensei em fazer uma performance, mas como efémera por efémera já era a vida, era muito mais interessante ter um objeto, um filme neste caso, que pudesse perdurar no tempo. A performance pode ser repetida, mas os nossos corpos envelhecem e ali, de alguma forma, as imagens ficam paradas no tempo. Por isso, quando fui fazer A Metamorfose dos Pássaros já vinha, de alguma forma, com este pontapé de saída que era Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso, a curta.
G. – É curioso falares de como o cinema agrega tudo o que fazes. A pintura e as tuas referências das Belas-Artes são bastante evidentes n’A Metamorfose dos Pássaros. Mas sobre essa questão do tempo e de como o tempo da vida te trouxe uma série de possibilidades e respostas, lembro-me de logo no início sentir que Henrique, o teu avô, viveu para reencontrar Beatriz, a tua avó. O tempo é uma questão que atravessa todo o filme, e fica a ideia de que tudo vai continuar aqui depois da nossa passagem. O mar vai ficar lá, as árvores provavelmente também continuarão nos mesmos lugares – seja quando alguém nasce, ou quando alguém morre.
C. V. – É muito esquisito. A vida é uma coisa muito esquisita, no sentido em que há um fim, mas passamos a vida toda a evitar falar sobre isso. “Não fales nisso”, dizem muitas vezes. Como se o falar nisso chamasse o que já está lá. Eu não tenho uma relação de proximidade com Deus, como a minha avó ou o meu avô tinham, para acreditar também nesse reencontro. Mas acredito que tenho de acreditar em alguma coisa. Quando acontece a morte da minha mãe, surge um vazio e há uma necessidade muito grande de acreditar em alguma coisa para que isto faça algum sentido, porque há um lado um bocadinho inexplicável do que é a morte. Por mais cética que eu seja e ache que nós morremos e acabou, há um lado de mim que quer acreditar que há mais do que isso e que os nossos mortos não nos abandonam verdadeiramente, estão perto de nós de alguma forma. Eu percebi com a natureza, que era uma coisa muito próxima da minha mãe e da minha avó, pela qual nutriam um grande amor, que há alguma explicação da vida. A seguir ao inverno, onde tudo morre ou adormece, vem a primavera, onde as coisas podem renascer. Mesmo que não se acredite na vida depois da morte, a natureza mostra-nos que há uma vida que vem depois de uma determinada morte. Há todas estas elipses entre o movimento da vida humana e o movimento da vida natural, e interessa-me perceber como é que para mim própria há também uma ideia de sagrado, de não palpável, que nos pode trazer alguma luz no processo de luto. Demorei algum tempo a perceber, mas o processo de luto não é só pela pessoa que morre, há também um luto por nós próprios porque há uma parte de nós que morre também, que é a parte que nós éramos com estas pessoas. A parte que eu era com a minha mãe, morreu. Nunca mais vai existir. E esse é um luto que também temos de fazer, e que temos de aceitar.


G. – “Há árvores que viram os nossos pais nascerem. E árvores que viram os pais dos nossos pais nascerem”. Interessa-te pensar na ancestralidade, no sentido em que somos compostas por todas as árvores que vieram antes de nós? Também tu és produto da tua mãe, do teu pai, dos pais dos teus pais, dos pais dos pais dos teus pais.
C. V. – Sem dúvida, e também esta ideia de nos colocarmos em perspetiva em relação às coisas que já existiam antes de nós cá estarmos. As sequoias, da América do Norte, já lá estavam antes de alguém dizer que tinha descoberto o que quer que fosse. Essa relação com a natureza que já habita o planeta Terra há muito mais tempo que nós, traz-nos uma certa perspetiva sobre a nossa existência. A mim, também me traz consolo. Há um momento estranho quando nós perdemos alguém, em que é tão estranho a vida continuar a correr; os rios continuarem a correr, as ondas continuarem a ser geradas. Mas há um lado que nos mostra que ainda bem que a vida continua. Ainda bem que esse movimento da vida para a frente continua, porque isso é fundamental para nós também continuarmos, de alguma forma. E por isso, ter coisas que já cá estavam antes de nós e que vão continuar depois de nós nos irmos embora é algo que me dá esperança, de alguma forma. Há coisas que são maiores do que eu.
G. – Isso lembra-me a questão dos filhos que não querem ser iguais aos pais – que se sente um bocadinho também nos teus tios e no teu pai, quando os mostras como filhos de uma geração que vê as coisas de outra forma. Há até uma frase da Beatriz que diz algo como “criamos os filhos para eles serem melhores do que nós, mas isso também me assusta”. Os filhos estão já num outro lugar, mas só estão lá pelo caminho feito pelos pais.
C. V. – E é muito difícil de romper. As discussões entre pais e filhos, ou as discussões que tenho com o meu pai, vêm dessa ideia de hereditariedade, do que eles herdaram dos que vieram antes deles. De repente aquilo que eu trago entra em colisão com aquilo que o meu pai sente. No caso desta família, especificamente, há a acrescentar a isto tudo o período histórico que era vivido, que era uma ditadura, e a não existência da liberdade de expressão, as regras completamente conservadoras e nacionalistas sobre como é que as pessoas podiam ou não andar na rua. De alguma forma, este confronto com os pais é também um confronto com uma determinada forma de estar em Portugal. Mesmo que os meus avós pudessem pensar “eu percebo o teu ponto de vista”, o meu avô nasceu em 1926 e a minha avó pela mesma altura, no início da ditadura em Portugal. Viveram a sua vida toda em ditadura. O meu pai e os meus tios começaram a ter acesso ao que se passava em França, em Inglaterra, começaram a ouvir os discos dos Beatles. E isso são influências que são tão profundas em quem eles são que começaram a sentir que a vida que eles tinham podia ser muito melhor, e que era insustentável viver-se como se vivia. Este choque geracional tem duas camadas, de alguma forma – o que existe em todas as famílias, diria eu, e depois uma camada histórica.

G. – Que se liga muito também com uma frase que anotei e de que gostei muito. Dizia algo como “os filhos só pertencem aos pais quando são crianças, quando crescem têm de os partilhar com o mundo”. Há um certo controlo na infância que se começa a quebrar quando começas a sair. Lá fora, és tu que escolhes que contactos vais ter com o mundo.
C. V. – Até porque há uma coisa que acontece nos jovens, que é a criação dos grupos de pares. Quando vais para a escola, começas a criar o teu grupo de pares e os pais podem pouco ou nada fazer em relação a isso. É muito pouco provável que possam escolher quem vão ser as amizades dos seus filhos, e há uma altura da vida dos jovens em que o grupo de pares é muito mais importante do que a própria família. Eu sinto que, de alguma forma, isso também acontece neste filme, com estas pessoas, mas não é exclusivo deles. É de todos, todos nós temos isto das pessoas encontrarem quem são e que isso vá além daquilo que os pais lhes passaram. Quando ganham essa independência são capazes de sair de dentro da moldura rígida que estes pais queriam, se calhar, manter.
G. – E quando saem começam a perceber que, se calhar, nem tudo era como lhes tinham contado ou ensinado. A coleção de selos do teu avô, analisada pelo teu pai, traz algumas questões sobre as histórias que nos contam e as que passamos a conhecer mais tarde. Percebemos que há muitas histórias dentro da História, que não existe uma história única.
C. V. – Acho que esse momento dos selos é fundamental para contar o período histórico que estamos a viver. Sem isso, haveria poucos momentos em que poderíamos falar sobre o assunto. Há a revista Flama que diz “Salazar morreu”, mas esse momento é fundamental para percebermos em que país estamos e que características são estas deste país que, de repente, diz que o seu país também é Angola, Moçambique e Guiné. Que raio de país é este? Eu devo dizer que este momento foi altamente conturbado entre mim e o meu pai, porque o meu pai estava a ler a cena e disse “isto é revisionismo histórico, porque eu nesta altura não tinha esta consciência que estás aqui a colocar, o que eu sabia era que não queria ir para a guerra, nem eu nem os meus amigos”. E eu disse ao meu pai “sim, mas o Jacinto não és só tu; o Jacinto somos os dois”. Também tinha de pôr aquilo que sinto hoje em dia, que esta ideia do colonialismo é absolutamente absurda. Foi muito interessante este momento de conversação com o meu pai, achei muito interessante a humildade que ele teve para dizer “eu não tinha esta consciência da forma que a estás a colocar, eu não queria fazer mal a ninguém nem que me fizessem mal por uma guerra que não fazia qualquer tipo de sentido”. Os selos que estão na cena vêm realmente da coleção do meu avô, são selos que colecionou a vida toda, e ninguém da minha família sabia o que fazer com eles. Um dia, por curiosidade, estava a folhear aquilo e comecei a perceber que são muito mais do que aquilo que aparentam; contam a história do colonialismo, contam a história da invasão portuguesa, contam a história de como todas as pontes, todos os liceus, de repente eram apelidados de “Salazar”, e de um determinado culto de personalidade que existia.
G. – Pergunto-te isto porque o meu pai é da geração do teu e, ao ver essa cena, pensei nas conversas que também eu tenho com ele sobre esse período. Há um certo confronto entre o que, às vezes, achamos que eles pensavam ou sentiam e aquilo que pensavam e sentiam de facto. E tu, a certa altura no filme, dizes mesmo que deste o guião ao teu pai para ler e ele diz-te que algumas coisas não eram bem assim.
C. V. – E não eram.
G. – E, no limite, há sempre a sensação de pertença à história. Por muito que ele não seja o Jacinto e que algumas coisas não sejam, ou não tenham sido, assim, há outras que foram.
C. V. – Há uma coisa muito interessante acerca do meu pai: ele tem uma memória péssima, o que significa que houve muitas coisas que ele não me contou porque não se lembra delas. Eu tive entrevistas longuíssimas com todas as pessoas da minha família sobre a minha avó, quem é que ela era, e disseram-me imensas coisas, mas eu sentia sempre que havia informação que estava a faltar. Como se fosse um segredo que não me estavam a contar, havia um mistério. Depois percebi que não era mistério nenhum: em todas as famílias, há coisas de que não se fala, há coisas que não são ditas, por um certo receio dessas verdades que aí vêm, um certo pudor. No final de contas, as famílias são coleções de segredos que fazem delas organismos altamente curiosos, sedutores – vejamos quantos filmes são feitos sobre as famílias. E, por isso, eu senti que a fazer o próprio filme existiam algumas coisas que eu sabia, e outras que não sabia. Era uma espécie de espaços em branco que eu desconhecia. Como é que eu passava de uma coisa para outra, se não sabia o que estava no meio? Acabei por pensar que se não sei, então posso inventar. Quando dei a ler ao meu pai e ele disse que havia coisas que não tinham acontecido assim, perguntei “mas qual é o problema?”, e o meu pai responde “é que podiam ter acontecido”. Esta resposta é que é extraordinária. Claro que tudo podia ter acontecido, e se calhar estas coisas aconteceram, e nós nunca saberemos. Não sabemos porque alguém não nos diz, porque algumas coisas ficaram esquecidas, e porque há também um lado que é a minha visão desta família que passa necessariamente pela ficção, pela invenção, pela imaginação. Por pensar “como é que seria?” Estes momentos críticos acabam por ser incorporados no filme, porque também servem para desconstruir um bocadinho.


G. – A ideia para o filme surgiu quando estavas em Londres e soubeste que o teu avô queria que queimassem a correspondência dele com a tua avó, como já contaste por diversas vezes. É engraçado que a palavra depois acabe por ter tanto peso no teu filme, que é muito falado e onde o que é dito tem tanta intenção. Outro questionamento transversal no teu filme, que é vocalizado de forma muito poética, é a ideia de pertença. Houve uma frase que me marcou, em particular: “desenganem-se aqueles que acham que as mãos nos pertencem, nós é que pertencemos às mãos”. Há algo no gesto que precede à racionalização?
C. V. – Lembro-me de que quando era mais nova e comecei a dar Descartes, quando tive filosofia na escola, achei-o um génio por esta ideia do “penso, logo existo”. Mais tarde, o meu pai disse-me que Descartes se enganou e que foi por isso que António Damásio escreveu o livro O Erro de Descartes. E lembro-me de ele ir buscar o livro e de me explicar de forma muito simples que só podemos pensar sobre aquilo que sentimos. Se não sentirmos, não podemos pensar sobre essas coisas. Portanto, Damásio veio trazer esta ideia de que eu sinto, logo existo. É o sentir que vem antes, eu acho isto muito bonito. Esta ideia de que há uma intuição que vem antes de todo um processo de racionalização, porque só vais racionalizar o que te diz alguma coisa. Quando uma pessoa cai, a primeira coisa que normalmente a protege são as mãos. As mãos estão lá, quase sempre, antes de tudo; ou porque vamos buscar alguma coisa ou porque nos agarramos para não cair. E eu senti que as mãos eram quase uma metáfora para um Deus criador. Nós tentamos, desde pequeninos, criar um mundo ao tamanho das nossas mãos. Os colecionadores são pessoas que coletam o mundo ao tamanho da mão. Acho que esta metáfora de as mãos, de alguma forma, serem representativas de nós, e serem para além de nós, é incrível. Outra coisa é que quando há monumentos funerários costuma fazer-se um molde das mãos ou as máscaras mortuárias, e é muito interessante que aquilo que é representativo de um ser humano para a posteridade são as suas mãos ou o seu rosto. Uma escultura das mãos do David Mourão-Ferreira está na Faculdade de Letras.
G. – N’Os Respigadores e a Respigadora, a Agnés Varda também filma as suas mãos, que lhe dizem que o fim está perto. E as memórias, achas que nos pertencem?
C. V. – Eu acho que as memórias são todo um universo sobre o qual achamos que temos imenso ascendente, mas não temos. Diz-nos o ditado português que “quem conta um conto, acrescenta um ponto”, e é uma ótima metáfora para a forma como as nossas memórias funcionam. Houve uma altura em que estava a trabalhar para um neurocientista que me explicou como é que as memórias eram criadas: vão para o cérebro através de um hipocampo, que tem a forma de um cavalo-marinho, e é através desse hipocampo que são, de certa forma, sintetizadas. Quando nós contamos uma memória, vamos contar como da última vez que contámos, o que significa que não é como da primeira vez que contámos. Se eu já contei esta história 50 vezes, eu não estou a contar como da primeira vez que contei ou como a vivi, estou a contar como na vez 49 em que a contei. Isto significa que nós estamos sempre a alterar as memórias e a nossa forma de nos lembrarmos também se altera.
G. – Todas nós já estivemos, em algum momento, a contar uma memória e alguém disse “provavelmente estás a acrescentar alguma coisa”. E queremos quase provar de que foi assim que aconteceu mesmo.
C. V. – E não estás a mentir! Tu acreditas mesmo nisto, mas já contaste tantas vezes que já acrescentaste coisas. Por isso, as memórias pertencem-nos até determinado ponto porque as próprias memórias têm vidas que nós desconhecemos. Ou que nós inventamos e passamos a acreditar nelas como se fossem verdade. É extraordinário. Acho que elas nos pertencem, mas não nos pertencem só a nós; as memórias têm vidas que estão para lá de nós. Isso vê-se quando nós as contamos e as alteramos, é como se fossem mutáveis. Não as podemos colocar num compartimento e dizer “agora não sais daqui”. Elas saem, modificam-se, vivem além de nós.

G. – O teu pai diz que os dias como aqueles em que uma mãe morre não se tornam memórias, são como sinais na pele que nunca desaparecem. O que é que torna esse dia incapaz de gerar memória? É uma certa sensação de pesadelo, como se todos os dias a seguir fossem uma tentativa de acordar e tudo ser como antes?
C. V. – Para uma coisa se tornar uma memória, eu tenho de a aceitar. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo, e creio que com o meu irmão, que foi que todos os dias durante um ano ou dois, quando acordávamos, o nosso cérebro lembrava-nos de que a nossa mãe tinha morrido. Todos os dias. Era como se essa memória não tivesse sido processada, então todos os dias de manhã eu acordava e pensava: “Ah, a minha mãe morreu.” “Ah, a minha mãe morreu.” Era o cérebro a tentar convencer-me de que aquilo tinha acontecido, e isto foi uma coisa que eu vivi durante muito tempo, foi uma coisa física de não querer aceitar esse facto. E eu acho que o nosso cérebro faz tudo bem nesse aspeto, porque não se aceita. Essa coisa que se diz sobre uma pessoa aceitar a morte de uma mãe ou de um pai, não é verdade. Não se pode aceitar o inaceitável. Quanto muito, uma pessoa cresce e acomoda-se a esse vazio. Mas não aceita. Lembro-me também de uma coisa muito engraçada que aconteceu há cerca de dois anos, quando eu soube que o filme ia entrar em Berlim: o meu instinto foi: “Vou pegar no telefone para ligar à minha mãe.” E a minha mãe morreu há 18 anos. Este microssegundo em que pensei, “vou ligar à minha mãe”, foi o meu cérebro a esquecer-se dessa memória. É como se não tivesse acontecido. Há uma parte do nosso cérebro que não conhecemos, que é o inconsciente, e acho que nesse momento foi muito mais forte do que o consciente. Foi um sinal não de tristeza, mas até de alguma alegria, porque me lembrou de como me sentia há 18 anos.
G. – É curioso que o filme está em torno da memória da tua família, mas a tua memória surge mais na reta final. Isto é, as coisas de que te podes lembrar. No site do filme reparei, no mural onde estão a convidar os espectadores a deixar as suas sensações ou memórias, numa publicação que achei muito bonita por funcionar quase como um apêndice de uma memória em que estás tu e a tua mãe, mas que só poderia surgir vinda daquela pessoa, a Josiane.
C. V. – Sem dúvida. Há pouco perguntavas se as memórias nos pertencem, e eu respondi que as memórias estão muito para além de nós. Essa memória que a Josiane traz é uma memória que eu não tenho, que só a tenho porque ela a contou, e de repente foi como um puzzle e veio encaixar um bocado. Se vier outra pessoa contar outra parte, encaixa outro bocado. Isso é muito gentil, é muito generoso. Comoveu-me particularmente essa história. Quando as pessoas morrem, deixam vazios em várias pessoas e nós às vezes tendemos a pensar apenas nas nossas vidas, no nosso ponto de vista, e isto também é um ponto de partida para outras perspetivas, para outros ângulos. A memória é um organismo vivo, que está sempre em construção.
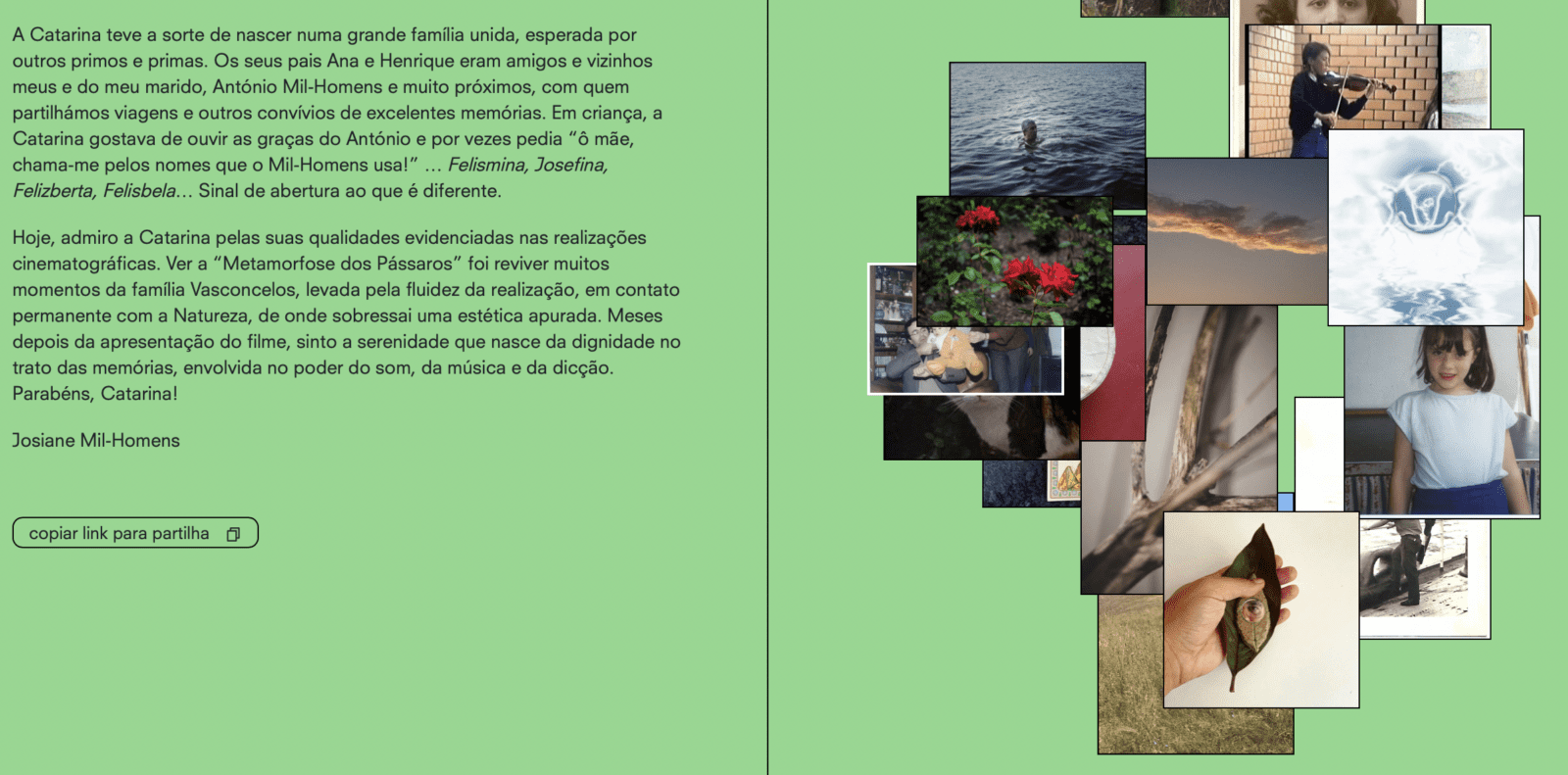
G. – A Metamorfose dos Pássaros vai esta semana para as salas de cinema. Já pensaste que esta expansão do circuito do filme pode ser também o caminho para novos encontros como o que tiveste com a Esperança, na feira da ladra, e novas memórias como a da Josiane?
C. V. – Eu espero que sim. É também muito bonito continuar a conhecer a minha mãe com ela morta. Poderia parecer mórbido o que estou a dizer, mas é mesmo verdade, porque isto faz-me acreditar, de alguma forma, que ela continua viva. Os nossos mortos continuam vivos nas coisas e nas pessoas que tocaram, com quem se cruzaram. A minha mãe era muitas pessoas, tal como eu sou muitas pessoas. Tudo isto faz parte deste puzzle que nós somos. Seria, sem dúvida, extraordinário saber que outras histórias é que este filme traz, além das histórias sobre a minha mãe que pudesse vir a conhecer. Os filmes também são o que fica em quem os vê, e eu acho que isso é a melhor coisa que nos pode acontecer: que as pessoas se apropriem das coisas que fazemos e que as tornem delas.







