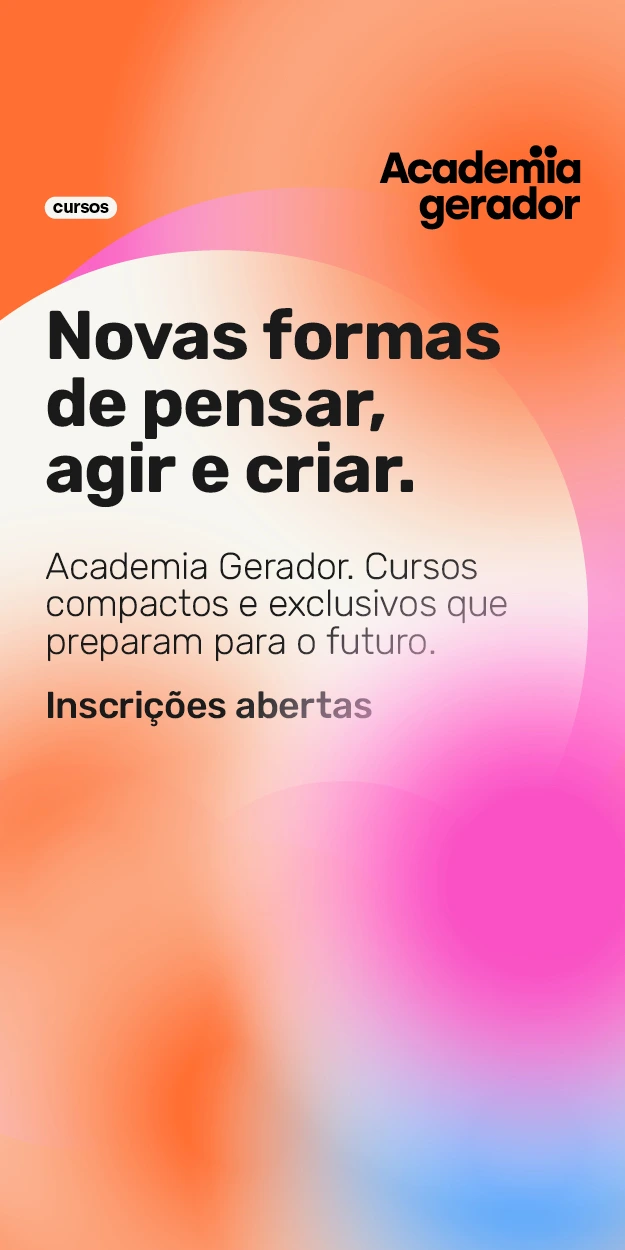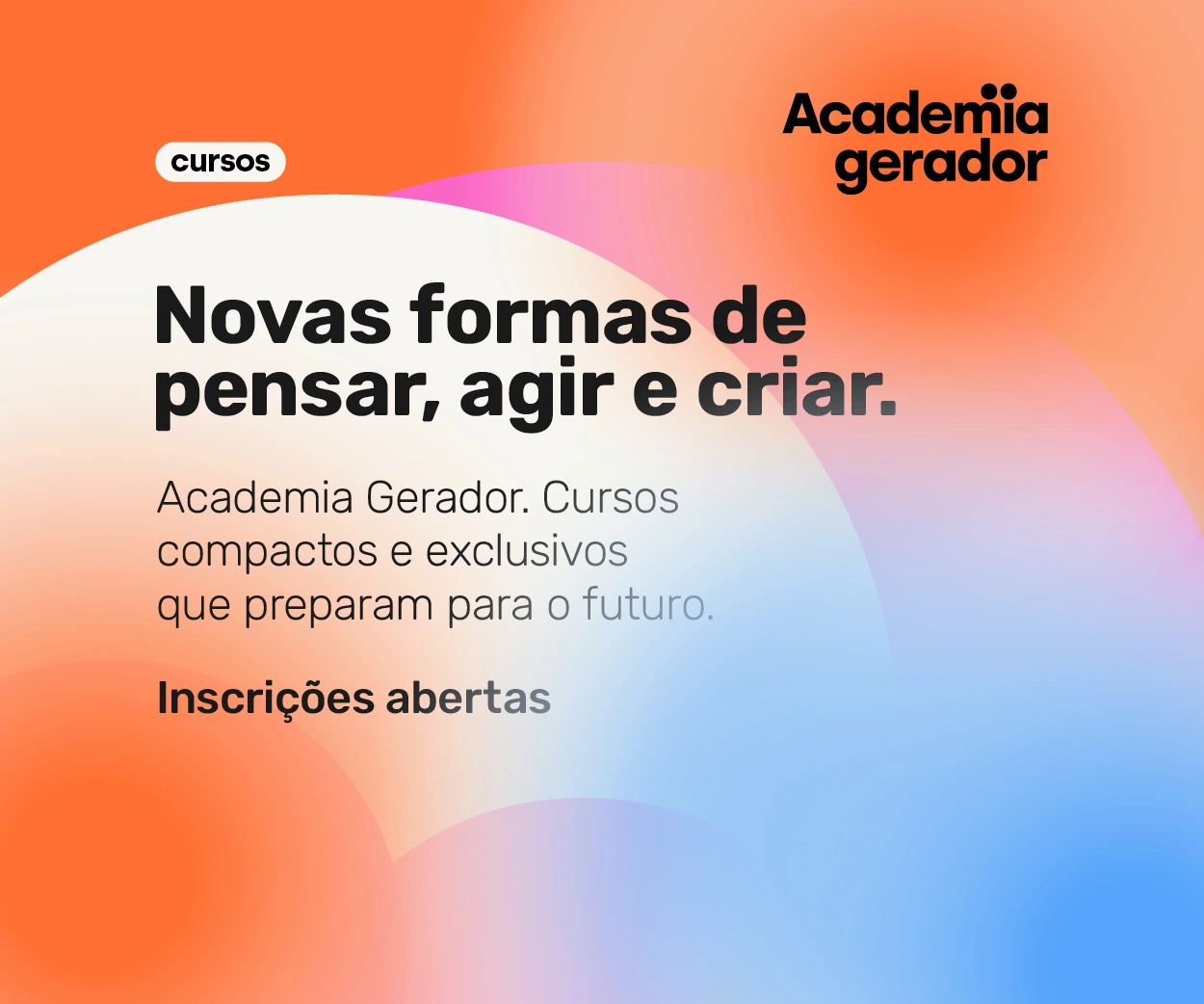Antes de ser jornalista, Ana Cristina Pereira foi uma criança que brincava com a natureza, na ilha da Madeira. Fazia carrinhos com cana-vieira, sentava-se numa saca e escorregava por uma ladeira, por altura do Festival da Canção entrevistava as primas e amigas-vizinhas que cantavam como se fossem concorrentes. Corria pelas montanhas com o vento a bater-lhe na cara, como a Heidi fazia nos Alpes Suíços. À sua volta tinha muitas mulheres adultas, algumas da sua família e outras que não lhe eram nada mas estavam, de alguma forma, a construir o cenário da emancipação das mulheres da sua ilha através das suas vivências. Ana Cristina Pereira tornou-se mulher e decidiu que queria ser jornalista.
Ana Cristina é jornalista e escritora. Há 22 anos, desde que trabalha no Público, que lhe reconhecem uma sensibilidade ímpar para falar sobre outras pessoas e contar as suas histórias. Este ano, publicou mais um livro que parte do seu trabalho jornalístico e desagua num universo maior. Mas não é um livro qualquer, não são apenas histórias de pessoas que conheceu em trabalho. “Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país” é um registo das liberdades que abril trouxe às mulheres da Madeira, ou ancoradas à ilha, mas que falam por um país. Se em “Mulheres do Meu País”, registo antropológico de Maria Lamas, o foco está nas muitas mulheres que fazem Portugal com o seu trabalho num regime em que são, muitas vezes, relegadas à não-existência, este registo de Ana Cristina Pereira foca-se no trabalho invisível, nas relações que estabelecem, na forma de se olharem a si mesmas.
O processo de construção do livro começou com uma “revolução dentro de casa”. A introdução é feita por Ana Cristina, a sua mãe, a sua irmã, a sua sobrinha. Mostra de onde vem antes de dar a conhecer as vidas de outras mulheres. Este primeiro texto, pontuado com diálogos entre Ana Cristina e Angelina, a sua mãe, é ”um olhar para dentro; olhar para nós além de nós”, diz-nos. “O que é que a mãe sonhou para si que, não conseguindo, sonhou para nós?” — pergunta Ana Cristina à mãe, a certa altura. Cabem nessa questão as vidas de muitas mães, irmãs, tias, amigas, desconhecidas, que foram sonhando umas para as outras o que não foram conseguindo para si.
Foi o texto “A revolução dentro de casa” que pôs Ana Cristina a pensar em si além de si, mas foi num projeto do Público sobre os seiscentos anos da Madeira que fez uma série de reportagens que lhe permitiram entrevistar pessoas da ilha e cruzar a história oral com dados que foi encontrando numa pesquisa mais aprofundada. Aí apercebeu-se de que estava a ouvir mais mulheres do que homens — fê-lo por instinto, porque olha sempre para as margens. As reportagens contavam muito sobre a história da Madeira, mas davam, também, pistas sobre a evolução dos direitos das mulheres da ilha. Fez sentido reunir algumas delas num livro, voltar aos lugares, falar com as pessoas novamente, sentar-se para ouvir histórias que indiretamente acabam por ser um bocadinho suas também.
Editado pela Bertrand, “Mulheres da minha ilha, mulheres do meu país” é um documento raro que nos permite desvendar o agora. Através das vozes de mulheres que nasceram com mais de 50 anos de diferença, muitas delas que souberam da existência umas das outras ao serem reunidas neste objeto literário, Ana Cristina tece histórias de mulheres comuns, mas extraordinárias. As que fizeram doutoramentos e as que nunca estudaram, as que lutaram pelo coletivo e as que lutaram por si sem saber que o faziam por todas. Todas elas contribuem, à sua maneira, para um caminho comum que se faz a diferentes velocidades e com diferentes destinos.
“Acho que é uma espécie de reencontro com a ilha e com as minhas raízes, porque eu saí de lá muito jovem e, por vezes, nós conhecemos muito pouco a nossa própria história. Nesse sentido, voltar pode ser um exercício muito interessante para percebermos de onde nós vimos”, diz Ana Cristina Pereira depois da apresentação do livro no Porto. Foi sobre essa viagem e sobre as muitas formas de ser mulher — e ser feliz — que conversámos.
G. - Lembras-te da primeira situação em que sentiste que socialmente ser uma mulher não era a mesma coisa que ser um homem?
A.C.P. - Acho que tive essa percepção muito cedo, não sei precisar quando. Cresci numa família onde essa desigualdade é muito forte e isso tornou-me consciente. Claro que as coisas com o tempo também se foram atenuando mas, quando eu era miúda, era muito evidente que havia um chefe de família. É uma expressão que parece muito anacrónica, mas era assim: havia uma figura masculina que detinha o poder e outras, a mulher e os filhos, que tinham de obedecer. A desigualdade era permanente. Não era um exclusivo desta casa, era uma coisa muito comum em toda a aldeia. Para mim nunca foi normal. Se calhar, porque para a minha mãe nunca foi normal, também. Ela estava presa nessa estrutura, mas não a aceitava, contestava-a. Havia uma consciência de que aquilo era assim, mas não tinha de ser assim. Isso, de alguma forma, influenciou tudo o resto.
G. - Dizes que não conheceste as peripécias de jornalistas como Maria Antónia Palla, Maria Teresa Horta ou Diana Andringa. Mas elas eram referências para ti? Tinhas consciência de que existia uma condição de mulher jornalista?
A.C.P. - Quando eu tirei o curso isso não era assunto. Depois, nas dinâmicas da redação, vi como é que isso funciona. Eu tenho a sorte de trabalhar numa redação que é bastante aberta, diversa, com gente muito interessante. Mas mesmo assim, essas dinâmicas estavam presentes. Quando eu comecei a trabalhar na redação do Público no Porto, todos os chefes eram homens. Diretores, editores-chefe, editores, todos homens. A primeira editora que eu tive estava longe, mas a segunda editora que tive sentava-se à minha frente. Tinha uma filha pequena que lhe ligava a perguntar se ia jantar, a dizer que estava à espera dela. Ela ficava tristíssima, sentia-se em falha porque não estava em casa para dar de jantar à filha, tinha de ficar a fechar o jornal e só ia chegar a casa mais tarde. Eu nunca tinha visto um homem a sofrer essa pressão. Já tinha tido vários editores homens e nenhum deles recebia telefonemas dos filhos perto da hora de jantar. Essa é uma culpa que é transmitida às mulheres trabalhadoras e que não é transmitida aos homens trabalhadores, porque é esperado que a mãe esteja em casa para preparar o jantar. Se o pai ficar a trabalhar até mais tarde isso é encarado com muito mais naturalidade. Há mulheres que aprenderam a lidar com isso e há famílias que não fazem essa pressão, mas isto ainda é muito comum e é uma das razões pelas quais tens menos mulheres disponíveis para aceitar cargos de chefia, por exemplo.
G. - Reuniste mulheres da tua ilha e contaste as suas histórias num livro. Que poder simbólico tem esta transposição de uma vida “normal” para um objeto literário e pôr lado a lado mulheres como a Guida, que acabou por ter um envolvimento associativo feminista, como a Susana Fontinha que nunca pensou em não trabalhar, com outras mulheres que tendo consciência da sua condição o viram como um fado?
A.C.P. – O que tenho visto é que as mulheres retratadas se sentem valorizadas. O livro cruza as suas histórias individuais com a história da região e com a história das mulheres no país e, por vezes, além dele. Ao fazê-lo, reconhece o contributo das mulheres na vida económica, social, política e cultural e, de forma mais subtil, vai mostrando as diversas formas de luta. Acho que o livro inclui muitas formas de ser mulher e muitas formas de lutar pela igualdade. Às vezes temos a ideia de que só luta pela igualdade quem dirige uma associação ou um movimento. Essa luta trava-se todos os dias. É travada por milhões de mulheres silenciosamente. Essas mulheres que têm visibilidade, e que são fundamentais, são mulheres que vão à frente, mas a transformação não acontece se não houver este exército invisível a operacionalizá-la. Se não houver mulheres como a Sofia P. Caldeira que não admite que se faça piadas sexistas à volta dela, ou se não houver mulheres como a minha mãe que assumia mais tarefas domésticas para nós termos mais tempo para ler e para fazer experiências. Há micro formas de luta que, todas juntas, vão concretizando esta transformação. O livro quer reconhecer isso: que existem essas mulheres extraordinárias tipo Guida Vieira, que liderou um sindicato, que conseguiu introduzir mudanças positivas na vida de muitas mulheres, mas também há estas outras mulheres que foram fazendo mudanças pequeninas, às vezes dentro de sua casa, na sua aldeia. E eu acho que é muito importante reconhecermos que todas contribuem.
G. - A ideia de que o pessoal, ou o privado, é político atravessa o teu livro. Sentiste que, para elas, era natural falarem sobre estas questões da intimidade?
A.C.P. – Só duas resistiram um pouco a entrar na esfera íntima. Têm personalidades mais reservadas. A linha que separa o privado do público é, muitas vezes, fictícia. O que tu és na tua vida privada tem fortes implicações no que tu és na vida profissional, e vice-versa. Há bocado falávamos na sobrecarga do trabalho doméstico. Se tu não tens um parceiro que assume a sua quota responsabilidade de tarefas, se não tens dinheiro para contratar outra pessoa, normalmente outra mulher, para assumir essas tarefas, a sobrecarga que vais sentir é enorme. Vais ter de cumprir duas jornadas de trabalho. Uma coisa está sempre ligada à outra. No fim do livro, a Manuela Tavares diz que no início a luta era pela emancipação — “o direito à educação, o direito ao trabalho remunerado” —, porque as próprias mulheres que lideravam essa luta assumiam que as tarefas domésticas e todas as tarefas relacionadas com a parentalidade eram suas. É importante construir lares para idosos, é importante construir estruturas para pessoas com deficiência, é importante construir jardins de infância, mas também é importante haver uma forma mais equilibrada para o casal se organizar - seja um casal de mulheres e homens, mulheres e mulheres, homens e homens. Cuidar é uma tarefa de todos.
G. - “Ainda estou a aprender o que é um fim de semana. Ainda tenho dificuldade em ter prazer, prefiro o dever, trabalhar em vez de descansar, mas hoje sinto-me bem comigo e com o meu corpo. Gosto de ser mulher”, diz a Naidea no teu livro. Sentes que ainda hoje está ligado à condição feminina este espírito de trabalho e sacrifício, de não saber parar?
A.C.P. – Não sei se o que pesa, nesse caso concerto, é mais o género ou a classe. A Naidea é linguista e é professora universitária. É uma mulher que teve de lutar pela sobrevivência. Os pais separam-se, o pai rejeitou-as, e ela teve de começar a trabalhar muito cedo. Tinha de ser boa aluna porque queria ser professora, não queria ser igual às mulheres da aldeia dela. Ela dedicou-se intensamente ao estudo que continuava a conciliar com o trabalho agrícola e com o trabalho doméstico, até se tornar professora e ter um salário. Aquilo está dentro dela, é uma característica que ficou dentro dela. E apesar de já ter uma vida com algum conforto, ela não se livrou dessa urgência de fazer.
G. - Há uma frase muito marcante, também do texto dela: “há frases que ficam na mente… “o teu pai não me quis”. ” Como é que a relação das mulheres à nossa volta com os homens molda o olhar que podemos ter sobre o que é ser mulher é ser homem?
A.C.P. – Impossível ignorar, desde logo, o modo como os nossos pais são se relacionam um com o outro, mas não estamos condenados a produzir o nosso modelo parental nem qualquer outro em nosso redor. Nós podemos libertar-nos, podemos construir algo diferente. Somos expostas, ao longo da vida, a outras formas de ser mulher, a outras formas de ser família. E vamos vendo que há outras possibilidades e que podemos construir a nossa própria possibilidade. Às tantas há uma mulher que é formidável, a Cristiana de Sousa, que diz: “Eu estou a construir a minha própria sociedade”. Ela está na Camacha, é uma zona rural, uma freguesia do concelho de Santa Cruz. Alguém como ela no Porto ou em Lisboa seria comum, mas naquele lugar não, naquele lugar é uma transgressora. Tem 30 anos e não se casou, não tem filhos, é uma artista, não tem um emprego das nove às cinco, e isso é algo que faz confusão às pessoas. Mas ela lida bem com isso.
É importante construirmos as nossas redes. Acho que as mulheres das gerações mais velhas estão mais presas às redes de sociabilidade tradicionais (a família de sangue) e as mulheres mais jovens já estão mais libertas dessas inevitabilidades, estão muito mais permeáveis a construir novas redes. Novas formas de ser família, novas formas de ser mulher, novas formas de serem humanas.
G. - Muitas das mulheres de quem falas têm uma ligação à Venezuela, algumas delas foram para lá viver, outras têm histórias marcadas pela ida de familiares. A emigração é sinónimo de emancipação? É redutor pensarmos que ir ver como vivem outras mulheres, noutros lugares, cria um efeito de espelho que pode ser transformador (no sentido de se exigir mais)?
A.C.P. - Há um capítulo especificamente sobre isso. É o capítulo sobre a Zeferina e a Rosário, que vivem em Inglaterra. São duas mulheres bastante oprimidas no seu contexto de partida — crescem na Madeira rural, numa família tradicional, com um pai que controla o que podem ou não vestir, proibidas de falar com rapazes. A Rosário luta para poder começar a usar calças. A Zeferina é forçada a casar com o primeiro namorado. Essas duas mulheres libertam-se completamente através da emigração, porque lá fora não só encontram outras oportunidades de trabalho, mas também não têm aquele controlo social que lhes dita sistematicamente o que é que elas podem ou não fazer. Elas são expostas a outras possibilidades. Há um detalhe curioso, no caso da Rosário. No início, o marido controla-lhe a roupa e ela aceita isso como sendo normal, porque o pai o fazia. Depois começa a ver outras pessoas, a conhecer outras formas de ser família. E liberta-se.
G. - É uma relação muito bonita de sororidade. Uma puxa a outra.
A.C.P. - Elas vão-se apoiando mutuamente, ora é uma que está a puxar ora é a outra. As suas lutas individuais acabam por se fundir como empresárias que criam os seus próprios infantários. A emigração é muito interessante. Também nos faz questionar a ideia de felicidade e do que é ser uma mulher realizada. Às vezes há conceitos muito limitados do que é ser feliz. O que é ser feliz relaciona-se muito com o que é que sonhas para ti, e se realizas esses sonhos. O que importa é que tu te sintas bem.
G. - Na apresentação do teu livro, no Porto, estava a Samantha, que não só é uma das mulheres cuja história figura no livro mas também é alguém que conheceste num contexto diferente, para uma reportagem do Público. Interessa-te estabelecer relações que possam ir além dos teus artigos ou além dos teus livros?
A.C.P. - Uma das coisas mais extraordinárias no jornalismo é esta possibilidade de aprender e de conhecer pessoas. Nós estamos sempre na posição do que não sabe e que quer saber. Existe essa possibilidade de aprender e conhecer outras pessoas que têm vidas diferentes das nossas, que têm idades diferentes das nossas, que têm outros percursos. Isso é extremamente rico.
Contar a história de vida de alguém implica tempo. Não posso fazer uma entrevista dessas a olhar para o relógio. Há que ter uma predisposição para ouvir a pessoa e para perceber a pessoa. Se a pessoa sentir que está a ser ouvida, de facto, ela dá-se. Todos nós temos essa necessidade de nos fazermos ouvir. E, às vezes, nessa posição de escuta em que nós nos encontramos, e que tem de ser empática, nós criamos ligações com as pessoas. Eu já entrevistei mais de 1000 pessoas e é evidente que não posso ficar com essas 1000 pessoas na minha vida, mas já fiz muitos amigos assim. Conheci uma das minhas maiores referências, a Teresa Rosmaninho (1955-2011), numa entrevista.
O caso da Samantha é muito curioso, porque a procurei para conversarmos sobre o trabalho dela, numa plataforma digital, só que para perceber o trabalho dela também tinha de perceber quem é que ela era. Aquela conversa alongou-se uma hora e tal, para depois escrever dois parágrafos num texto, mas quando comecei a pensar no livro, a Samantha veio-me logo à cabeça porque eu tinha conhecido mais do que uma estafeta de uma plataforma digital. Eu tinha um conhecimento dela que me permitia perceber quem ela era, aquela doçura que ela tem. Fez-me sentido voltar a falar com ela.
G. - Ela disse que o teu texto sobre ela a fez olhar-se, e valorizar-se, como nunca tinha feito antes.
A.C.P. - O que a Samantha disse foi uma coisa muito bonita. Nós às vezes precisamos que alguém olhe para nós com olhos de ver e que nos faça o enquadramento. A situação da Samantha era extrema, tinha muitas mudanças a acontecer. Quando tens alguém que te ouve e que enquadra a tua história num contexto, isso pode ajudar-te a entender onde é que tu estás e, no fundo, quem é que tu és. É bonito ouvir isso.