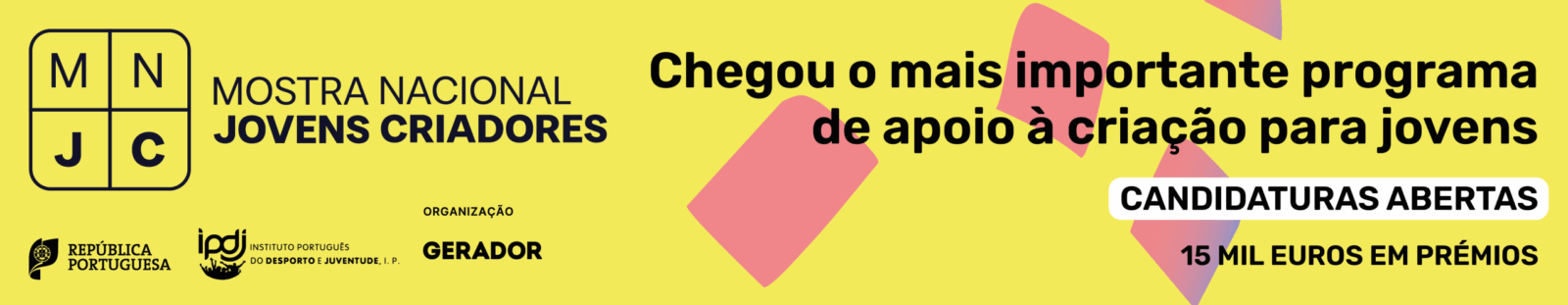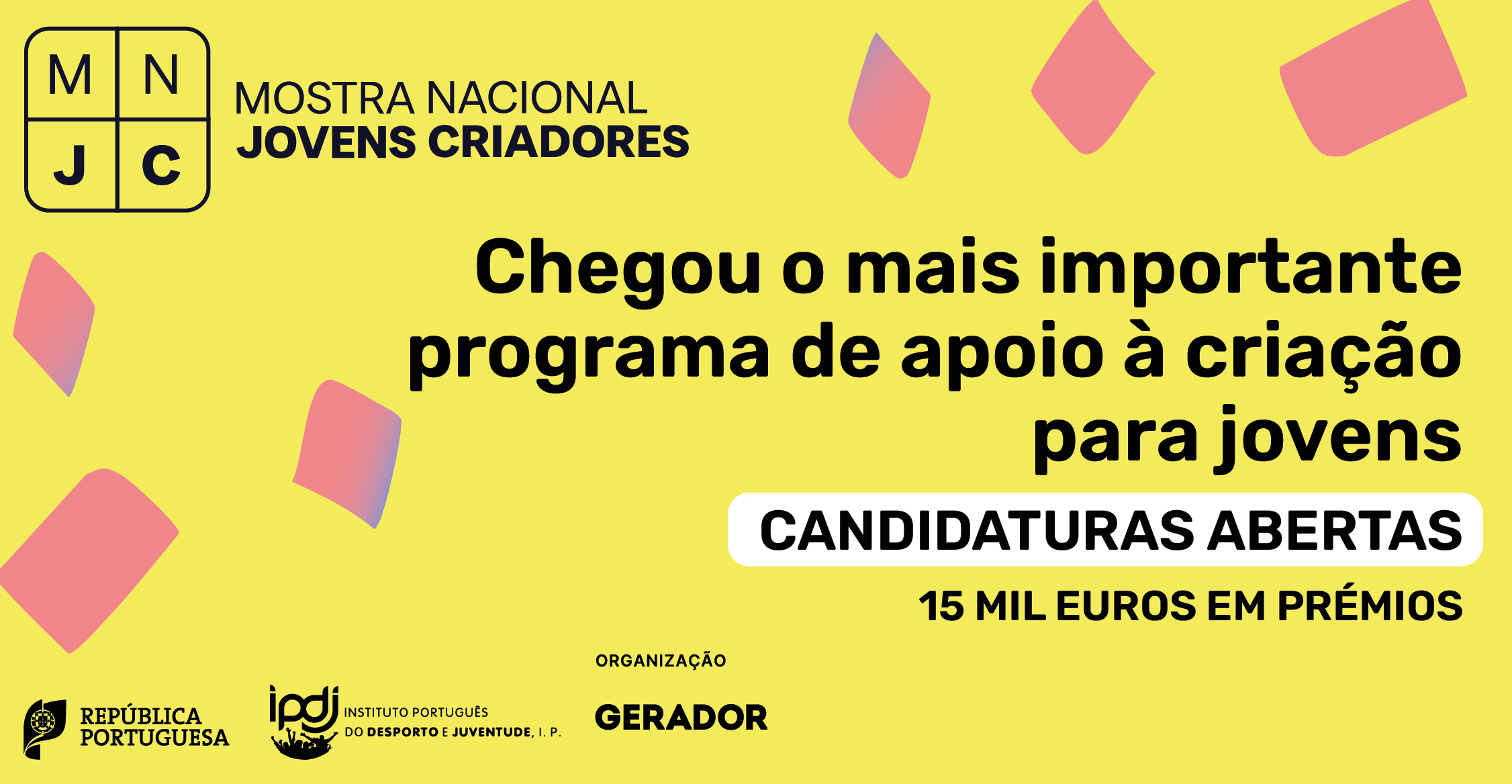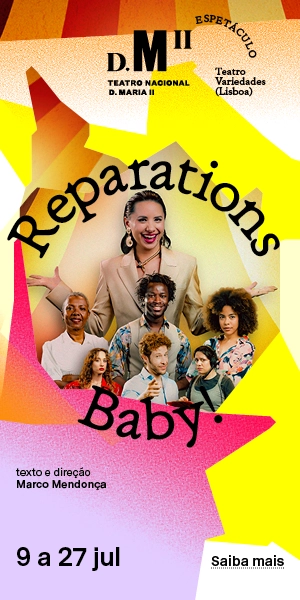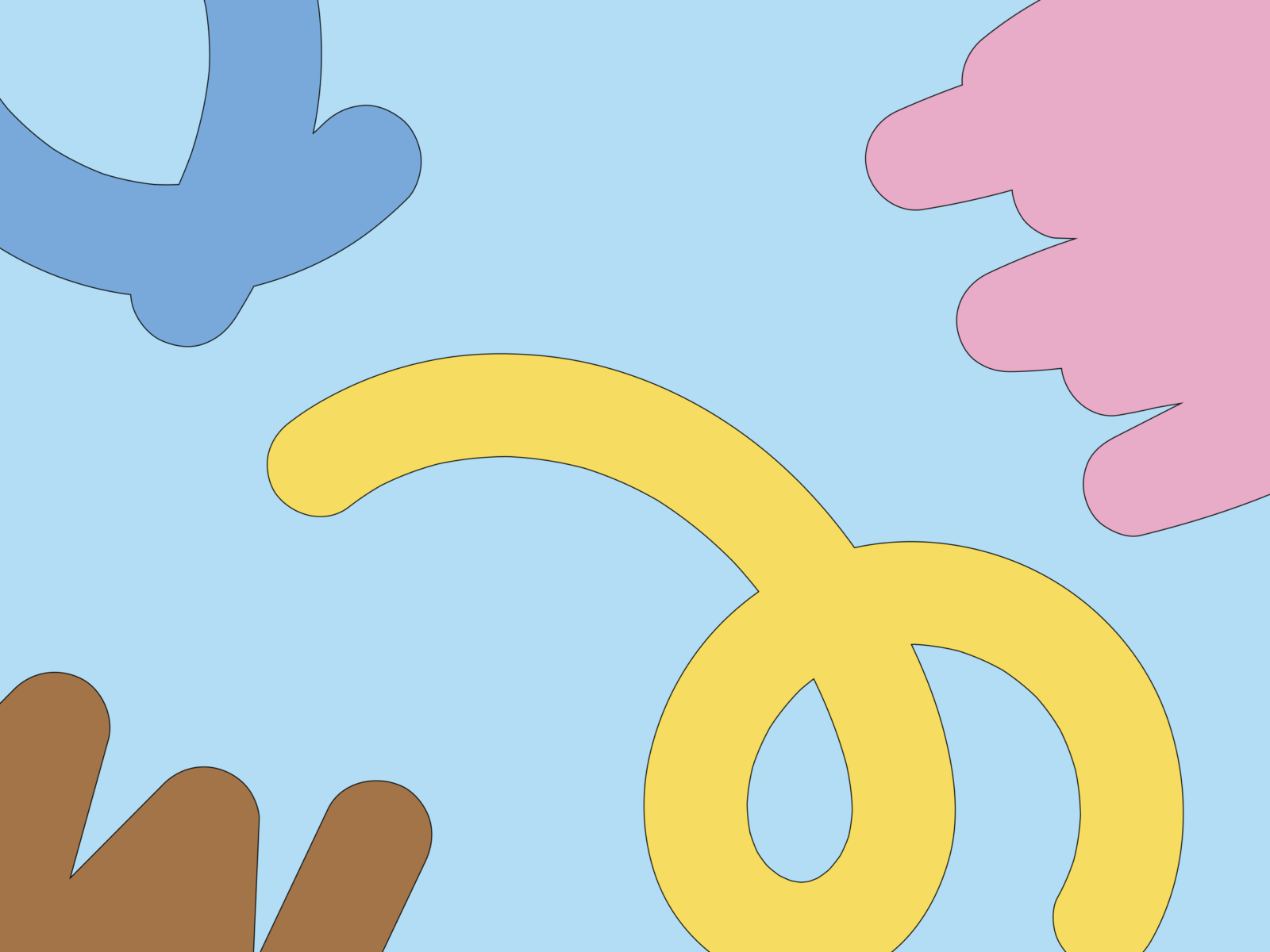A narrativa em torno do VIH cristalizou-se. O drama vivido durante a epidemia de sida nas décadas de 80 e 90, deixou marcas profundas e estigmas duradouros. As imagens de doentes terminais extremamente debilitados e com manchas vermelhas na pele ficaram marcadas no imaginário coletivo. Em Portugal, a produção artística ficou à margem do tema, mas hoje há quem a use para mudar perceções
“Rare cancer seen in 41 homossexuals”, o título icónico com que o jornal norte-americano New York Times noticiou, em 1981, os primeiros casos de uma doença de origem desconhecida que se revelava “fatal”. A cidade de Nova Iorque e a área da baía de São Francisco eram os principais locais de diagnóstico. No ano seguinte, a comunidade científica identificou o vírus da imunodeficiência humana (VIH).
Com uma propagação galopante no seio da comunidade LGBTQIA+, particularmente homens que fazem sexo com homens, a infeção por VIH torna-se um argumento para a repulsa e homofobia. O país liderado pelo conservadorismo de Ronald Reagan varre a mortalidade para debaixo do tapete. A sida é encarada como um sinal de que a homossexualidade é um comportamento reprovável.
No seu ensaio SIDA e Suas Metáforas, publicado no final da década de 80, a escritora Susan Sontag explica isso mesmo. A autora reflete sobre as significações inerentes à sida e à infeção pelo vírus do VIH, que foram socialmente instrumentalizadas para apontar o dedo aos homens homossexuais, particularmente. A doença foi encarada como um “castigo divino”, aplicado àqueles que não se inserem no que era considerado serem os “bons costumes”. “O comportamento perigoso que produz a sida é encarado como algo mais do que fraqueza. É irresponsabilidade, delinquência”, é explicado no texto.
Sontag diz ainda que, ao ser conotada com “licenciosidade sexual”, a doença e o estigma a ela associado provocam uma distinção entre potenciais transmissores e “população em geral”, isto é, “heterossexuais brancos que não usam drogas injetáveis nem têm relações sexuais com pessoas que o fazem”. Há, assim, uma clara separação entre “doentes” e “sãos”, uma linha que separa “eles de nós”.
Nos Estados Unidos da América, onde a doença se propagava a um ritmo galopante, imperava a dissimulação, especialmente por parte do poder político. Segundo referido num artigo da revista The Atlantic, o presidente conservador Ronald Reagan levou a cabo severos cortes no financiamento das agências públicas de saúde e centros de investigação. A sigla VIH acarretava um forte tabu e, segundo a mesma publicação, foi apenas em 1987 que o então presidente dos EUA proferiu um discurso relevante sobre o tema. “Nesta altura a doença já tinha atingido 36.058 americanos, dos quais 20.849 tinham falecido”, lê-se.
Perante a inação prolongada do poder político, a voz da arte rapidamente começou a subir o tom. Nesta fase o meio artístico e cultural americano era “efervescente”, com novos movimentos e expressões artísticas a proliferar, particularmente na cidade de Nova Iorque, conforme explica a historiadora Isabel Nogueira. A especialista em arte contemporânea, explica que esta foi uma fase de grande importância histórica para a arte, já que expressões como o gráfiti estavam a ganhar destaque e a redefinir conceitos. “A abstração começa a ficar para trás e começa-se a desenvolver um tipo de arte que é francamente importante”, diz a investigadora e crítica de arte.
A pintura de rua deixava aos poucos a marginalidade e ganhava reconhecimento. Muitos artistas aliaram-se na luta contra a epidemia, integrando grupos associativos e ativistas que procuravam obter uma resposta política face à situação cada vez mais dramática. “Estamos a falar de artistas que sentiram na pele e no corpo a doença e evidentemente que têm uma forma muito mais assertiva, conhecedora de falar sobre isso”, refere Isabel Nogueira, destacando a obra pictórica de Keith Haring. “Os seus trabalhos, ainda que com aquela coloração divertida, são agressivos e absolutamente assertivos relativamente ao que estava a acontecer”, sublinha a historiadora.
Arte pedagógica
João Ferreira, diretor artístico do festival Queer Lisboa, diz mesmo que, nesta fase, houve um "renascimento" da ligação entre arte e ativismo. “Houve uma relação muito estreita, por exemplo do Act UP [AIDS Coalition to Unleash Power] – que foi um movimento absolutamente essencial na luta contra a sida - e os artistas. Eles criaram a imagem e as campanhas de alerta, de prevenção, dirigidas ao público mas também as reivindicações dirigidas ao Governo”, refere.
De facto, há inúmeros exemplos disso mesmo: o coletivo Grand Fury ocupou, em 1987, a fachada do New Museum, em Nova Iorque, com uma instalação evocativa do triângulo rosa símbolo do movimento Act Up (que remete, aliás, para o triângulo invertido utilizado pelos nazis para distinguir homossexuais ou pessoas trans designadas homens nos campos de concentração). A célebre instalação Brillo Boxes, de Andy Warhol, foi atualizada por Adam Rolston, que fez semelhante trabalho com caixas de cartão de preservativos Trojan, em 1991. David Wojnarowicz seria outro artista pluridisciplinar a usar o trabalho para manifestar a sua indignação contra a inércia política. É dele a fotografia a preto e branco de búfalos a cair de um penhasco - Untitled (Buffalo) - que deixa implícita a crítica às medidas implementadas no final da década de 1980. Tal como Keith Haring, acabaria por falecer com sida.
O fotógrafo Nicholas Nixon registou o definhar de doentes terminais, assim como o fez Nan Goulding, famosa pelos registos fotográficos da decadência.
Além das galerias, o drama do VIH pode ser recordado nos ecrãs. A longa-metragem Silverlake Life - The View From Here, de Peter Friedman, é um exemplo de um retrato cru e verídico das últimas vivências de um casal de seropositivos. Long Time Companion (1989) de Norman René também se centra no tema, a par com o derradeiro Blue de Derek Jarman (1993) ou o célebre Filadélfia, de Jonathan Demme, protagonizado por Tom Hanks e Denzel Washington, em 1993.
João Ferreira, diretor artístico do festival Queer Lisboa, frisa que “houve uma relação muito estreita desde o início” da epidemia entre a arte e o ativismo, particularmente em locais como Nova Iorque, Paris e Londres. A arte “ativista” e “pedagógica” ganhou um novo fôlego, de acordo com o responsável.


Também as campanhas de sensibilização eram desenhadas para chocar e alertar a população. Therese Frare captou a controversa imagem do ativista David Kirby nos seus últimos momentos, que se tornou anúncio da marca Benetton, por exemplo. Já o suporte audiovisual, segundo João Ferreira, era desenvolvido “por cineastas, videastas, por artistas”, o que os distinguia dos demais. “Se pensarmos em termos do que é a linguagem publicitária, comercial, estes vídeos iam contra isso e isso é muito interessante” acrescenta. “Havia mesmo esta relação muito estreita porque os artistas estavam implicados, [já que] foi uma das comunidades largamente afetadas”, sublinha o responsável. As primeiras campanhas tinham um carácter “independente, marginal e artístico”. “Isso veio moldar completamente a relação da epidemia com as artes”, diz.
João Ferreira explica ainda que “a arte é uma influência sobre nós que é diferente da informação noticiosa ou científica porque ela toca num ponto que é da empatia e de nos revermos, de estabelecermos uma ligação com aquele objeto artístico”. “Isso altera-nos”, acredita.
Portugal à margem
As ondas de choque da epidemia de VIH levaram algum tempo a atingir Portugal. O primeiro caso de sida foi detetado em 1983, mas persistia o sentimento de que a crise do VIH era uma realidade longínqua. No ano seguinte, surgiram mais três casos. Em 1985 o número ascendeu a três dezenas. Em 1989, chegou às duas centenas. O pico só seria atingido em 1999, altura em que são registados 1.289 casos diagnosticados de sida, segundo dados da PorData. O número tem vindo a decrescer desde então. Em 2019 - último ano em que foram publicados dados - eram 172. Já o número de novos casos de pessoas que testaram positivo para a presença do VIH - um dado distinto daquele que se refere aos que efetivamente contraíram sida - ascende a 778, no mesmo ano.
Amílcar Soares descobriu que era seropositivo na mesma altura em que o vírus começava a chegar a Portugal. É um dos rostos mais conhecidos no país, por ser portador de VIH há mais de três décadas e por ter contrariado as expectativas. Decidiu dar a cara pela sensibilização e fundou depois a Associação Positivo. A coletividade nasceu com a ajuda de donativos resultantes da venda de obras de alunos de Belas-Artes, área que ele próprio estudava na altura.


Pode dizer-se que este é um caso de uso da arte em prol do ativismo, ainda que de forma indireta. Em entrevista ao Gerador, Amílcar diz, no entanto, que o tema do VIH não era muito retratado. “Não houve grandes manifestações [artísticas]”, diz. “Houve manifestações de solidariedade para angariação de fundos”, mas eram poucas as obras que faziam do VIH tema de criação. “Não houve [obras feitas] nem pelos que passaram pela situação de terem VIH, nem pelos outros que lidaram com eles”, refere. “Afastaram-se sempre um bocadinho”.
O presidente da Positivo relata que, numa aula de Belas-Artes que frequentou, fez uma representação de corpos esqueléticos, evocando os sintomas da doença. O seu trabalho foi, no entanto, desvalorizado. “A arte era muito política e também [estava presente] o aspeto geracional”, conta Amílcar Soares.
Também a historiadora Isabel Nogueira diz que, na década de 80, não reconhece a prevalência desta questão na arte portuguesa, pelo menos de forma explicitamente ativista. Em Portugal, vigoravam os movimentos de “regresso à pintura e o movimento pós-moderno”, explica.
Por verificar esta lacuna no panorama artístico português, o dramaturgo André Murraças escreveu, em 2021, a peça A última noite em que dançámos juntos. Fê-lo por acreditar ser necessário deixar algo que honrasse as pessoas que sucumbiram à doença em terras lusas. “Não há registo, sob forma artística ou sobretudo teatral, sobre estes tempos, sobre o que foi o aparecimento e a vivência do VIH em Portugal”, afirma. O que havia era, de acordo com o autor, peças que eram “importadas” e representadas em adaptações portuguesas.
“Mesmo a nível de literatura há algumas coisas soltas, mas, para começar, não há nenhum documento histórico, não há uma enciclopédia, não há um arquivo que nos diga como é que a história começou”.
Sublinhando que a realidade portuguesa nunca foi tão dramática como nos EUA, França ou Reino Unido, André Murraças quis falar sobre o tema até para honrar os que se organizaram para combater a propagação da doença. “Eu achei que fazia sentido contar a história de cidadãos anónimos, comuns, que se começaram a juntar num sistema quase de entreajuda. Uns começaram a sentir falta dos movimentos associativos e, por isso, começaram a criá-los”, relata, sublinhando também o papel dos profissionais de saúde que se mobilizaram. “É importante relembrar estas pessoas”, assevera.
O futuro dos novos corpos positivos
A narrativa definida em torno do VIH ficou não apenas ligada a homens que fazem sexo com homens (HSH), como cristalizou um estereótipo de doente terminal (magro, debilitado, com manchas vermelhas na pele). Apesar disso, hoje ser seropositivo não é o mesmo que era na década de 80, já que não significa que se venha a desenvolver a doença da sida. Com o evoluir da investigação científica surgiram não apenas novos tratamentos, que asseguram a longevidade das pessoas com VIH, como novas informações. Uma delas é a relevância da carga viral para a transmissão do vírus. Se a mesma for indetetável significa que o VIH é intransmissível, algo que se consegue através da toma regular da medicação retroviral.
Teresa Fabião assumiu a missão de informar e sensibilizar a sociedade para a importância desta distinção. A bailarina descobriu que era portadora de VIH em 2011 e passou vários anos em busca de tratamentos alternativos. “Para mim, foi um choque muito grande. Foi um grande desafio de empatia e de aceitação porque, quando eu me descubro a viver com o VIH eu não tinha nenhuma referência de ser o 'outro' e receber aquela notícia”, explica.
Após passar oito anos fora de Portugal, assumiu o papel de “artivista” e começou a desenvolver performances que abordavam o tema. “Sou, neste momento, a primeira mulher cisgénero que traz o VIH como discurso artístico”, diz, justificando assim o motivo pelo qual tem sido alvo de maior atenção pública.


Teresa Fabião diz que o facto de ser uma mulher cisgénero heterossexual e VIH+ é, precisamente, algo que pretende desmistificar, de forma a reforçar a ideia de que o vírus não existe apenas dentro da comunidade LGBTQIA+. “Não foi nada fácil dar este passo” relata. “Estamos numa sociedade patriarcal, em que a mulher ainda deve ser bela, recatada e do lar e temos uma série de projeções que depois colocam no teu corpo”, conta a artista que diz que, quando iniciou as suas produções “só via as referências ao corpo gay”.
“Existe um estigma tão grande e tão pesado que, até num segmento da sociedade que normalmente é mais vanguardista e questionador como o das artes [isso se nota]”, afirma a bailarina.
Assim, Teresa quis aliar aspetos biográficos, biomédicos e sociopolíticos na performance UNA, que estreou recentemente no Festival Mindelact, em Cabo Verde. Este espetáculo, apoiado pela Fundação Gulbenkian, Fundação GDA, CAMPUS/ Rivoli e com coprodução do Teatro Municipal da Guarda, “explora processos de adaptação e resiliência movidos pela coexistência com este vírus”. Faz parte do mais abrangente projeto comunitário IMUNE, que aposta na união de forças entre arte, saúde e educação. A ideia é não apenas abrir espaço para o diálogo sobre o VIH, como também alertar para a “diferença, a aceitação e o potencial e riqueza da diversidade, a todos os níveis”.
A par com estes projetos, Teresa Fabião co-fundou o Viral, coletivo “artivista” focado no tema do VIH/sida. A ela juntaram-se Lucas Modesti e Paolo Gorgoni, mais conhecido pelo nome artístico Paula Lovely. Todes acreditam no poder da arte para alterar perceções.
Sendo diagnosticada em 2010, em Itália, Paula Lovely trocou a cidade de Bolonha, onde vivia, por Lisboa. Trouxe consigo o ativismo que desenvolveu de forma mais premente a partir de 2017, quando criou a persona drag pela qual ficou conhecida.
Em 2019 fez história ao ser a primeira madrinha do desfile Lisboa Pride a assumir-se VIH positivo. “Fiz um coming out público nessa altura, no palco e, desde então, a cena de ser uma pessoa visível com VIH já não se podia retirar ao trabalho artístico”, explica.


Paula Lovely tornou-se rosto da mudança de perceção em torno do vírus, trabalhando-o em performances. No seio do coletivo Viral, usou uma fita vermelha de 60 metros para dividir Lisboa a meio e alertar para a necessidade de quebrar o estigma em torno de corpos positivos. “Foi um trabalho que eu criei com a Teresa, a partir de uma reformulação de uma performance que eu fiz em 2018”, explica. “Foi um momento em que se passou da ação individual para o empoderamento coletivo”.
Em paralelo, desenvolveu trabalhos de performance como o +Gl0ry+ ou o B1oom, que passaram por diferentes espaços. Recentemente, fez parte da campanha “Eu sou VIH+ e visível”, promovida pelo Centro Antidiscriminação, na qual 10 pessoas deram a cara para mostrar que o vírus não os define.
A artista drag - que está a trabalhar também para lançar o primeiro EP - sublinha que o estigma do VIH existe e perdura mesmo no seio da comunidade queer, sendo argumento para a “dessexualização” e rejeição. “A comunidade também tem o seu próprio estigma interno porque as pessoas com VIH querem continuar a ter parceiros [sexuais]”, explica. O problema, segundo diz, é que a própria comunidade é “pequena”, e a privacidade acaba por não ser respeitada. “A única opção para uma pessoa com VIH continuar a ter parceiros sexuais é não dizer [que tem o vírus]”, lamenta.
Por esse motivo acredita ser importante continuar a desenvolver ações artísticas e promover a literacia sobre o vírus, até porque já enfrentou situações em que a segurança das suas performances é questionada, pelo facto de ser seropositiva. “Enquanto estes questionamentos estúpidos e parvos existirem, quer dizer que o meu trabalho serve [um propósito]”, diz Paula Lovely.
Este trabalho, conforme alerta, só pode, no entanto, ser feito através de ações remuneradas, que valorizem o seu testemunho e permitam desenvolver o ativismo (opinião que, aliás, é também referida por Teresa Fabião, que critica os convites para ações não pagas).
Ser VIH positivo já não é sinónimo de ser um foco de disseminação e contágio, por isso estes corpos positivos querem moldar a narrativa e adaptá-la ao que é, de facto, a realidade atual.


“Estamos na era do indetetável, mas acho que precisamos urgentemente de passar para a era do visível”, afirma Teresa Fabião. “Nós não queremos só aceitação, nós queremos dignidade, queremos continuar a pressionar por essa cura física, efetiva, mas entretanto nós queremos uma cura funcional”, refere a bailarina e ativista.