“Uma vez, eu e o meu pai fomos à Galileu, uma livraria aqui em Cascais, e o meu pai comprou todos os livros infantis da Sophia [de Mello Breyner], aquelas edições da Figuerinha, e disse: ‘vais levar isto e vais ler, porque é a altura de teres um livro como deve ser’”. A minha coleção de livros está toda a cair da tripeça, nem com uma pinça lhes consigo pegar”, diz Inês Fialho Brandão, mãe de Joaquim, de três anos, entre risos. É também à Galileu que vai hoje com Joaquim, com quem se senta em frente a uma grande pilha de livros em segunda mão, que veem juntos. Inês sempre viu nos livros uma espécie de refúgio, um lugar onde se procurava e procurava outro mundo; hoje, partilha-os com o filho.
Quando se pergunta a um adulto, crescido num ambiente alfabetizado, se alguma história que leu ou que lhe leram na infância teve um impacto na sua forma de estar, de se ver ou de ver o outro, é provável que responda que não sabe ou não se lembra. Mas se há resposta que é transversal entre os entrevistados desta reportagem é que gostavam de como os fazia sentir. Inês é um desses casos: “tenho livros da infância por os quais, ainda hoje, passo as mãos, e o que esses livros me trazem não é só a história. Eu lembro-me de como me faziam sentir. Porque me mostravam uma casa que não era como a minha, mas que tinha qualquer coisa que achava muito boa, ou porque havia um ambiente aventuroso, porque as ilustrações eram muito bonitas… regresso porque gostava de como eles me faziam sentir, na altura. E quando volto a ler, lembro-me dessas sensações”.
Essa procura pelas sensações é também comum a Joana Carvalho, mãe de Gonçalo, de nove anos, ao próprio Gonçalo, a João Bica, de onze, e a Francisca Luís, de seis. “Porque é que gostas de ler? Que sensações é que a leitura te transmite?”, perguntamos, “sinto que vou para outro mundo”, responde Francisca; “porque me faz sentir sentimentos variados, como alegria, tristeza, ansiedade… faz-me sentir supreendido, assustado, entusiasmado”, conta Gonçalo; “leio sempre um bocadinho para acalmar as ideias, para passar para outro mundo”, diz, também, João. Este mergulho nos livros permite-lhes encontrarem-se nesse outro mundo, que por momentos parece só seu, e encontrarem o que nem sempre está à sua volta. No Diário de Um Banana, coleção de Jeff Kinney, João reconhece os seus pensamentos e alguns comportamentos dos que o rodeiam, e com As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, sente “um aperto no coração ao perceber como era a vida no tempo em que existia escravatura”. Já Gonçalo conhece “o passado” através d’O Bando das Cavernas, de Nuno Caravela, mas não esquece o Jardim Mágico na Neve, de Tracey Corderoy, que leu quando era mais novo e o fez “pensar que nada é impossível, mesmo que nós pensemos que é”.
No caso de Francisca, o livro de que fala entusiasmadamente e refere como sendo o seu favorito, é Bola de Caracóis, de Claire Freedman. “[É o meu livro favorito] porque a menina da história é igual a mim, com caracóis. Era uma menina que tinha caracóis e ela gostava de ter o cabelo liso, igual ao do irmão. Ela foi alisar, e o irmão não gostava dela sem os caracóis. Depois, ela foi outra vez ao cabeleireiro fazer os caracóis e o irmão começou a gostar mais dela”, conta de cor. De certa forma, Francisca revê-se em Florinda, a bola de caracóis e, sem precisar de o dizer por outras palavras, mostra o quão importante é esse encontro que acaba por legitimar a forma como nos vemos.
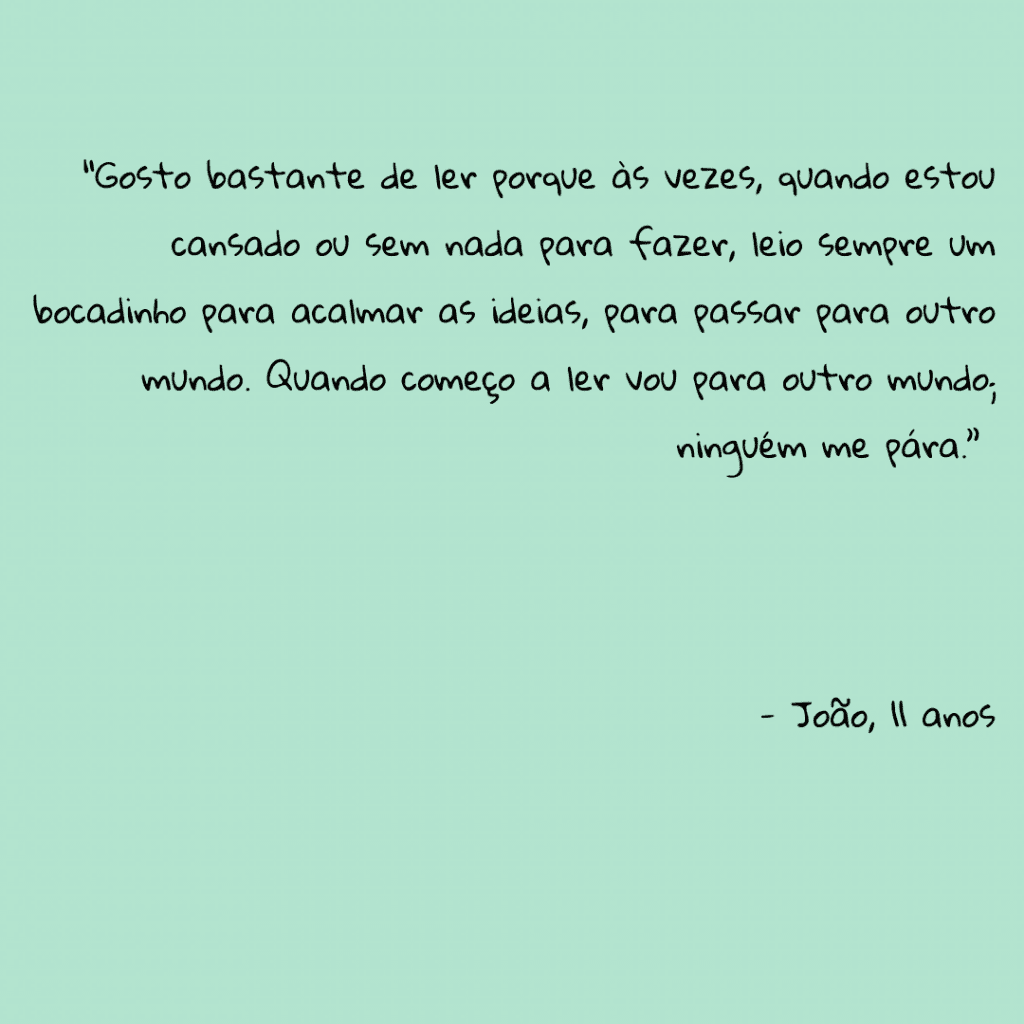
O mundo diverso, tal qual é, impresso em livro
Vivia-se a década de 50, mais precisamente em 1955, quando Rosa Parks se recusou a ceder o seu lugar no autocarro a um homem branco, num gesto de resistência à segregação racial, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. A década que se seguiu veio a ser reconhecida, historicamente, como uma das mais importantes no movimento negro norte-americano, escrita por nomes como o de Parks, Martin Luther King, Malcom X, Angela Davis e James Baldwin, entre tantos outros. Onze anos depois de Rosa Parks não sair do seu lugar e ter sido detida por não o fazer, Nancy Larrick, educadora e autora, publicou no Saturday Review o artigo “The All-White World of Childrens’ Books” [O Mundo Todo-Branco dos Livros Infantis], no qual analisou as narrativas dos livros infantis, onde as personagens principais e secundárias eram, na sua maioria, brancas.
Várias décadas depois, em 2014, o School Library Journal publicava um artigo em que mencionava que “o marcante estudo de 1965, de Nancy Larrick, sobre raça e livros infantis supostamente devia ter sido uma chamada de atenção”, mas que “pouco mudou”. Em 2020, e no contexto português, há editoras que têm trabalhado no sentido de serem realmente inclusivas e de editar livros com narrativas que se desmarquem de contextos dominantemente brancos e normativos. Ainda assim, Paula Cardoso, jornalista e fundadora do Afrolink, não sente “que haja preocupação com a diversidade no panorama editorial da literatura infanto-juvenil em Portugal”. “Focando-me em específico na diversidade étnico-racial, é para mim confrangedor olhar para o catálogo das diversas editoras. Além de haver um grande défice de histórias com personagens negros, as que existem não parecem de todo dirigidas às crianças, mas sim aos adultos interessados em revisitar a narrativa de uma África ‘exótica’”, refere.
“Proponho este exercício: ocorre a alguma editora publicar um livro infantil sobre a história de um bebé branco, de colo, que vai ao supermercado com a mãe, passa o tempo todo o comer e, como se não bastasse, sem que a mãe perceba, lhe coloca inúmeras frutas no saco? Ou então sobre uma jovem feirante portuguesa que transporta um cesto de legumes na cabeça, e vai contando a tradição de ser feirante e carregar esse cesto de legumes na cabeça? Estes ‘guiões’ encontram-se em livrarias portuguesas, protagonizados por personagens negros, e escritos por autores brancos. E, atenção: não vejo problema algum que autores brancos escrevam histórias com protagonistas negros. Mas é preciso perceber que histórias são essas, porque já ouvi uma do mesmo género ser contada assim: ‘Esta menina vive lá em África, vêem? Como lá não há sacos de plástico, tem de carregar as frutas numa cesta, na cabeça’”, diz Paula para dar contexto.
Na mesma linha, Inês Fialho de Almeida conta sentir que “falta não só representatividade — grupos que não se encontram representados na oferta —, mas também que se repense a maneira como aquilo a que as pessoas chamam de ‘diferença’ é incluído, trabalhado e apresentado”. “Enquanto mãe penso muito se estou a dar uma visão dominante que aceita o outro ou uma visão efetivamente integrada, realmente inclusiva.”
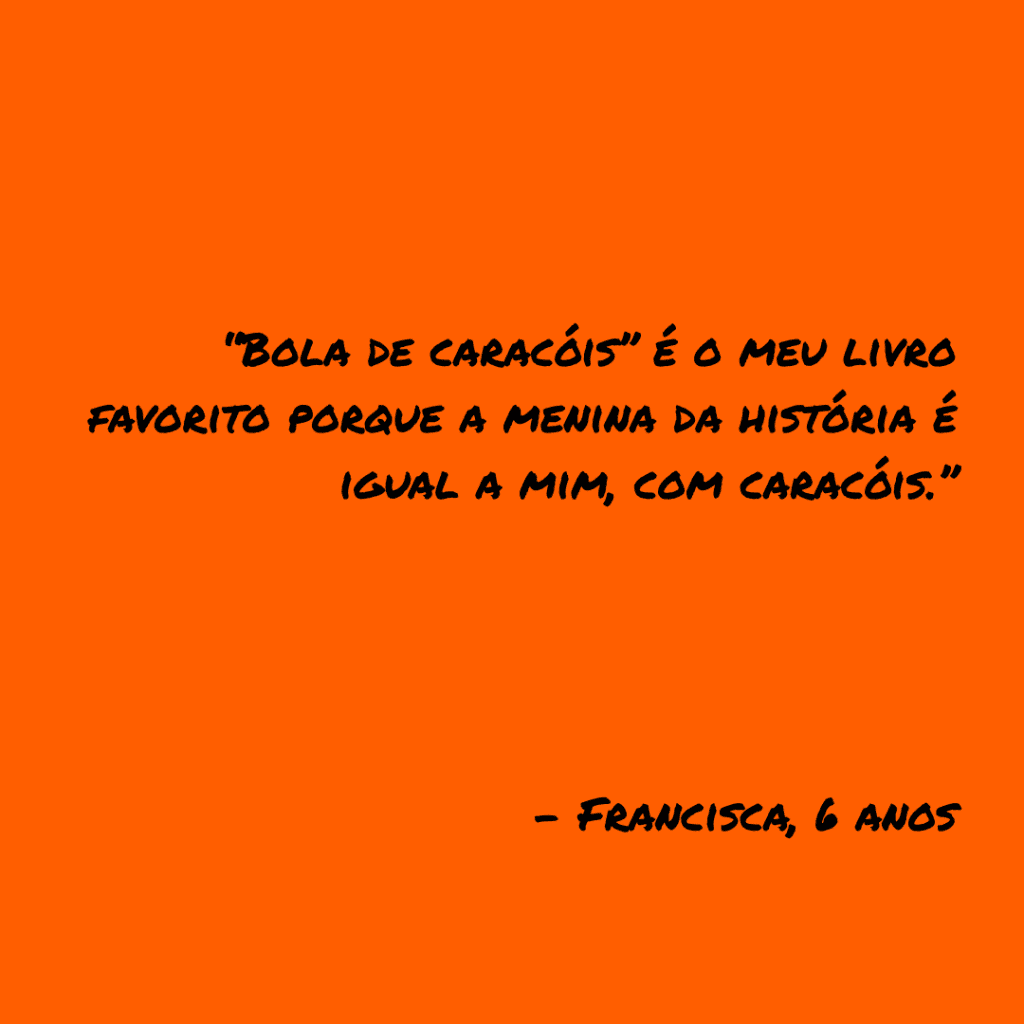
O exemplo dado por Paula remete para uma outra questão: não importa só ter narrativas diversas, como importa, também, a forma como são contextualizadas e integradas. Num artigo publicado no blog The Open Book, em agosto deste ano, a bibliotecária norte-americana Alexandria Brown refere como também a categorização dos livros pode “reforçar a supremacia branca”. “Rotular livros por ou sobre BIPOC [Black, Indigenous, and People of Color] é declará-los diferentes por serem quem são e que só são interessantes por contrastarem com a branquitude. Rotular não celebra a diversidade, centra a branquitude como a norma e relega a existência BIPOC como sendo anormal”, explica nesse texto.
Numa procura pela efetiva celebração da diversidade, a revista Dois Pontos, fundada há um ano por Ana Lorena Ramalho e Sara Szerszunowicz, tem-se marcado como um “projeto consciente e ativo no âmbito da representatividade”, no qual procuram “incluir, com naturalidade, diferentes experiências de vida e dá-las a conhecer aos pequenos leitores”. A título de exemplo, na revista de julho, com o artigo “Somos diferentes. E agora?” falam sobre preconceito e a “necessidade que todos temos de pertencer”, e em todos os números conversam, na secção Culturas, com “uma ou mais crianças que tenham nascido noutro país e que atualmente vivam em Portugal”.


Sobre a secção Culturas, as fundadoras contam que “nessas pequenas conversas, as crianças partilham connosco detalhes culturais e quotidianos do seu país de origem e da sua vida atual”, e que com estes artigos procuram “informar os leitores sobre a diversidade de histórias de vida, mas acima de tudo sobre a igualdade e os aspetos comuns aos seres humanos de todas as origens”. Outras rubricas que se repetem de número para número são Os Meus Livros, “com seleção dos títulos e redação das recensões a cargo da equipa do Plano Nacional de Leitura”, e Sugestão Dois Pontos, em que dão “especial destaque a um livro relacionado com o tema da revista” — sendo que cada número tem um tema que contagia a edição —, nos quais os principais critérios de escolha são “a qualidade dos textos e das ilustrações, e a não infantilização do leitor”.
Existe cedo demais?
“A empatia desenvolve-se precisamente por essa capacidade de fazer um papel. Quando estamos a ler colocamo-nos no papel do protagonista e, se não dele, no papel das outras personagens. E, portanto, tendo em conta que a nossa sociedade, na sua diversidade, não deixa de promover a homogeneidade, é importante que os livros o façam”, diz Inês Fialho Brandão. Joaquim, o filho de Inês, tem três anos, mas a mãe não tenta simplificar narrativas, nem tampouco acredita que exista “cedo demais” — por isso é que está atenta aos mais pequenos detalhes na hora de comprar um livro, como por exemplo o facto de tentar encontrar histórias em que “a heroína é uma rapariga”. “E é assustador quando percebemos que, por defeito, é sempre um rapaz”, conta.
Há exemplos de coleções e livros individuais que surgiram nos últimos tempos no mercado editorial, com a chancela da Nuvem de Letras e da Nuvem de Tinta, que pertencem ao grupo Penguin Random House, como “Sarita Rebelde” e “Portuguesas com M Grande”, de Lúcia Vicente, “Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes”, de Elena Favilli e Francesca Cavallo — agora com uma edição dedicada a mulheres emigrantes — , ou a coleção “Meninas Pequenas, Grandes Sonhos”, de Maria Isabel Sánchez Vegara. Joana Gonçalves, a editora, conta ao Gerador que uma das suas “preocupações” é que “os livros levem os meninos a pensar que existem outros mundos e outras vivências, que os devem fazer pensar que devem ser tolerantes e aceitar o ‘outro’ e aceitarem-se a si próprios, mesmo que se sintam diferentes”.
É nesse sentido que estão, ao longo do mês de dezembro, a “desenvolver uma ação que se chama Cultivar Valores no Advento”, na qual destacam “um livro e o valor que esse livro pretende incutir nas crianças ou fazê-las pensar”. O advento compõe-se por quatro livros que viajam pela auto-aceitação e confiança, a empatia e a compaixão: “Splash!”, de Arree Chung, “A Mia e a Montanha”, de Kim Hillyard, “A Semente da Compaixão”, de Dalai Lama, e “A Estória do Sol”, de Ondjaki. Para Joana também não existe cedo demais e “mesmo que não consigamos pôr em palavras fáceis os temas difíceis ou que não queiramos fazê-lo, através destas histórias as crianças começam a perceber conceitos e a pensar”.

Ricardo Guerreiro Campos, artista visual, performer e arte-educador, mas também pai de Aurora, de dois anos, nota que “nos últimos dez anos o livro para a infância em dado um salto absolutamente brutal em termos de oferta e de qualidade, e os livros também estão cada vez mais ligados àquilo que o mundo tem a dizer, hoje”. Dá como exemplo Menino, Menina, da ilustradora Joana Estrela, e o Plasticus Maritimus, de Ana Pêgo e Isabel Minhós Martins ambos editados pela Planeta Tangerina, e O Jaime é uma Sereia, de Jessica Love, editado pela Fábula, que é o favorito de Aurora.
Neste momento, Ricardo trabalha como arte-educador na Casa da Avenida, em Setúbal, e acompanha sobretudo crianças entre os três e os dez anos, no jardim de infância e ensino básico. Nas experiências que vai tendo, nota que os livros têm, efetivamente, “um lado de espelho e de empoderamento”. “Um livro também é, por excelência, um espaço de liberdade, onde tudo pode acontecer. E se eu vejo que naquele lugar tudo pode acontecer, vou acreditar que comigo também tudo pode acontecer. Para uma criança, essa liberdade pode e deve contaminá-la, nem que seja a fazer perguntas sobre o mundo. ‘Se o Jaime ganhou força para ser uma sereia, porque é que eu não posso ser?’ ”, diz Ricardo.
Para o arte-educador, é importante que o livro seja visto como um objeto do dia a dia, que pode ser tocado e transportado; é também importante que seja um ponto de partida e que “o seu conteúdo salte para outro tipo de possibilidades”. “[Com a Aurora] falamos do Jaime, muitas vezes, já sem estarmos a ler o livro, seja porque ouvimos uma música que associamos à história ou por outro motivo semelhante. Há um existir que transcende o livro e que fica na vida da criança a muitos níveis”, partilha.
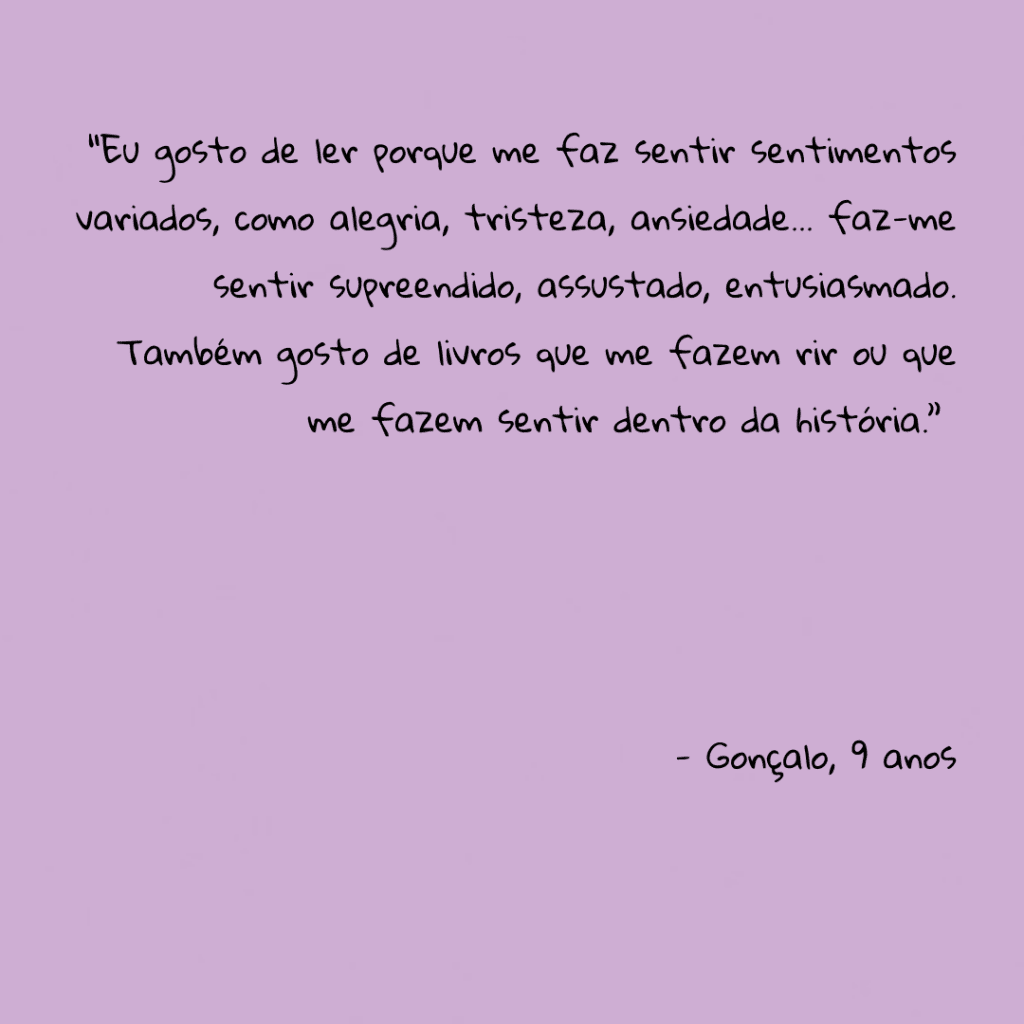
Ricardo, como Inês, não acredita que exista cedo demais e, inclusive, nem sempre atenta à classificação etária dos livros. O mesmo livro poderá ser lido em diferentes fases de vida, tendo a criança acesso a diferentes camadas da história com maior profundidade de cada vez que lho lêem ou o lê. Para as fundadoras da Dois Pontos, “as histórias são essenciais nesta primeira fase de experiência da leitura”, uma vez que “através das narrativas e das personagens fictícias, as crianças podem projetar as suas próprias vivências, emoções e pensamentos, o que vai enriquecer o universo da criança com múltiplas perspectivas e abordagens da vida”.
De acordo com um estudo publicado este ano nos Estados Unidos, no Journal of Experimental Psychology, que chega a esta reportagem pelas mão de Ana e Sara, da Dois Pontos, “as crianças são capazes de pensar sobre diversos tópicos que podem ser considerados complexos desde tenra idade” e “mesmo que os adultos não falem com as crianças sobre questões raciais, essas crianças vão arranjar uma forma de dar sentido ao seu mundo e vão adquirir as suas ideias, que podem ser imprecisas ou prejudiciais”.
Joana Carvalho, mãe de Gonçalo, de nove anos, e de Inês, de cinco anos, também não acredita no conceito “cedo demais” quando se trata de abordar, em conjunto, temas que se encontram no dia-a-dia. O único entrave que pode existir na liberdade que dá a Gonçalo para ler tem que ver com sentir que um livro, em específico, ainda não se adequa à sua idade, por uma questão de “maturidade” — ainda assim, mantém as hipóteses em aberto. Nos momentos a três, em que lê alto para Gonçalo e Inês, surgem conversas a partir do que ali se encontra: “pergunto, muitas vezes, o que é que eles acham que a personagem sentiu naquele momento, por exemplo, ou o que é que aquela situação os faz sentir, e normalmente daí nascem diálogos bastante interessantes, em que eles pensam e se colocam na pele de outras pessoas”.
O caso de Marta Pinto, mãe de Dinis, de três anos, é semelhante: “hoje em dia, os livros de crianças já abordam temas fraturantes da sociedade, de uma forma natural. Em vários livros do meu filho aparecem, por exemplo, casais do mesmo sexo, crianças de várias formas e cores… e podemos falar e ler a história de igual forma, sem colocar qualquer diferença (que não existe) na leitura da mesma, tornando a especificidade de cada um, a normalidade para todos”, conta.
A partir da sua própria história, Sara Brandão, co-fundadora da recém-criada Truztruz, escreveu o também recém-publicado A geração dos bancos de madeira. O livro dedicado ao seu avô fala sobre perda e memória, sobre estar perto sem estar. Sara, hoje adulta, escreve motivada pela relação de proximidade que construiu com os livros na infância, e conta que desde cedo foi “educada a perceber que os livros nos transportam a sítios onde, de outra forma, não teríamos a oportunidade de ir e sempre me motivaram a construir, por mim, alguns desses lugares.”


“E não é que os adultos não estejam, eu até acho que sou bastante infantil nesse aspeto, mas quando somos pequenos não temos tanta noção da realidade e isso ajuda-nos a redesenhá-la com facilidade. Um livro é sempre a oportunidade de um Mundo novo, seja este real, ou não, e é por isso que acredito que há livros que carregamos em nós a vida toda, de certa forma também eles nos moldaram o pensamento. Há três livros que me marcaram imenso a infância aos quais ainda hoje recorro: A Maior Flor do Mundo, do Saramago, O pássaro da alma, da Michal Snunit, e o A que sabe a Lua?, do Michael Grejniec”, recorda a jovem autora.
Carla Oliveira, editora da Orfeu Negro e fundadora da Baobá livraria, conta que quando começou a editar livros para a infância na Orfeu Mini, “já lá vão doze anos”, encontrou obstáculos nos leitores: “foi precisamente a falta de interesse pelo Outro enquanto alguém que vê e experimenta o mundo de forma diferente (da nossa) e com quem podemos aprender e partilhar. Enriquecermo-nos, portanto. Herdámos uma cultura fechada e conservadora, o que, felizmente, tem vindo a mudar, também através dos livros”, reflete.
Neste caminho que tem feito há mais de uma década, ganhou, também, a certeza de que “não existe cedo demais”. “Sendo eu uma otimista, tampouco acredito no tarde de mais. Temas como o racismo ou a tolerância não têm de ser abordados literalmente. Um álbum ilustrado, por exemplo, permite falarmos de valores universais sem mencionarmos a palavra ‘racismo’ ou a palavra ‘equidade’. Na minha opinião, o importante é que as histórias nos transmitam um mundo diverso, com personagens à medida da realidade, mas também fora dela. Ou seja, onde nos encontremos, porque a identificação quando somos crianças é essencial, onde conheçamos o outro e, obviamente, onde nos ultrapassemos, no sentido do livro enquanto lugar da imaginação. E, sim, os livros podem deixar marcas. Positivas ou negativas. A nós, mulheres, enganaram-nos durante anos com a história do príncipe encantado, nosso salvador [riso]”.
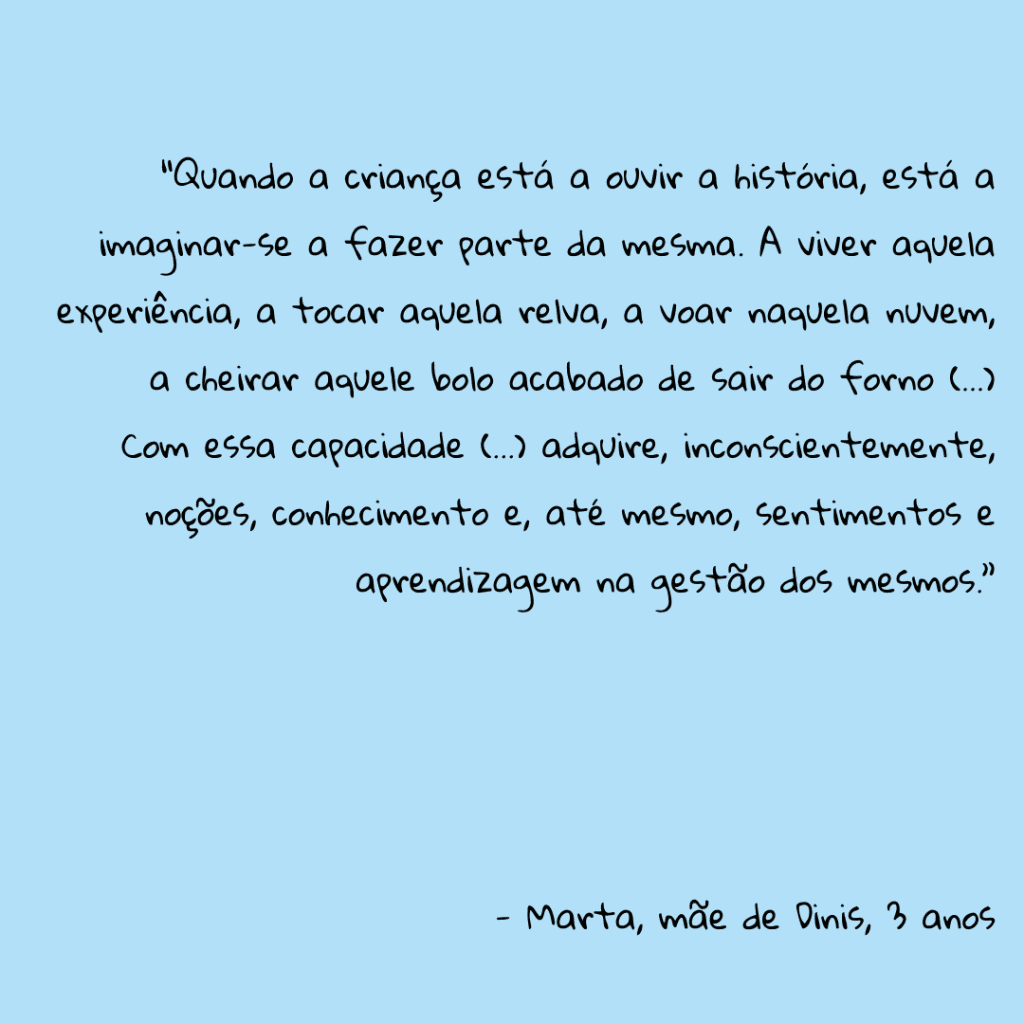
Escrever sobre o que nos é próximo
À história da Orfeu Mini e de Carla, juntou-se Ana Rita, livreira da BAOBÁ. Nesta livraria que pede emprestado o nome “à antiga árvore africana”, encontra-se “uma reserva de vida para todos aqueles que cruzam a sua porta”. Tanto através dos livros como de convidados que lhes dão outras vidas — como contadores, atores, músicos e outros artistas convidados —, reforçam-se “laços entre os autores e os leitores, promovendo um sentido de comunidade”. Gera-se memória afetiva.
Neste lugar que guarda já tantas histórias, Carla e Ana Rita são as suas guardiãs que, dia após dia, têm a certeza de que os livros podem mudar vidas: “ainda há pouco tempo, tivemos uma cliente que nos contou como o livro The Tunnel, de Anthony Browne (não traduzido em Portugal), resgatou a relação dela com o irmão. E estamos a falar de uma mulher adulta”, contam, “uma contadora da Nuvem Vitória (associação de voluntários que lêem nos hospitais) falou-nos da importância de um livro sem texto como o SONHO, de Susa Monteiro (Pato Lógico), para um leitor mais velho; neste caso, era um adolescente negro que se viu pela primeira vez representado na imagem.”
Mas as histórias de The Tunnel e SONHO não são as únicas. “A Editorial Novembro, pequena editora do norte, publicou um livro de Celina Pereira, A Sereia Mánina e Seus Sapatos Vermelhos, em português, crioulo de Cabo Verde e braille. Há dias, uma cliente dizia-nos que tinha comprado o livro, porque a sereia na história é negra e a filha, que adora sereias e nunca tinha visto uma sereia parecida com ela, ficou em lágrimas.”

Foi para contar as histórias que não leu, em que não se encontrou na infância e juventude, que Paula Cardoso escreveu a coleção juvenil Força Africana. “Lembro-me, na minha infância, de ler livros das coleções ‘Patrícia’, ‘Os Cinco’ e ‘Uma Aventura’, todos eles recheados de personagens que não se pareciam comigo. Na televisão, acontecia a mesma coisa, todas as imagens nos desenhos animados e anúncios para crianças – ou com crianças – eram de pessoas brancas. As únicas ocasiões em que me recordo de ver pessoas negras em posições de visibilidade positiva eram eventos desportivos ou musicais”, conta ao Gerador.
“Enquanto ia crescendo, não tinha essa consciência, não tinha referências que me permitissem interpretar toda uma narrativa de exaltação do ideal branco e de desumanização do negro. Agora sei que me fui apagando. Os sonhos que tinha foram morrendo. Este é o impacto da falta de representatividade. A mensagem que fica quando não aparecemos é: não há lugar para nós, não importamos, não temos a capacidade de assumir protagonismo, não podemos ser super-heróis”, partilha a jornalista.
Força Africana, a coleção que serviu de mote para a criação do Afrolink, saiu da gráfica há um mês e já começou a ser encomendado para presente de Natal. Ainda que não tenha recebido feedback de jovens leitores, recorda um momento de apresentação das personagens a um grupo de crianças no Casal da Boba, na Amadora: “foi fantástico perceber o entusiasmo dos miúdos ao se identificarem com os protagonistas. De repente, comecei a ouvir ‘eu sou aquela do afro/ eu sou a das tranças/ eu sou o Crioulo, etc’. Esta possibilidade de nos vermos a ocupar espaços e a desempenhar papéis é fundamental para nos sentirmos parte.”

Do outro lado do Atlântico, no Brasil, Rita Carelli preparou a coleção Um Dia na Aldeia, para imprimir em livros infantis as histórias da infância de diferentes povos indígenas, em português e na língua nativa. A filha do antropólogo Vincent Carelli, criador do projeto Vídeo nas Aldeias, começou “a frequentar aldeias [indígenas] com três meses de idade” e desde que se entende por gente — expressão que utiliza numa videochamada entre São Paulo e Setúbal —, existe “essa presença indígena muito forte” na sua vida, e “relações com inúmeros povos e indivíduos”.
“Comecei a trabalhar muito nova como atriz, fazendo os meus projetos artísticos, mas sem nunca ter abordado o tema indígena nas minhas criações. Era como se isso fosse muito mais constituinte de quem eu era do que do meu fazer profissional, mas, a certo momento, eu comecei a me sentir um pouco em dívida com esse legado da minha infância, porque eu sentia que tinha tido uma sorte tão grande por ter vivido essa infância recheada por esse contacto com os diferentes povos indígenas, e que eu achava que era uma coisa tão preciosa, que eu tinha tido um privilégio tão grande, que precisava fazer alguma coisa para dividir essa experiência da minha infância com outras crianças que não tiveram essa proximidade”. Assim surge Um Dia na Aldeia.
Na mesma altura, o seu pai “virou avô” e, depois de terem feito em conjunto um programa que tinha em vista a integração de narrativas indígenas nas escolas, num projeto em parceria com o Ministério da Educação do Brasil, que nunca chegou a ser efetivamente distribuído pelo governo, fez sentido desenhar uma coleção para os mais novos. “Ele [Vincent Carelli] falou: ‘com as gerações mais velhas e é muito difícil falar da questão indígena, porque já tem preconceitos tão arraigados e é tão difícil desconstruí-los, que talvez se a gente começar a falar para as crianças sobre a riqueza dessa diversidade, dessas culturas, elas serão adultos mais maleáveis, mais permeáveis a essas questões”, contextualiza Rita.
Rita Carelli conta que, neste caso, e ao contrário do Vídeo nas Aldeias, é um projeto de dentro para fora. Ainda que importe devolver estes livros às aldeias, o objetivo primordial é criar um ponto de contacto com crianças não indígenas que as permita conhecer “crianças indígenas na contemporaneidade, saber como vivem e quais são as suas línguas”. A coleção tem mitos, documentários, e outros tantos conteúdos em diálogo, “sem nenhum saudosismo, numa visão positiva e realista”. “Eu queria que as crianças tivessem contacto com imagens positivas dos índios, queria transmitir um pouco essa alegria de ter podido viver parte da minha infância em aldeias indígenas para outras crianças não indígenas.”

Na coleção Um dia na Aldeia, que Rita gostava de ver publicada em Portugal, dá a conhecer os Wajãpi, Ikpeng, Panará, Mbya-Guarani, Kisêdjê e Ashaninka. A opção de cada edição ser bilíngue relaciona-se com o facto de querer “marcar a presença dessas línguas indígenas que são também muito apagadas no Brasil”. “A gente se comporta como se o Brasil fosse um país de uma língua só, o português, que é a língua do colonizador, mas no Brasil existem mais de 150 línguas indígenas vivas, hoje. Então, para mim, colocar isso no papel era imprimir a presença dessas línguas e, ao mesmo tempo, naturalmente permitir que esses livros voltassem para as escolas indígenas.”
Além de Um Dia na Aldeia, a atriz escreveu Minha Família Enaunê, um livro também dirigido a pequenos leitores e que conta a sua própria história e a infância passada com os Enauenê-Nauê, no estado do Mato Grosso, no Brasil.
Ver o livro como um espelho, num mundo a que todxs pertencemos
Ricardo Guerreiro Campos gosta da “ideia de que o livro é um território em aberto, de exploração“. Para Sara Brandão, um livro pode também ser um lugar de encontro com outros lugares que não estão ao alcance do nosso radar. “Como é que se podem idealizar futuros jovens pensantes se nunca foram questionados com realidades externas à que conhecem? Se os livros têm essa magia, porque é que haveríamos de privar os mais novos de crescerem conscientes e sensíveis a si e ao outro, do mais diferente ao mais semelhante?”, questiona a autora da Truztruz.
É por existir essa dualidade entre a viagem para o desconhecido e o espelho que o livro infanto-juvenil se revela um objeto essencial na construção da identidade — que pode, também, reproduzir uma sensação de apagamento. Paula Cardoso recorda que “quando somos crianças gostamos de fingir que somos esta ou aquela personagem” e que “se não tivermos nenhuma que se pareça connosco, dificilmente faremos esse exercício”. “Termos personagens e narrativas diversas é essencial para que todas as crianças se revejam, para que se sintam representadas, e para que percebam que todos têm o direito de ser protagonistas. Acredito que a maior representatividade desencoraja atitudes de superioridade de uns sobre os outros, aumentando a autoestima e sentimento de pertença.”
Como diz a criadora da Força Africana, “não é por acaso que crescemos com a ideia de que as bruxas são as más, e fadas as boazinhas da história”. É por isso que, seja em que idade for, importa desconstruir personagens-tipo e narrativas dominantes. Nos livros, nas conversas entre crianças, jovens e adultos, e nas escolas.






