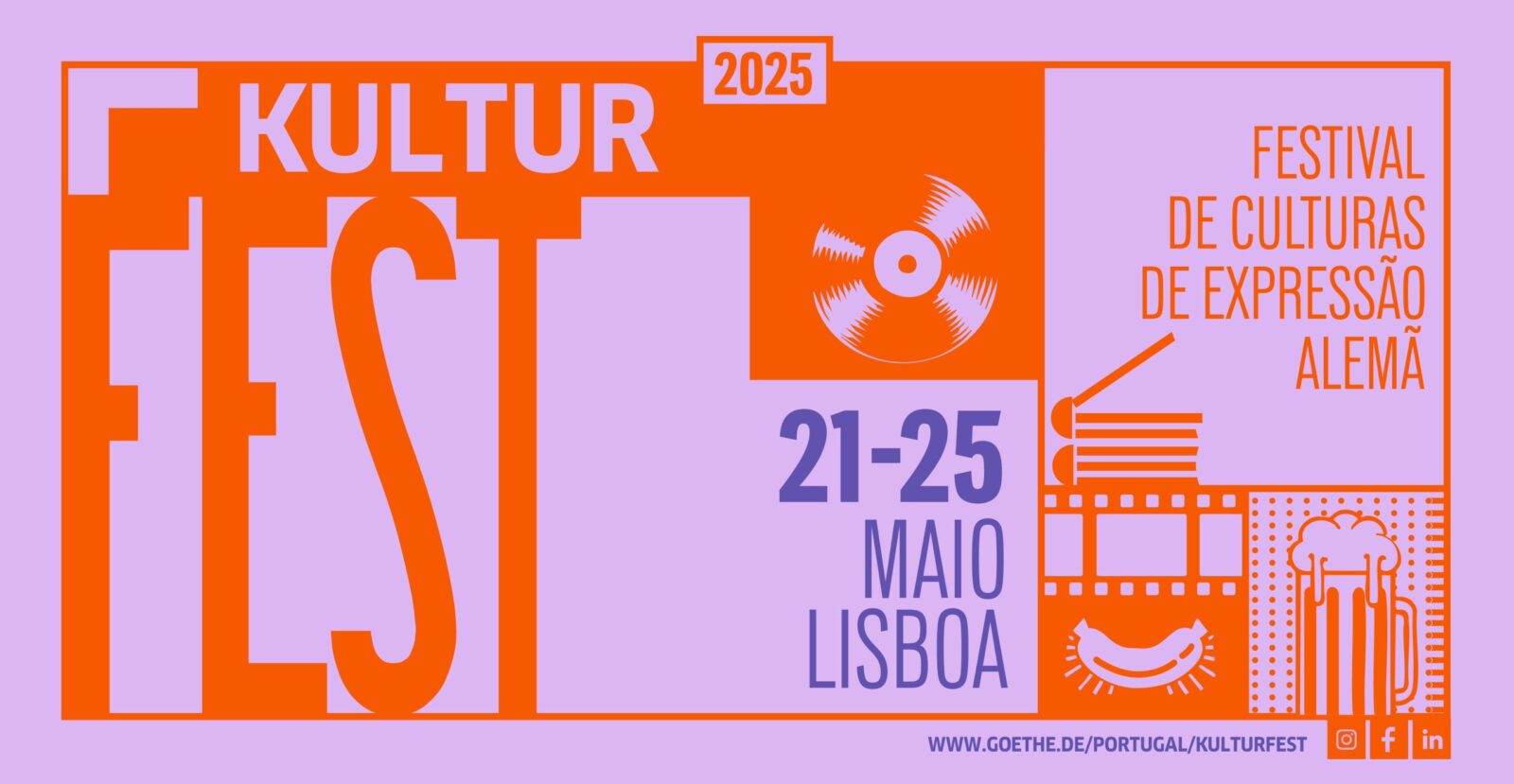Aline Frazão está de volta com Uma Música Angolana. O disco está disponível a partir de 4 de março e traz consigo “uma festa inesperada num momento semissombrio”.
Aline é música. Dentro disso cabe ser cantora, compositora, guitarrista e produtora. Junta ao seu percurso de artista e mulher feminista, ser cronista, autora da banda sonora da longa-metragem de ficção angolana Ar Condicionado, e lançar quatro álbuns – Clave Bantu (2011), Movimento (2013), Insular (2015) e Dentro da Chuva (2018). Em 2021, presenteia o público com Uma Música Angolana, um disco de crónicas musicadas que é uma celebração de dez anos de carreira, junto daqueles que a inspiram.
Uma Música Angolana navega entre vários ritmos de matriz africana, como a Massemba e o Kilapanga de Angola, o Batuku de Cabo Verde, o Soukous do Congo, o Afoxé e o Maracatu do Brasil – desconstruídos, reinventados, reivindicando-se aqui não só a origem comum a todos eles mas também imaginando uma sonoridade nova de fronteiras perdidas, que se consolida sobre uma espécie de pátria imaginária feita de memórias rítmicas partilhadas, de lutas atuais e de celebrações necessárias e urgentes.
A artista angolana voou de Luanda até Almada para gravar no PontoZurca um reencontro. Juntou o artista angolano Nástio Mosquito, o cantor brasileiro Vítor Santana e a violoncelista alemã Suzanne Paul. Brisa Marques assinou uma letra para melodia composta por João Pires, e o fadista Ricardo Ribeiro compôs uma canção inédita para poema de Pedro Homem de Melo. Recupera ainda uma canção de Paulo Flores, com novo arranjo, para o colocar, “oficialmente, no estatuto de clássico gravado pelas novas gerações”.
Em entrevista ao Gerador, Aline lembrou o seu percurso, desde os vinte anos cheios de uma ambição de autenticidade e garra, aos trinta onde a música é, cada vez mais, uma fonte de bem-estar e diversão. A música falou-nos ainda da Angola de Pepetela e como a encontramos neste disco através de “Luz Foi”, de como o kintsugi é uma das bases de “Luísa”, de ser mulher, de raízes e de como este disco materializa a saudade dos palcos – “Quero partilhar com as pessoas, porque tenho saudades delas, e é isso – a saudade serve só para fazer poesia, não para ficar no armário, temos de nos livrar dela, matá-la, matar saudades.”


Gerador (G.) – Ainda te lembras o que a Aline de 20 anos queria passar ao mundo quando lançou o seu primeiro álbum, Clave Bantu?
Aline Frazão (A. F.) – Acho que sempre tive, na altura mais, mas sempre tive uma ambição de passar verdade, uma ambição de autenticidade, algo assim. Aquilo que tocasse emocionalmente as pessoas, que se identificassem, que tivesse algum tipo de força, que tivesse algum valor artístico, mais do que propriamente comercial, acho que tinha essa preocupação no meu primeiro álbum.
G. – E agora, com os álbuns que foste lançando, sentiste que algo mudou, ou acrescentou àquilo que já querias?
A. F. – Essa pergunta é muito boa. Eu acho que muitas coisas se mantêm, muitas coisas que são as mesmas, mas, por um lado, eu tinha muito mais energia quando comecei, e isso é uma coisa normal, bastante óbvio até de se dizer, mas eu tinha mais, uma certa garra, sabes, que eu não tenho agora, agora talvez tenha outras sensações. Sou mais sossegada hoje em dia, mas admiro muito a força de vontade que eu tinha na altura, a vontade de trabalhar, a forma como me entregava em palco, como era tudo tão desgarrado mesmo em disco. Hoje em dia, eu acho que me levo menos a sério, acho que isso é bom, já não tenho assim uma vontade de passar uma imagem, tento não me preocupar tanto com isso, e permito-me mais divertir-me com os processos, não só expressar o meu mundo interior, emocional, psicológico, a minha visão do mundo, mas ver a música como um espaço de diversão, de bem-estar, da alegria, de frescura de leveza. Porque acho que também, com o tempo, vamos vendo que a vida é bem complicada, e talvez um dos papéis mais importantes da música seja esse: dar-nos uma fonte de bem-estar. Isso parece pouco, dito assim, mas é muito relevante hoje em dia, mais do que nunca. E acho que é muito importante que as pessoas que fazem música se divirtam e façam por gozo, prazer. Por vezes, no início, eu tinha muito o sentido de missão, compromisso, dar tudo em cima do palco, um amor à camisola muito grande, e por vezes saia um pouco queimada, como dizem os espanhóis, esgotada. Hoje acho que faço uma gestão de energia um pouco mais ecológica.
G. – E achas que isso foi acontecendo porque te foste desiludindo com o mundo e foste aproveitando só o poder fazer música?
A. F. – Não, não diria assim. Eu diria que, quando eu comecei, havia uma certa inocência que acho que é completamente normal. É verdade que eu tenho uma carreira de dez anos, dos 23 aos 33, e claro, muitas coisas acontecem na tua vida, é normal qualquer pessoa sentir o passar do tempo, e os artistas não são diferentes. No meu caso, eu sinto o passar do tempo e sinto que há coisas que se mantém – características minhas visões do mundo, opiniões, mas também opiniões que se mudando, dissolvendo, e eu tenho um certo fascínio por isso, e este disco fez-me refletir muito sobre isto. É muito curioso termos começado a entrevista a falar sobre isso do primeiro álbum porque foi um exercício que eu fiz mesmo antes de gravar Uma Música Angolana. Fui ouvir o disco e pensar um pouco sobre isso. Houve até um artigo que a Teresa Gentil escreveu – uma académica, música e compositora portuguesa –, sobre o meu trabalho, que me fez pensar muito sobre isso, sobre essas coisas que mudaram mais desde o Insular, e fui ler essas opiniões que eu tinha, que lhe dei na entrevista, e a forma como eu falei, as frases, havia coisas que eram superatuais e outras que eu diria de uma forma muito diferente. Eu nem sequer diria que hoje em dia me dá uma sensação de nostalgia. Eu não tenho nenhuma supersaudade da pessoa que eu era com 20 anos, e daquela intensidade toda, estou muito contente com o momento atual que estou vivendo, mas acho que essa passagem do tempo tem uma carga poética também muito grande. A desilusão… é complicado porque não encaro assim, encaro mais como uma desromantização das coisas, como encontrar beleza no que é feio, simplesmente porque é o que existe. Por vezes a vida não corre bem, há problemas, dores, desilusões e pessoas de quem gostamos que não vão mudar. Há coisas que são simplesmente assim e aceitar às vezes é bom, traz muita paz. Eu acho que valorizo isso, mais do que a intensidade toda. Não considero isso uma desilusão. Talvez já tenha considerado, mas neste momento não.
G. – Tens sempre também uma carga na letra, uma mensagem, há sempre uma preocupação com a poesia, inclusive vais sempre buscar alguns escritores, como Agualusa, agora Pedro Homem de Melo… a escrita é mais importante do que o ritmo, ou, para ti, os dois completam-se?
A. F. – Acho que são os dois importantes. Eu, enquanto público, há músicos que sigo mais pela letra, outros pela música. No meu caso, para mim é igualmente importante, não consigo dizer que a letra é mais importante do que a música ou vice-versa, mas tenho tendência a começar pela letra, papel e caneta, e a partir daí pegar no violão. Primeiro a palavra – até parece uma frase bíblica –, mas começo sempre por aí. Agora mais recentemente também me comprometi mais com essa função da escrita e até mesmo apanhei algum balanço e alguma coragem para começar a escrever ficção, que era ima coisa que eu queria fazer, mas sempre tive muito medo, muita vergonha de tentar e de falhar, enfim coisas que todos nós sentimos. Hoje em dia, tenho muito claro que gostava de dedicar mais tempo à escrita da ficção e inclusivamente mesmo à poesia, que eu considero que já escrevo através das letras das canções. São várias etapas à parte da escrita. Uma parte da composição, os arranjos, pensar o som da banda, e eu disfruto imenso da parte performativa, a parte de estar em cima do palco, de cantar, usar a minha voz e o meu corpo encarar o público. A verdade é que é um trabalho muito bonito e que me faz muito feliz. Disfruto de todas as etapas artísticas que envolvem uma canção ou um disco.
G. – Incluindo onde gravas os discos? Serem em vários países faz parte desse processo?
A. F. – Tem feito. Tenho tendência a que nada seja por acaso. E esses lugares têm tendência a influenciar muito a música que sai dali ou estado de espírito. Lembro-me de que no Insular dizia que o contexto afeta muito o resultado. Esse foi gravado na ilha de Jura, e o disco tem toda essa aura um pouco flutuante, muito marítima. O Movimento foi gravado em Almada, é um disco que tem um calor, uma energia muito própria. O primeiro disco foi gravado em Santiago de Compostela e foi o início de tudo e representa muito aquele momento, uma escassez de recursos, três músicos, tínhamos um tempo superlimitado de estúdio, tinha muito pouca experiência, mas tínhamos todos muitas ganas. Dentro da Chuva foi gravado no Rio de Janeiro, um disco superintrospetivo, não podemos dizer que seja uma cidade superintrospetiva, mas muita da música que me inspirou foi a música brasileira, a música feita com o violão, foi uma espécie de escola para desenvolver o meu próprio reportório. Eu revejo-me nos olhos de Tom Jobim, a forma como olhava para aquela cidade, uma coisa que me marcou muito, e isso também talvez tenha influenciado a minha relação com a minha cidade, Luanda. Esse sentido de observar que ele tinha. Estar ali foi muito isso, meditativo. Este é o regresso ao sítio onde foi gravado Movimento, na PontoZurca, em Almada. Para mim é como jogar em casa, é onde ensaio sempre com as várias bandas que tive, trabalho com todas aquelas pessoas há muitos anos… Para mim, o que era importante, independentemente do sítio, era que fosse simples, descomplicado, familiar, quase casa. E por isso escolhi também PontoZurca, porque é realmente um espaço onde todo nós nos sentimos muito à vontade.
G. – Então este disco traz uma Aline mais inteira, que já sabe onde está bem a fazer o que gosta?
A. F. – Acho que sim, mas não sei. É inevitável que haja mais madurez, é uma coisa normal, acho que sim, e eu realmente estou muito contente por ter tomado esta decisão de gravar onde gravei, e entender que gravar um disco nestas condições pandémicas podia não ser fácil, e que realmente o melhor seria não viajar. Aliás, tive de vir de Luanda, tirando isso todos os músicos moravam em Portugal por isso o mais fácil era gravar aqui. Queria reencontrar-me com a minha família musical, com aquela casa, que é o que faz recuperar o sentimento de pertença. Depois do corte da pandemia, foi superimportante, e funcionou bem essa escolha, porque o processo foi fluido, profissional, estávamos todos empenhados e ficámos todos muito contentes com este disco.
G. – No ano passado apresentaste o Luz Foi, a primeira janela para este álbum, e começas esta história por dizer “Eu estava a ler Geração da Utopia | Imaginando como seria se o sonho não fosse só teoria” e acabas por repetir, “Luanda é um reino de lata, com brilho de prata”. O que é que mudou nesta Angola que Pepetela retratou?
A. F. – Ele tem uma obra muito vasta e retratou todas as etapas do país que viveu, e viveu muitas etapas, mas a Geração da Utopia é um livro que fala da utopia da independência, essa geração que decidiu juntar-se à luta pela independência de Angola contra o regime colonial português. Uma geração que era muito jovem, que conquistou um país independente com uma idade muito jovem, tinha muitos sonhos, muitos ideais, muitos planos para o país, muitas combinações de projetos políticos para o país, e depois há uma outra fase no livro que é o reencontro entre esses camaradas já nos anos noventa, e é um momento de deceção, porque meteram lado a lado as ideias políticas que tinham e o rumo que o país tinha tomado. Apesar de eu ser de uma geração muito distante do Pepetela, ao ler os livros dele, eu também cresci com uma ideia de compromisso com o país, com uma ideia de projeto de país, um certo nacionalismo, uma certa força e inspiração nessa Geração da Utopia. Morei em Luanda nos últimos quatro anos, assim seguido, e a verdade é que essa canção reflete como, às vezes, os problemas do dia a dia se atravessam pela frente e atropelam as utopias. Às vezes queremos imaginar o país, mas não temos água para tomar banho, ou a luz não acende, ou há qualquer outro problema estrutural básico, como o dinheiro acaba, não temos o que comer, que é uma realidade de grande parte da população angolana. Então, é um pouco um questionamento sobre isso, sobre o que é feito das utopias, para onde elas foram, e quem foi que as desfez, como também pergunta a canção. No meu caso, há um pouco o mesmo movimento das personagens da Geração da Utopia que algum dia, de uma forma mais inocente, acreditei, de uma forma talvez mais irrealista, em como as coisas iam correr em Angola e agora talvez comece a entrar numa fase que não é propriamente uma desilusão ou pessimismo, mas uma compreensão real de que é difícil mudar as coisas, e que nos falta muito para isso acontecer. E sim, talvez entre aí uma certa desilusão, mas não me considero, e seria mentiroso da minha parte dizer que esse é o principal sentimento, também seria mentiroso dizer que o principal sentimento era a esperança que sentia. É uma grande falta de confiança nos dirigentes políticos do país. Isso também dificulta.
G. – Nesses quatro anos em que ficaste em Angola de uma forma mais presente, o que mudou nessa Angola de Pepetela, algo que ele se orgulharia?
A. F. – Não acho que não, acho que há um retrocesso muito grande. Acho que é um retrocesso muito grande na verdade a nível social e político, o país vive um momento mesmo dramático. Pelo menos essa é a visão que eu tenho, e acho que tem muito que ver com o contexto económico que o país atravessa, uma crise grande, um grande endividamento, consequência de muitos anos de corrupção (que continua a existir). Agora existe, sim, uma mudança ao nível da liberdade de expressão, pode-se sentir alguma coisa nesse aspeto que antes, no tempo de Eduardo dos Santos, não se sentia tanto. Mas acho que, hoje em dia, a minha sensação é que houve uma oportunidade muito grande histórica que foi desperdiçada, uma oportunidade para se impulsionar as transformações sociais no país e que agora é preciso levar muito a sério essas questões, as prioridades reais, o pais, e com muito cuidado com as consequências, que as decisões políticas tomadas hoje terão para as gerações futuras. Porque o que me preocupa, hoje em dia, é a Angola para as gerações futuras, para quem está a nascer hoje e que vai começar a trabalhar daqui a vinte anos, isso sim parece mais preocupante, porque há muitas decisões que já estão a ser tomadas, nomeadamente a nível do endividamento, da exploração dos recursos e de certas decisões econômicas em compromissos com entidades internacionais e financiadores de empréstimos, enfim, todo este tipo de jogada de política externa, que podem ter consequências graves para as gerações futuras. Há uma certa falta de rumo para o país neste momento. Isso é um pouco preocupante porque apesar de existir um certo retrocesso, também motivado pela pandemia, existe uma certa falta de rumo. Não sei se há um progresso muito grande, talvez haja, realmente, um retrocesso.
G. – Luísa é outra música deste novo álbum. Quem é a “Luísa” e que tema nos traz?
A. F. – Começando pela letra, comecei a escrever como um exercício meio descomprometido. Eu gosto muito do nome Luísa muito por causa de uma canção de Tom Jobim que se chama “Luísa”. Então fui ver palavras que rimavam com Luísa, fiz uma lista de palavras e verbos. E comecei a escrever uma personagem fictícia, que é o somatório de várias mulheres que se encaixam nessas definições. É uma celebração feminista, obviamente, como foi Sumaúma, do disco anterior. Sou feminista e levo a sério isso, mas ao mesmo tempo acho que era uma forma de tentar trazer aqui uma mensagem, que me serve a mim também muitas vezes, de autoconfiança, de, como diz o refrão “Nem te ocorra mudar | o que em ti é inquieto| O que em ti é falho e é belo porque é remendado | E o que é remendado nasceu | Outra vez e nunca tem fim”. Essa ideia do que acontece depois de algo se quebrar dentro de nós, o que acontece no momento seguinte a algo se despedaçar dentro de nós, a gente começa um processo de remendar, e esse processo de remendar as coisas (que há até um nome asiático para isso) até encontrar beleza nas cicatrizes, nos remendos, é uma forma de eternizar as coisas, que renascem, nascem outra vez e não têm fim. É um pouco essa ideia, de que há sempre novos começos e o erro não faz mal, não faz mal acontecer algo que nos magoa, não faz mal se correr mal no caminho. Por vezes as mulheres, aliás a maior parte das vezes mesmo, as mulheres têm de fazer as coisas três vezes ou quatro veze melhor do que os colegas homens, há um grande desequilíbrio quando falamos dessas questões da sociedade machista e podemos ver com coisas muito especificas. Eu agarrei-me a uma ideia de que parece que as mulheres têm uma relação muito problemática com a imperfeição, com as coisas não estarem mesmo impecáveis, seja com aparência, com trabalho, com as expectativas que pomos nas relações, na família, há uma dificuldade muito grande de ajuste da expetativa e realidade também, e o que dói mais é em relação a nós próprios, ao que cobramos de nós mesmas, e somos muito impiedosas. Então essa canção tenta puxar para cima essas coisas de dançar sozinha nas vitórias, de não precisarmos de coro ou publico para isso. E ter um pouquinho mais de autoconfiança, carinho por nós mesmas, e umas com as outras, porque não, também seria bom.
G. – A técnica é japonesa e chama-se kintsugi…
A. F. – É isso mesmo e a isso junto também outro aspeto que é a questão da voz, que se concentra mais no final da letra. Todas essas mulheres que escrevem, todas essas mulheres que falam, todas as mulheres que inventam, essas mulheres criativas que colocam coisas novas no mundo. E como muitas vezes esse ato faz com que se reveja e se conheça melhor – “Porque quando tu voas, Luísa | Meu abismo se suaviza | E quando tu escreves, Luísa |Meu corpo cicatriza | Quando tu falas, Luísa |Meu segredo se banaliza |É da tua palavra que este mundo precisa.” É isto que precisamos, mais mulheres a fazer entrevistas, mais mulheres a ocupar o espaço público, cargos de decisão. E mais mulheres não só a nível numérico, mas com essas ideias de garantir uma sociedade mais justa e com menos agressões e sofrimento, porque não é fácil lidar com esse dia a dia. Há dias muito bons e dias muito maus em que nos sentimos um caco.
G. – E porque decidiste chamar ao álbum Uma Música Angolana, é uma história?
A. F. – É uma soma de muitas coisas, foi uma ideia que tive, porque fiz uma reflexão há pouco tempo nas redes sociais sobre a questão da minha profissão. Na língua portuguesa, chamares-te música é meio estranho. Muitas vezes prefiro dizer que sou cantora e sou eu própria que começo a limitar o meu trabalho, porque eu sou cantora e outras coisas, a palavra música é mais abrangente, o suficiente para não excluir as várias facetas de uma pessoa que trabalha com música. Então quando somos nós próprios que nos começamos a limitar, ou então temos que nos definir através de uma enumeração com várias vírgulas, também não é muito confortável, mas no meu caso quer dizer que há alguma coisa de muito errado com a linguagem, então essa ideia ficou na minha cabeça, aqui atrás, antes de eu pensar seque num título para disco. Por outro lado, eu queria fazer um disco que recuperasse esse calor dos ritmos, um compromisso que tenho com este disco é esse, que tivesse calor, dança, ritmo, coração, uma coisa diferente do disco anterior, com som de banda, um som grande. Depois vieram todas as influências de músicas que não são estritamente angolanas, mas que têm uma matriz africana, e aí entra um pouco a minha ideia de que as músicas de matriz africana, muitas delas estão ligadas umas às outras, há muitos ritmos que poderiam fazer parte do outro lado do Atlântico. Quando fala de Angola pode falar do Brasil por exemplo, porque, na verdade, foram feitas pelas mesmas pessoas, as pessoas que fizeram música no Brasil são as pessoas que foram levadas do continente africano, escravizadas, e levaram para o outro lado do mar a sabedoria de como esticar a pele de um animal num tronco de árvore e fazer um tambor, e os cânticos que aprenderam e que não se esqueceram durante essa travessia. E essas músicas foram-se misturando com outros povos, não só Europeus, há uma mistura desses ritmos. Vêm de um lugar comum, e isso é muito intuitivo para quem ouve música do sul da América, algumas do Norte, uma sensação de que “é meu”, não preciso de licença para cantar um samba, para meter um maracatu, ou afroxé no meu disco, porque, de certa forma, sinto que me pertence, que faz parte do que é a música angolana. Então é um pouco provocativo esse título. E tem o lado da música angolana como se fosse uma canção ou disco, tem um certo ar de cronista também. Posso adiantar que o disco tem várias canções que têm um tom meio de crónica, como “Luz Foi”, o “Luísa”, o “Fumo” que é uma canção do Paulo Flores que ele lançou em 2005, são canções meio crónica social, um lado meio de cantor viajante, os griôs, que improvisavam música e inspiravam-se no que viam para fazer as canções. Por um lado, eu, como música angolana, sou mulher a fazer música, reclamando um espaço para as mulheres na música, de uma forma geral, ampla, não só para mim, mas para muitas outras mulheres compartilhando dessa sensação. Por outro lado, essa questão do que é música, o que é a identidade angolana, qual é a relação real entre os ritmos de hoje em dia, se têm fronteiras ou não, por outro lado, esse lado também de cronista que vem ao de cima com este disco.
G. – Este disco traz alguns nomes, como Paulo Flores, porque escolheste cada um destes artistas?
A. F. – Todos são pessoas que me inspiram muito, são meus amigos. Começando pelo Paulo Flores, é uma referência da música angolana e acho que sempre foi o artista mais próximo geracionalmente, que me inspirou mais – Paulo Flores, André Mingas, Filipe Mukenga, até me sinto mal por dizer só três porque tenho muitas influências. Há muito que queria gravar uma música do Paulo Flores e sempre adorei a canção que escolhi, sempre quis fazer uma versão e ele autorizou. A minha ideia é um pouco elevar o Paulo, oficialmente, ao estatuto de clássico gravado pelas novas gerações. Por outro lado, o Nástio Mosquito é um artista angolano também que, além de performer, é músico, cantor, e eu adoro os discos do Nástio, tem uma irreverência e rebeldia que me parecem fundamentais, e o seu trabalho inspirou muito a minha atitude neste disco, principalmente na música em que participa. O Vítor Santana, de Belo Horizonte, é um grande cantor, e vem com a sua voz, porque adoro as nossas vozes juntas, mas o Vítor e o João Pires inspiram-me na atitude diante da composição, pertencem a essa geração de brasileiros (apesar do João ser português, mas passou muito tempo no Brasil), de uma profunda produtividade, uma paixão pelas canções, pelos acordes, harmonia, melodia, e são realmente almas gémeas, identifico-me muito com eles. Este disco é feito de amigos, amizades e vínculos”. A Suzanne Paul é uma violoncelista de Berlim, e estamos num projeto juntas, de jazz feito maioritariamente por mulheres. A Suzanne é uma música absolutamente inspiradora, incrível. Qual acabei de gravar O Sul, um poema do Rui Duarte de Carvalho, musicado por mim, senti que faltava algo e sempre tive a ideia de chamar a Suzanne. Quando ela me enviou a sugestão dela, foi uma sensação de realização, de “era mesmo isto que faltava”. A Brisa escreve uma letra musicada pelo João – o Batuku – é de Belo Horizonte, desse hub de artistas mineiros, que eu admiro muito e com os quais me identifico. E depois há uma canção do Ricardo Ribeiro que eu ouvi a cantar num projeto, muito recentemente, que fizemos juntos e consegui logo ouvir um arranjo com banda, incrível, e ele deixou-me gravar. É um poema de Pedro Homem de Melo, e fiz um arranjo diferente da versão do Ricardo.
G. – O que podemos esperar do concerto em abril? Teremos este reencontro também em palco?
A. F. – O disco é todo muito orgânico, pede muito o “ao vivo”, e foi gravado e produzido para que aquelas pessoas que gravaram estivessem comigo em palco e tudo se reproduzisse tal qual. Sobre os convidados é mais difícil, estão todos espalhados pelo mundo, mas tenho a certeza de que terá a mesma força, ou mais, do que o disco. O que caracteriza este disco é que tem uma espécie de festa dentro, uma festa inesperada num momento semissombrio, complicado para as pessoas, todo o mundo está cansado da questão da pandemia, e traumas acumulados e muitas perdas, luto, e este disco tem esse lado do reencontro com a banda, com as pessoas com quem trabalho, com quem faço música. Este disco é um reencontro familiar alargado e de fé na música, fé nas artes e na cultura como uma forma de nos curar destes anos difíceis que ainda não acabaram, é essa crença de que a música pode ter um papel importante a religar a sociedade. Estou desejosa de poder tocar estas canções e passar essa felicidade, porque foi uma felicidade tremenda fazer este disco num contexto tao complicado, e estou muito orgulhosa desse trabalho, muito contente, porque houve um momento em que pensei que não ia gravar mais discos e gravar este foi um presenta da vida, e não faz sentido ficar com esse presente só para mim, quero partilhar com as pessoas, porque tenho saudades delas e é isso – a saudade serve só para fazer poesia, não para ficar no armário, temos de nos livrar dela, matá-la, matar saudades.