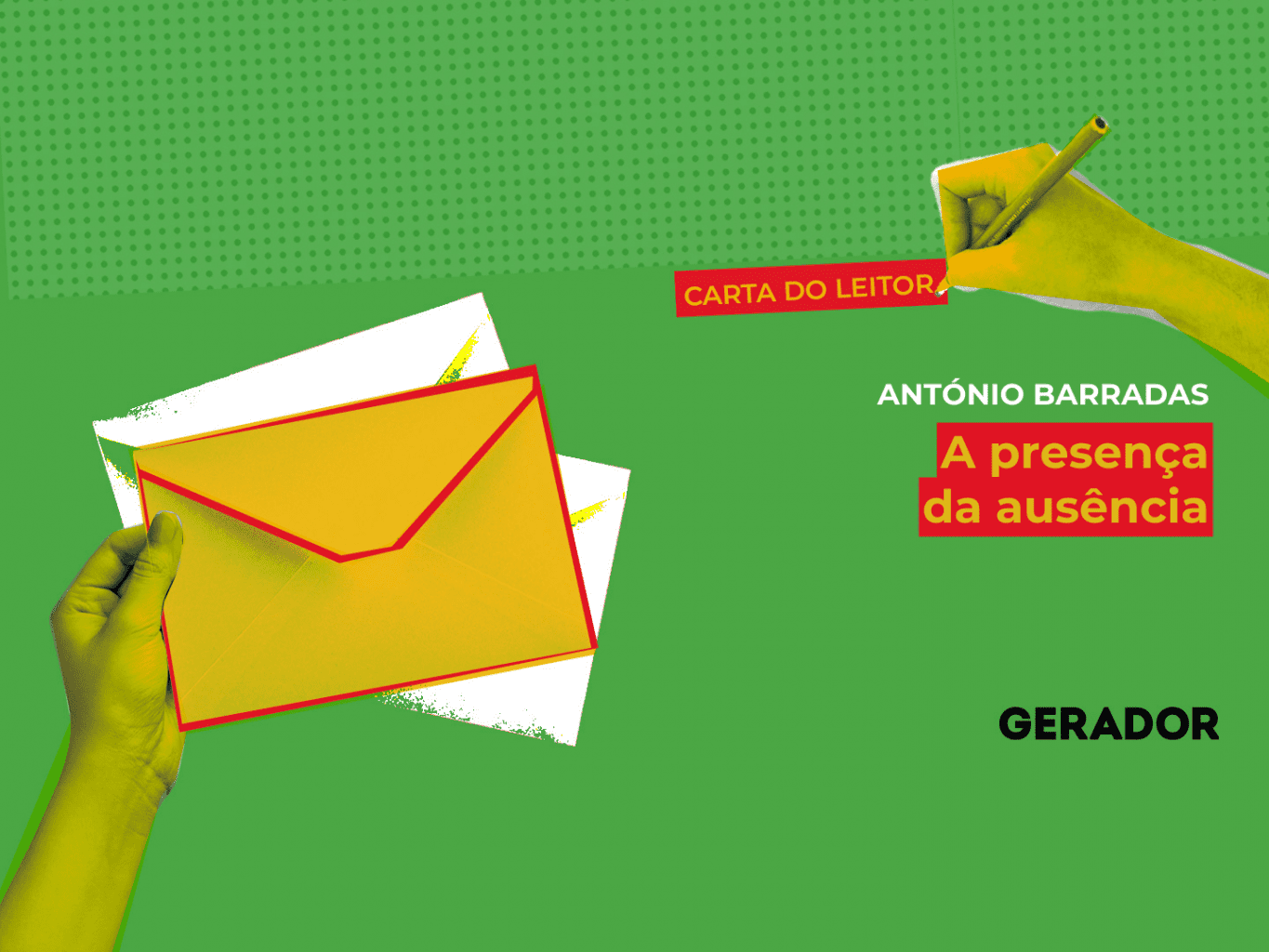
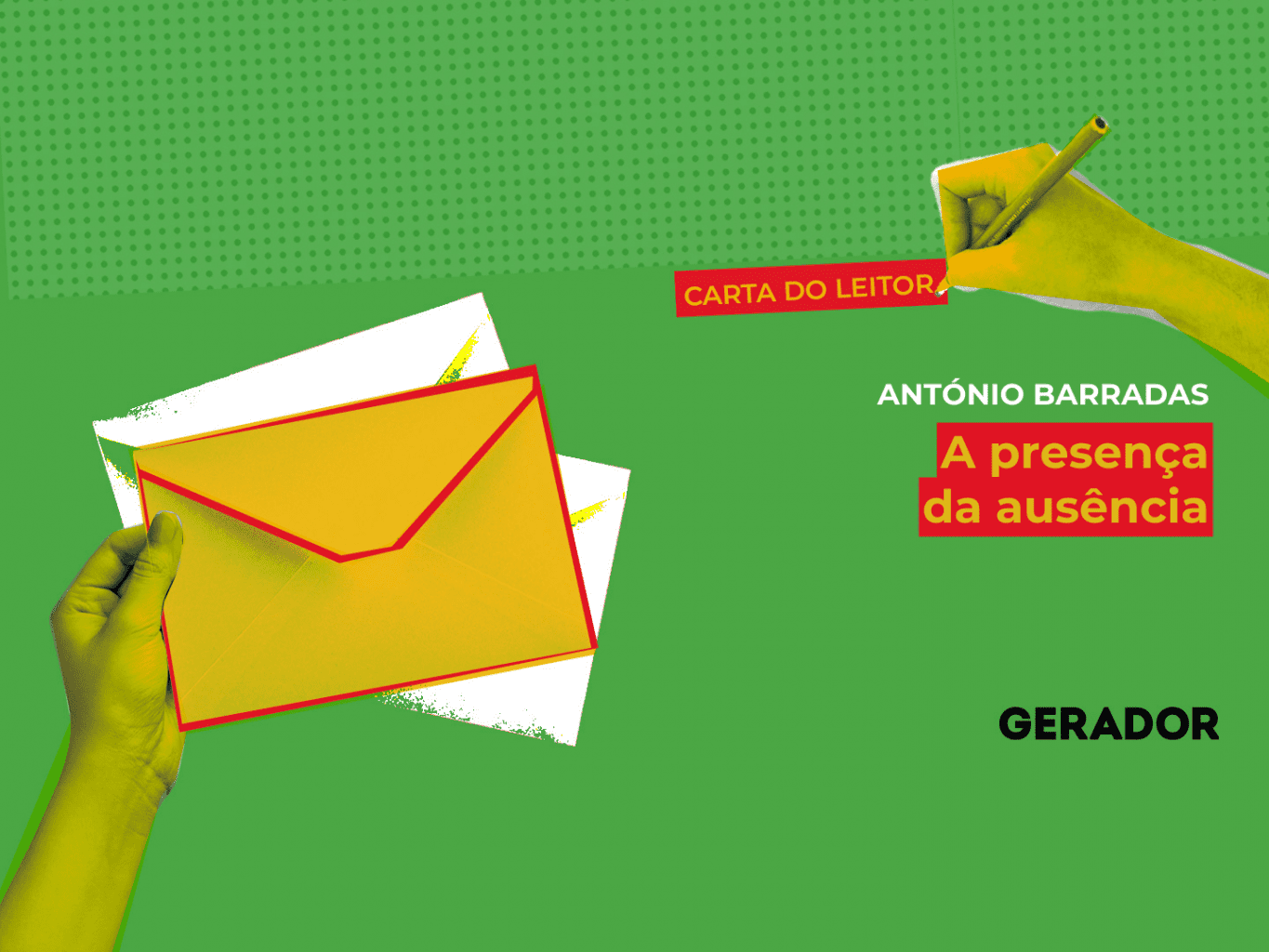
Sempre procurei desvalorizar o facto de não comparecer. Um dia aqui, muitos acolá e tempos inteiros a multiplicarem-se sem dar conta. As alturas em que, despreocupadamente, não comparecia eram sempre contas de multiplicar sem regras matemáticas a atenuá-las. A ausência sempre foi um prato ingerido com o desprezo geral que a segurança de dar, inevitavelmente, as pessoas como garantidas nos permite. Há um falso desprimor em não aparecer. Em quem não aparece, aliás. A ausência vai sendo personificada para nos identificarmos mais com ela. Para atenuarmos os arranhões que aos poucos viram cicatrizes e estas, por sua vez, vão-se tornando marcas cravadas em cada poro para nos (re)lembrar os dias em que falhámos. Ou nos falharam. Ou outra expressão sem o excesso de peso acarretado pelo compromisso.
Vemo-la com uns pés pesados, sabemos que os arrasta a andar enquanto as mãos badalam de um lado para o outro de forma consternada. Quando entra na sala é a rainha da festa. Sem coroa, com mais balões do que línguas da sogra e um fato tão espampanante quanto a sua presença. Ou a falta dela. À medida que a ausência vai aparecendo de soslaio no alpendre do nosso T5 interior, o hábito passa a vestir o monge dos pés à cabeça. Sem o capuz a cobrir a careca descoberta ainda antes de tirar a peruca. Não há cabelo a fazer ‘finca pé’ à ventania que se faz sentir quando está. Foram todos os cabelos. Um por um, a compasso, com o tempo perdido na sua presença. Nos intervalos que a clarividência nos permite, decidimos tentar mascará-la de sorrisos amarelos, para atenuar a falta de palavra às promessas vãs que foram passando, como qualquer quadradinho de chocolate não comido nos calendários de Natal.
O rodar da chave para destrancar a fechadura da casualidade é reconhecido a léguas. Não há cheiro que fique tanto nos vinte e quatro pêlos a espreitarem nariz fora quanto os dela. Há um cumprimento à antiga, com chapéu retirado a compasso, um encolher de ombros e um sorriso de lado a acompanhar a cabeça, fazendo-nos retorquir da mesma forma. “É ela”, sussurramos lentamente para não a deixar entrar ainda mais. Percebemos, aí sim, que quanto mais damos os momentos triviais como desnecessários, mais lentamente os deixamos ir sem ficarmos sequer com um frame interior do que passou.
A ausência deixou de bater à porta assim mal soube que a esperávamos acordados. Na sala. No quarto. No hall, tão impessoal que nem o queremos para conhecido. Nessa altura, que nos parece sempre mais alta do que é na verdade, habituamo-nos. Com todos os sodokus de letras feitos nas sopas de números, só para passar o tempo a olhar pelo cantinho da porta, como quem (des)espera, sabendo não alcançar. O cair dos grãos de areia na ampulheta gasta de saudade, é o sinal maior de que ela vai deambulando por ali com frequência. Aquela de quem nos conhece de cor. Pinta-nos a preto e branco, enquanto imortaliza com sépia as suas reminiscências. Guardamo-las no olhar pesaroso lançado ao relógio de parede - sem ponteiros -, que marca a hora incerta que o forçamos a apontar. Um para um lado, outro para o outro, é sempre tempo de a sentirmos chegar. Não há fuso horário da vida que nos leve a crer no sentido da sua presença.
Na catarse que a faz fixar-se, findam-se as memórias de tempos idos e sobram as migalhas do que nos vai impondo para tentar ludibriar a importância de comparecer. De estar. Seja quando for, dê por onde der, mova o que se mover. Empurre-se o que se tiver de empurrar. Faz falta sermos a montanha a ir até Maomé.
É a presença da ausência que se arrasta e nos leva de arrasto com ela, sem nos deixar ter a destreza de emergirmos dali e voltarmos ao local onde ela sempre tardou e desejámos que não aparecesse.









