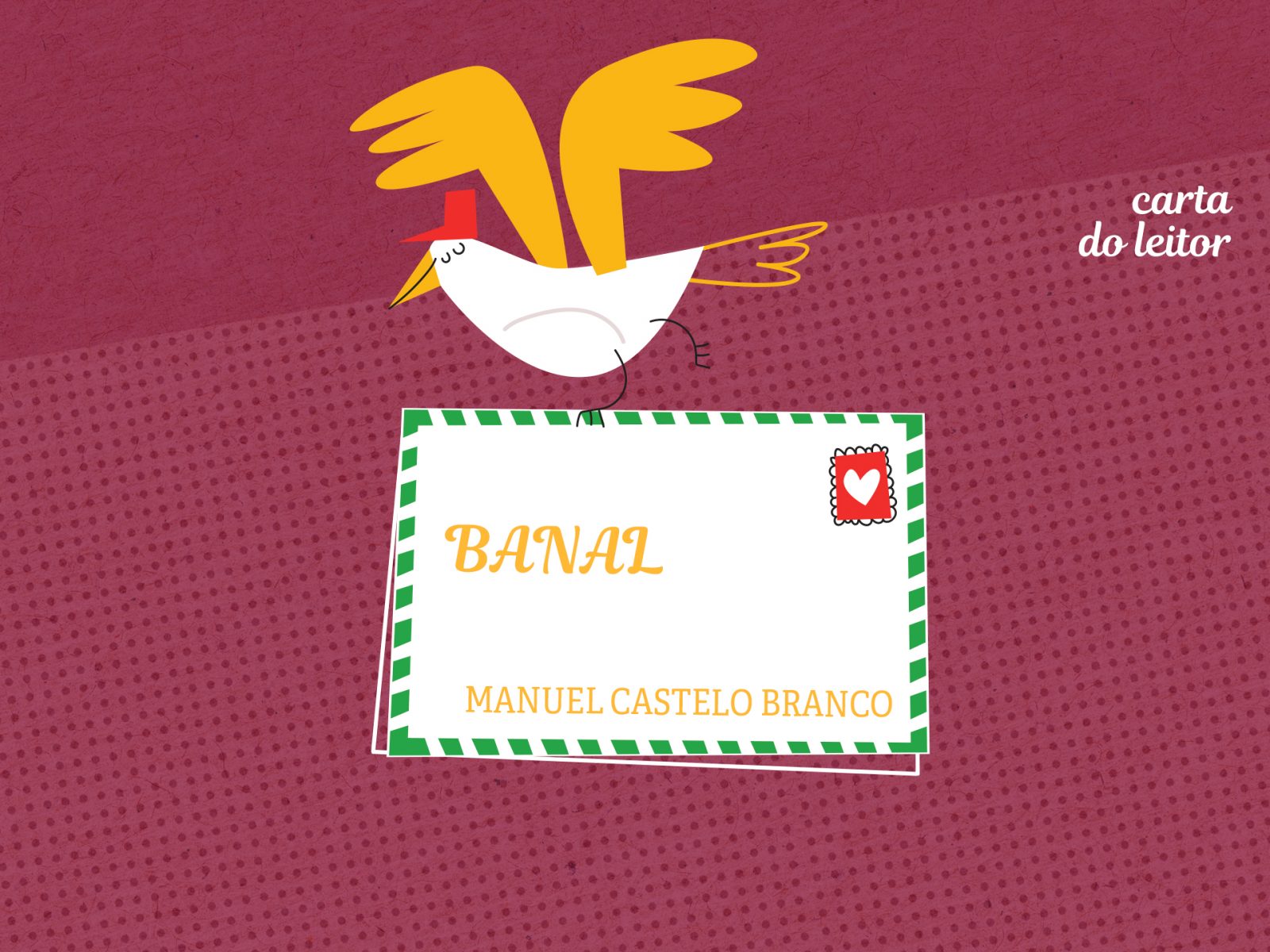Era domingo ou era segunda-feira ou era simplesmente um dia em que chovia e eu estava a ressacar, porque comprara com amigos, no sábado ou no domingo à noite, uma garrafa de brandy com doze anos, que constituía a nossa bússola. Dividíamos os dias em dias em que comprávamos brandy e dias em que não comprávamos mais brandy. Nos dias em que comprávamos brandy, começávamos por fazer ritualmente uma volta de jogging para não engordarmos. Chamávamos corrida ao jogging e víamos que era bom. A volta ritual era sempre a mesma. Levava-nos por desfiladeiros de arranha-céus decadentes, por uma ponte num parque com muitos caminhos que iam todos dar a um talho brasileiro e passavam por muitos restaurantes. Corríamos apenas para não engordar e para descobrir novos talhos brasileiros ou restaurantes que ainda não conhecíamos e aos quais iríamos num tempo depois deste tempo, quando o mundo continuasse a girar após o seu apocalipse. Todos nós gostávamos do parque e detestávamos a corrida, exceto um de nós que gostava de correr e estava sempre equipado com roupa de corrida e levava o telefone no antebraço, que nos ia dizendo, depois de cada quilómetro percorrido, que tínhamos percorrido mais um quilómetro. Falava com uma voz masculina, negra, atlética, traduzida. Apresentava-se como Mike, o treinador de fitness, de Seattle e imaginávamo-la como se imagina uma receita de cozinha espanhola que é lida em voz alta e insegura. Quem fala é o treinador de fitness Mike de Seattle e nós respondíamos: ‘Cala a boca, Mike!’ Não gostávamos do Mike porque ele parecia ser alguém que gosta de ouvir Marvin Gaye enquanto fode e diz ‘Yeah baby’, que vive permanentemente num perpétuo 59.º segundo que celebra e treina de maneira a tirá-lo sempre um tudo-nada antes, à semelhança do que acontece quando se inverte a trajetória de um avião que ameaça despenhar-se sobre uma escola de periferia e se consegue, mesmo à justa, elevar acima do pátio da escola e do telhado do ginásio. Parabéns, feito. Mike era de opinião que tínhamos corrido cinco vírgula três quilómetros a uma velocidade média de dez quilómetros por hora. Congratulou-nos e disse que o que hoje dói amanhã faz-nos fortes. A seguir, um de nós entrava no talho brasileiro e os demais ficavam cá fora, à espera. O brasileiro tinha posto à porta da loja – só para nós – um banco de jardim branco, para que pudéssemos recuperar fôlego. Nos dias da epidemia, os minutos em que aguardávamos no banco de jardim, no cruzamento à porta do talho, ao sol, eram os únicos minutos belos que passávamos juntos ao ar livre, fora e não dentro, sem estar a correr ou às compras. Atravessados apenas pelo sol da tarde e pelos golpes com que no talho se preparava o nosso entrecosto. O som de costelas partidas escapava-se da loja e atravessava o cruzamento. Eram gritos tranquilizadores de ossos partidos que, mais tarde, poríamos no forno, temperados com sal grosso e azeite prensado a frio. Desconhecíamos por que fazia o açougueiro isto, mas talvez desse um golpe nas costelas inferiores para que depois fosse mais fácil chegarmos à carne. Comíamos entrecosto e bebíamos brandy em igual medida e íamos correr e jogávamos cartas e, enquanto fazíamos tudo isto juntos, não tínhamos medo. Para comer, comprávamos frascos de azeitonas pretas e queijo curado italiano, vinho tinto do vale do Douro, às vezes também do Alentejo, pão branco do dia e uma saca de batatas, que cortávamos em rodelas finas e dispúnhamos, alinhadas de forma cuidadosa e bela, junto ao entrecosto como se as quiséssemos fotografar mais tarde. Púnhamo-nos todos nesta tarefa porque não havia mais nada que pudéssemos fazer e sentíamo-nos como um grupo de italianos gordos e influentes, que tivessem sido encarcerados juntos num filme de prisão. Comer sempre fora, para nós, um acontecimento, mas, por estes dias, era o nosso único acontecimento. E o vinho – que seria de nós, nestes dias em que comprávamos brandy, sem o vinho. O melhor no Sul é que o vinho não é aqui nada de extraordinário, de decadente, nem sequer nada caro, é antes algo completamente normal, essencialmente alcoólico, algo que, no Sul, se tem de ter um bocadinho no sangue para remediar todos os males, males que acometem todos. O vinho gerava bem-estar e alegria e desencadeava em nós o prazer de conversar, apesar de não termos já há semanas nada que dizer. Tínhamos coberto tudo. A alegoria da caverna de Platão, o entendimento de Deus de Émile Littré, o existencialismo de Sartre e os problemas matrimoniais de Norton. Norton era um britânico nervoso, de lábios grossos. Tinha os lábios de uma mulher madura, que ninguém colhera, mas que deveria ter sido muito bonita, em nova. De início, os lábios dele confundiam-me muito e dei comigo a pensar se sentiria algo mais por Norton, porque lhe achava os lábios tão belos, e, quando comecei a conhecê-lo melhor, isso ainda me confundiu mais. Certa noite contou-nos como tinha conhecido a mulher e como a tinha conquistado e perdido e reconquistado e casado com ela e o que se tinha passado há um ano em Le Mont-Saint-Michel. O que se passara em Le Mont-Saint-Michel contou-nos Norton noutras noites em que tínhamos comprado brandy, e o brandy estimulava a conversa. Contava e recontava, vezes sem conta. Nunca contava o sucedido as vezes suficientes, e a história era sempre triste, mas nunca tão triste como da primeira vez em que a contara. Para o fim, contava-a cada vez melhor, mas já não como tinha sido, antes como esperava que tivesse sido e como gostaria de se lembrar dela. Sabia-se lá agora o que era verdade, mas brindávamos, todas as vezes, ao amor, e jamais nos teria ocorrido passar um jantar sem vinho com o qual pudéssemos brindar ao amor. Aparecíamos sempre com novos estudos e citações sobre o efeito benéfico do vinho para a saúde. A citação que preferíamos era a de Augustus Aurelianus, um doutor da Igreja, que bebera vinho em Tagaste, Cartago, Roma e Milão. Ele dizia muitas coisas belas acerca do vinho, que refrescaria a languidez, curaria as feridas, espantaria a inquietação e enxotaria o cansaço da alma e traria alegria. Sem tudo isso, pensávamos naqueles dias, a vida seria decerto muito malsã e ainda hoje pensamos o mesmo. Augustus falava também do trabalho e variado tempo meteorológico, da terra, do sol e do ar que estão contidos numa garrafa de vinho, e eu recordava-me do tempo em que trabalhava, ou tinha de trabalhar, num vinhedo, porque não havia outro trabalho, e de como íamos de vinhedo em vinhedo e só tínhamos gasolina suficiente para ir de um vinhedo até outro, que tinha de nos dar trabalho porque não tínhamos gasolina para sair do seu terreiro. Dormíamos num carro e morávamos num parque de estacionamento gélido, erigido junto a um lago. Todas as manhãs fazíamos café, ponderávamos enforcar-nos numa oliveira e íamos para o trabalho. Este começava muito cedo e era muito duro e muito monótono. Cortávamos cachos de uvas e atirávamo-los para um balde. No final do primeiro dia, sentámo-nos no para-choques do nosso carro e debulhámo-nos em lágrimas. No segundo dia, foram mais as uvas que comemos do que as que atirámos para o balde e, sentando-nos na sanita, debulhámo-nos em lágrimas. Ao terceiro dia descobriram que tínhamos um ar muito forte e alemão e promoveram-nos para um trabalho ainda mais merdoso – agora esperavam que recolhêssemos os baldes dos outros e os levássemos para o trator que nos seguia como um negreiro. Na noite do terceiro dia, estávamos tão exaustos que só conseguíamos chorar deitados. E quando, no quarto dia, chegou uma horda de imigrantes negros, todos com o aspeto que imaginávamos ser o de Mike, o treinador de fitness de Seattle, mal pagos e armados com as suas tesouras e luvas, e eles começaram a abrir a toda a brida, numa velocidade mecânica, que levava tudo à frente, e quando o fio dos meus auscultadores, enquanto Pavarotti berrava uma ária de Caruso, foi cortado em dois na pressa, peguei no meu balde e nas luvas e atirei com tudo e fui-me, ciao, para nunca mais voltar. Levei as minhas coisas para a lavandaria e, de cuecas, fiquei à espera porque estas coisas eram tudo o que tinha, e decidi ali mesmo, enquanto esperava, nunca mais trabalhar numa vinha e tornar-me escritor. Naquele tempo pensava que só podíamos escrever se estivéssemos completamente despedaçados e em carne viva e, como queria escrever uma história de amor, sentei-me numa loja de kebabs da aldeia, que tinha internet, e li todas as mensagens tristes que uma mulher me escrevera, espicacei-me, desfiz-me completamente, fiquei prostrado para ali, na loja de kebabs, já nem teria conseguido enforcar-me numa oliveira. Já naquela altura recebia muitas mensagens tristes de mulheres, mas ainda não sabia que, para escrever, são precisos distanciamento e descontração temporal, uma espécie de distância irónica perante mensagens tristes, de modo a conseguirmos escrever, e que, com algum trabalho e os apontamentos certos, se podem mais tarde produzir impressões dentro de nós. Só após um tempo de clarificação, em que observamos o mundo com exatidão e paciência e seguimos as pistas à nossa volta, é que conseguimos escrever aquilo que descobrimos. Porém, estes eram tempos muito diferentes num outro hemisfério, de que Augustus Aurelius me lembrou, muito antes de eu saber alguma coisa sobre o amor e, enquanto os outros jogavam as cartas deles, pensei como naquele tempo isso era tudo para mim, mas só agora conseguia escrever acerca desse tempo e do que significava o vinho para mim, naquele tempo e hoje.
Perdia frequentemente às cartas, mas as noites que passávamos juntos eram belíssimas, momentos portugueses, para os quais nos vestíamos a rigor e passávamos a noite a cantar ou a jogar às cartas ou a fazer as duas coisas. O melhor de jogar às cartas era que se podia fazer tudo ao mesmo tempo. Só não se podia ficar nervoso e nunca ficávamos nervosos quando o vinho acabava, porque, depois do vinho, ainda tínhamos o brandy que nos ajudava a distinguir os dias uns dos outros. Certa vez apareceu-nos a polícia. Alguém tinha dito à polícia que estávamos constantemente a beber brandy de doze anos e jogávamos cartas até noite dentro e antes comíamos entrecosto, ouvíamos Pavarotti ou Bach, dependendo da hora, mas isso não era verdade porque éramos capazes de ouvir Bach ao mesmo tempo que Pavarotti. A hora não importava, além de que só bebíamos brandy de doze anos de dois em dois dias e era então que jogávamos cartas e que antes comíamos entrecosto. Nos dias em que não comprávamos brandy, não fazíamos nada. Não nos sentávamos à porta do talho, não ouvíamos música nem pio do Mike, o nosso treinador de fitness de Seattle, voltávamos a engordar. Apesar disso, éramos para os polícias os quatro da vida airada. Daí que um dia haveria de ser o dia da nossa reconciliação. Excelentes propósitos, mas não me apetece voltar a escrever sobre a zanga, prefiro escrever sobre como nos livrámos dela. Quem quiser que leia Levante, é uma outra história que nada tem que ver com esta história, mas que tudo clarifica, do mesmo modo que na vida tudo se esclarece, após muito tempo sem fazer sentido e, mais tarde, tudo se clarifica em forma de romance.
Na manhã após a noite em que a polícia apareceu, era domingo ou segunda, no dia em que não comprámos brandy e queríamos reconciliar-nos, eu devia estar muito enervado porque acordei pelas cinco ou seis horas, sei lá, era da diferença horária, lavei-me com sal do mar, penteei-me para trás, vesti-me a preceito, embora não fosse dia de ir comprar brandy, e dei comigo de pé no meu quarto às sete ou oito horas, como diante de um túmulo. Tinha o crânio a latejar. Tinha arrancado do crânio até os pêlos entre as sobrancelhas. Sentia a solidão letal do fim de um dia desperdiçado desde o início e esperava que ela não demorasse a vir libertar-me. Porém, neste domingo ou segunda, neste maldito dia de merda, ela levaria até à noite para chegar. Um tempo estranho passou por mim. Em geral, acordava energizado, sem pingo de autocomplacência e cheio de esperança e entusiasmo no dia, mas desde que tinha sido contagiado ou outros tinham sido contagiados, despertávamos lentamente de um sonho mau em que só nos restava este momento, em que acordávamos mas ainda não estávamos tão acordados que percebêssemos onde estávamos, quem éramos, o que acontecia.
Sem a sua bica, a cidade não é reconhecível, ao sol, na rua. A princípio não a reconheci e, quando a reconheci, quando a vi realmente, tinha um ar que nunca lhe tinha visto antes. Perdemo-nos nas ruas porque não há pessoas pelas quais nos possamos orientar. É o reverso de uma fobia social, que nos ataca, como qualquer coisa de fantasmagórico, de abandonado. Fontes que rumorejam para ninguém, candeeiros que não iluminam ninguém, escadarias que vivalma usa. Ervas irrompem do pavimento e cigarros desaparecem para sempre no meio das ervas, gaivotas grasnam pela noite fora. Para além disto, apenas os ruídos dos sacos de plástico, que se levam na mão para que se possa sair, e a respiração amedrontada das pessoas ao passar, com os sacos de plástico, nos quais carregam razões para sair de casa. Tocam sinos. Podemos ver a cidade das colinas, mas a cidade não se vê. Os bairros tornam-se aldeias na cidade, aldeias que, noutros tempos, seriam apenas praças pequenas e a saudade de Lisboa alarga-se a Lisboa e agarra-nos. Certa noite dei, por acaso, com um músico de rua, que não tocava para ninguém, só para mim. Fiquei ali parado, diante dele, e ele perguntou o que queria eu ouvir, ao que respondi, ‘Qualquer coisa portuguesa’. Ele começou a tocar os primeiros acordes de ‘Esse Olhar que Era Só Teu’ e os meus joelhos cederam, procura a canção no google e verás. O som da guitarra despedaçou-me e a canção esguichou de mim, qual embalagem de mozarela rota, que, quando pressionada, escorre sobre o lava-louça. A canção significava mais para mim do que quereria, ou saberia, dizer fosse a quem fosse. Só o fado sabia dizê-lo e não há quem compreenda esta cidade se não compreender o fado e se entregar aos acasos dela. Esta cidade pariu-me de novo e nesta cidade quero morrer, indiferente diante desta beleza absoluta. Ele continuou a tocar para mim durante muito, muito tempo, depois de eu lhe ter atirado 50 cêntimos para a bolsa e, ao descer a rua, só o ouvi suspirar, por serem 50 cêntimos, nessa altura dei por mim a pensar noutras noites de outros tempos e em todas as ruas que eu nesses outros tempos tinha percorrido. Dia após dia, centenas, milhares delas. Sabia tudo sobre estas ruas que me diziam tudo acerca desta cidade, que agora ali estava, inerte e morta, toda só para mim e que, contudo, nada era, sem as suas pessoas, só inerte, só morta. Pensava em noites de verão no parque e como sabíamos ler a hora na cor do rio e como as horas e os dias não nos interessavam e o cabelo dela à luz e ao vento que percorria a luz era obsceno. Depois de uma estada aqui, abre-se-nos a possibilidade de estar aqui. Nas ruas e travessas, nas praças e nas escadinhas, no parque e à beira-rio. Nas tascas. Há semanas que não comíamos numa tasca e a perspetiva de estarmos sentados numa tasca a beber um cálice de Porto e a ler os vespertinos e ver pessoas a fazer o mesmo e a pensar que andava por ali tanta gente aparecia-me como uma visão muito mais bela do que alguma vez fora. Que belo era estar sentado com amigos numa tasca ou conhecer pessoas e, durante uma noite inteira, falar sobre arte e comida, mas nada seria jamais tão belo como quando as imaginamos em plena epidemia. Imaginar as recordações jamais é tão bom como as realidades que lhe estão subjacentes, excetuando as realidades que são muito melhores do que a imaginação. Dançar com a minha portuguesa num bar clandestino lisboeta é uma dessas imaginações que nos alimentam até esta merda passar, porque não conseguimos imaginá-las como foram, ou como seriam, e porque foram sempre diferentes e sempre boas. Havia tão poucas e as que tínhamos doíam, mas criámo-las tantas vezes e tínhamos a nossa memória delas, de modo que ainda nos safaríamos durante um tempo com as nossas recordações até termos de voltar a criá-las. Que bom era atravessar uma praça a correr e termo-nos um ao outro e ir a uma tasca e pedir uma bebida em redor da qual pudéssemos conversar e o empregado vir e perguntar se quereríamos mais alguma coisa, mas o que queríamos não podíamos saber e ninguém no-lo poderia dar, mas nesse tempo não sabíamos nada disso e éramos felizes e deixávamo-nos iluminar pelo brandy ou pagávamos e apanhávamos o elétrico ou passeávamos num parque ou num cemitério. Na Tapada das Necessidades ou num Jardim Botânico quando tínhamos dinheiro para pagar a entrada ou no Cemitério do Alto de São João quando os jacarandás começavam a florir, e a morte brilhava branca e a vida, violeta. Ao Jardim Afonso de Albuquerque não costumávamos ir, apesar de o elétrico ir até lá e ser um jardim muito bonito para, durante algumas horas, lermos o mesmo livro e, mais tarde, no elétrico verificarmos se tínhamos sublinhado os mesmos passos. Quando não discutíamos na tasca ou a caminho de um parque, ela era a minha melhor amiga e uma mulher ainda melhor. Mal discutíamos, tornava-se um inimigo empedernido e eu só desejava que ela não fosse mulher mas um general que eu pudesse defrontar no campo de batalha. Por toda a parte tínhamos inscrito traços, em nós, à nossa volta, pequenos monumentos que existiam, quais iniciais em árvores nas praças, e só podiam ser vistos por nós, traços que nos recordavam de outros tempos. Eram lugares, que podiam ser em qualquer lado, totalmente libertos do lugar e por isso, para nós, representavam melhor esses lugares. E bastava ouvirmos a história destes lugares ou passarmos por um deles de elétrico e logo olhávamos um para o outro e entendíamo-nos sem dizer palavra e sem perguntar como ou porquê.
No dia da reconciliação, em que não comprámos brandy de doze anos, não seríamos capazes de ir a nenhum destes lugares, nem sequer aos bancos entre as escadas. Não podíamos ir para casa dela e na minha tínhamos brigado. Pouco neutra. Argumentativa, a fechadura partida da porta imiscuía-se demasiado nas cartas. O verniz que se soltara como uma dentadura da madeira tinha um aspeto medonho. Não era que eu tivesse querido isto, mas o vento fizera a sua parte, e eu, verdade seja dita, quisera. Atirar com uma porta é um magnífico meio de expressão, com muitas possibilidades interpretativas, mas não é um bom argumento se deixa danos permanentes que se imiscuem no jogo de cartas do outro e não há nenhum lugar aonde se possa alternativamente ir. Acresce que, em minha casa, podíamos gritar tão alto quanto quiséssemos porque os vizinhos eram todos simpáticos ou defuntos ou velhos. Reféns do ilimitado. Éramos jovens e apaixonados e tínhamos móveis à nossa disposição. E, no entanto, os limites podem ser uma coisa boa, por exemplo quando se é pequeno e, na piscina, se quer mergulhar até ao fundo com os amigos ou quando se está na cama com a namorada e não se pode fazer barulho porque, na divisão ao lado, os pais também não podem fazer barulho. Eu não lidava bem com expectativas. Tinha as minhas expectativas e depois ainda as expectativas do outro em relação a mim e eu precisava de me afirmar a mim próprio e de me afirmar diante do outro, de modo a me ter afirmado como deve ser. Em grupo, era talvez insuportavelmente impossível de aturar, tal como podia sê-lo na solidão, embora fosse capaz de me portar bem quando estava a sós com ela. Exercitava com frequência e às vezes conseguia até ler algumas páginas de um livro com ela presente. Porém, para poder ver documentários sobre os egípcios ou azeite ou sobre como cozinhar massa ou mozarela de búfalo ou vinho ou como celebram os italianos as festas populares na Ligúria e que pão comem nessa ocasião, para isso tinha de estar sozinho. O que acontecia era que gostava mais das pessoas quando não estava com elas. Mas dela conseguia sempre gostar um certo tempo, sem estar com ela. Depois tinha de estar com ela e, quando estávamos juntos, éramos invulneráveis e alegres ou tristes. A alegria ou a tristeza atraía muitas pessoas que queriam aproveitar-se do que podia o nosso amor, mas nós éramos suficientemente experientes, e o único perigo era ser-se inexperiente e ainda não saber que por trás do belo e do brilhante nada mais há do que a morte. Se estás sozinho, é a solidão, se tens um par, são as expectativas, mas, se estás com mais de duas pessoas, é a merda que mais do que duas pessoas produzem entre si. Inveja, discórdia e medo, ressentimento, ciúme, insegurança e uma divisão desigual dos órgãos sexuais, inimaginável o que poderia aqui ser divisível por três, mal-entendidos, becos-sem-saída em que nos metemos até que lançamos fogo sobre a serradura do convívio. Nós, porém, nunca sucumbíamos à superficialidade que nos cerceava ou à maldade que nos rodeava. Ela era orgulhosa e bonita e tímida. Em criança, não dissera uma palavra até aprender a falar. Não por desconhecimento, nem por desconforto, nem sequer porque tivesse qualquer espécie de defeito. Não queria era dizer nada antes de saber falar esplendorosamente. Qual selvagem, de quem nada sabemos, a não ser que é pura, como a Pocahontas, morena e imaculada, porque a espiámos secretamente a tomar banho, através de um telescópio que não a consegue capturar. O instrumento nunca produz uma imagem completa do corpo dela, só partes que depois temos de juntar na fantasia, enquanto ela move os lábios longínquos, canta uma canção tranquila e penteia-se ao espelho da superfície da água. Não sabemos o nome dela, mas sabemos que é um nome bonito, que termina em A e tem origem numa remota colónia ou é o nome de uma formosa santa. Esta perfeição tão essencialmente honesta é o que a torna tímida e bela, porque ela não se vê a si própria para lá dos próprios olhos e, quando vê, fá-lo a partir de uma impressão que é verdadeira ou presente. Mesmo quando, às vezes, há algo de infame no seu olhar, uma princesa persa pela qual se fazem guerras, não faz uso disso. Todas as portuguesas, com boas figuras paternas, fazem qualquer coisa com os olhos, uma piscadela quase imperceptível e marota, um relampejo bem comportado de arrojo, que a boa educação não conseguiu refrear nem a perversão ameaçadora das religiões mundiais, graças a Deus. Não é, porém, vaidade nem coqueteria que habita este olhar franco, é apenas muito instante que parece simplesmente trespassar de luz a pálpebra escura e as longas sobrancelhas. Com estes olhos, podia perscrutar-me até ao mais fundo dos meus tomates, e as outras mulheres não conseguiam, sob este olhar, prosseguir com as suas mentiras ou com o hábito das suas poses. Claro que isto desagradava aos homens e às mulheres que escondiam o seu medo e ressentimento atrás de mentiras e alegrias falsas. Em regra, este grupo era composto por homens que gostam de ver televisão e fazem uso de torradeiras e mulheres que devoram queijo fresco, acompanhado de rabanetes, agrião e alho francês. Nada contra, eu próprio tenho algumas destas coisas no frigorífico, são restos, que me intimidam independentemente do bem que me souberam. Mal abro o frigorífico e me deparo com restos, que pretendem ser ingeridos ou se estragam, perco o apetite. Daí que tenha saído na manhã do dia da reconciliação, dia em que não comprámos brandy de doze anos, e adquirido coisas frescas e ovos, alguma coisa tinha de comprar. Comprei os ovos e as coisas frescas e sentei-me no alto de uma colina e fiquei a olhar demoradamente para a minha casa, ao longe. Em casa, fiz uma sopa reconciliatória de abóbora e olhei demoradamente para a colina. Gastei o tempo. Esperei e esperei. Fumei. Senti fome. Comi os restos. O coração acelerava-se-me e podia ouvi-lo dizer: ‘podes parar de fumar, por favor.’ Aspirei o pó, de modo que ela pudesse esvoaçar por todo o apartamento limpo e coloquei a cómoda na posição em que a queria. Com uma manta por baixo, para que não magoasse tanto ou só magoasse onde deveria magoar e não distraísse da bendita dor para que fomos criados. Depois olhei para o relógio da população mundial e sucumbi às fantasias de morte em massa, éramos demasiados. Nascimento e morte enfrentavam-se numa batalha sem tréguas pelos dois últimos lugares, mas os nascimentos ganhavam sempre, eram mais do que o dobro. A bendita dor prostra-nos, pensei. Li o melhor livro mau que tinha em casa e observei as nuvens a passar, grandes e gordas, mas sem ameaçarem. É importante haver livros maus, tanto para o autor que os escreveu como para o autor que os lê. Para o autor que os escreveu, foram importantes para que ponderasse acerca do seu talento e matasse o tempo até voltar a conseguir escrever um livro bom. Não obstante, é para um autor indiferente se o livro é bom ou mau. É um livro e tinha de ser, não havia volta a dar. Utilizo a expressão ‘não obstante’ e creio que, até este momento, nunca a tinha usado, mas uso-a agora, não obstante. Não importa a mais ninguém, senão a mim, avancemos. Para um autor que lê o livro mau, este é importante porque a um autor, depois do trabalho feito, não apetece um livro bom, que o obrigue a voltar à secretária para o melhorar. Depois de o livro mau me ter obrigado a voltar à secretária, pus-me a ver fotografias minhas e perguntei-me se aquele era o rapaz que se faz todas estas perguntas, que tem sempre razão, e que se serve dos erros dos outros para justificar os seus? Que tem pensamentos que logo esquece. Que sabe sempre exatamente aquilo de que não se consegue lembrar. Porque nos sentimos responsáveis por dar resposta contínua às grandes perguntas de um pequeno universo vivencial e, nesta altura, desperdiçamos muito tempo com as limpezas da casa porque quem nos ajuda a limpar – ou seja lá como for que podemos chamar-lhe sem parecermos filhos da mãe –, a pessoa, que em geral nos limpa a casa, não vem limpar durante a epidemia. Pensamentos confusos e violências selvagens não pareciam fazer parte do meu ser. Apesar disso, em algumas fotografias eu parecia o jovem de 29 anos mais velho que alguma vez vira porque exibia um sorriso velho e gasto que vinha de algures dentro de mim e que herdara não sei de onde e que percorrera um longo caminho e ainda funcionava. Ponderei escrever-lhe uma carta, mas pensei que em cartas só se escreve aquilo que não se consegue dizer de outro modo e nós já tínhamos dito um ao outro essas coisas que não se conseguem dizer de outro modo. Falávamos um com o outro como duas cartas que se escrevem uma vez por ano, e o resto dizia-lhe eu com os meus textos. Por isso, a carta ficava sem nada para dizer e, lá fora, as árvores tornavam-se verdes ou eu reparava que se tinham tornado verdes. Tão demorado foi o dia.
Foi então que a demora do dia foi interrompida por um toque de campainha. Ouvi-a chegar, sentia o meu coração a bater, tal como se sentem coisas antes de as compreendermos, ouvi-a subir as escadas, degrau a degrau, cinco andares. E depois ali estava ela, à porta, como uma obra de arte a respirar fundo, que entra pela porta e se deixa observar no rio que é o seu movimento, no antes e depois, no agora. Apresentava-se tão inimaginável como eu jamais a pudera imaginar, ou estilizar, ou idealizar, nem mais nem menos, infotografável como os lugares que não se deixam fotografar porque estão metade em nós. É preciso vê-los repetidamente para os compreendermos na sua completude, ao mesmo tempo que, baixinho, lhes pronunciamos o nome. Vezes sem conta. Um nome que se torna cada vez mais belo por causa da mulher que lhe dá corpo ou das mulheres que conhecemos e lhe davam corpo. Ela tinha exatamente o mesmo ar que quando eu a conheci e ainda nada percebia e só sentia que ela era bonita. Tinha ombros altos que se inclinavam para a frente e se faziam pequenos, exatamente como os seios. Tudo era maravilhoso e tudo me comovia exatamente como num primeiro ou num último dia. Se fosse por mim, tinha-lhe atirado imediatamente os ombros altos e os seios para cima da cómoda, mas, primeiro, tinha de beber a coragem para o fazer. Esclarecer as coisas. Clarificar as coisas. Dizer e querer dizer o que se diz. No início é muito difícil atirarmo-nos diretamente para cima da cómoda, porque não há o que nos ligue ou não se partilha nada, exceto o que queremos partilhar e, quando passamos a partilhar mais, é muito difícil porque ela sabe exatamente onde pendurar o casaco e não está dependente de ordens e instruções. Mulheres de homens conhecem os seus homens melhor do que outros homens e outras mulheres. É bonito e enerva. O outro muda o lugar ao que partilhamos e ao que sabemos e há que o reconquistar, reocupar, tornar livre e baldio. Procurar a ilha do tesouro no grande rio que corre entre encostas altas e escarpadas, por baixo dos terrenos altaneiros. Arrancarem-se coisas do corpo, domar os medos, ter segredos e confiar-se, e ao medo e aos segredos. Confiar é esplendoroso até se tornar hábito, então é ainda mais esplendoroso. É a combinação fabulosa da paixão ardente, de juntos irmos comprar brandy, jogarmos às cartas e corrermos. Desejar o que temos.
Qual era então o problema no meio de toda a magnífica tagarelice? Hmm, que ela era muito boa e muito orgulhosa e muito tímida e tivesse de fazer tudo bem e começado a dizer-me o que eu tinha de fazer ou o que eu tinha de deixar de fazer, ou que eu pensei que ela iria fazer. Sempre que pensava alguma coisa, eu sentia muito fortemente o que pensava. Escrevia depois o que sentia e o que escrevera criava, ou alterava, toda uma realidade. Era uma realidade inventada, que era verdade, talvez mais verdadeira que todo o real que lhe estava subjacente. Só nesta realidade é que eu conseguia existir inteiro, e quando este todo que eu sentia e escrevia e criava a partir do real fosse publicado e vendido tornar-se-ia até arte e só na arte é que uma pessoa é uma pessoa inteira. Aprendi isto com ela ou ela aceitou-o depois em mim. Esforçávamo-nos por concordar numa realidade. No real, o significado que atribuímos à nossa realidade pode levar ao erro, e desejarmos estar a três ou a prova em vídeo levar a joguinhos na relação, de modo a não nos enlouquecermos reciprocamente porque já ninguém sabe que realidade tem razão ou se alguma realidade no mundo tem razão e há sempre o perigo de não reconhecermos que nos enganámos no raciocínio, embora o resultado esteja correto, porque não acreditamos no que estamos a dizer. É como ordenhar ratos, que expressão mais merdosa. Vem de um passado em que as pessoas passavam os dias com ratos e ordenhas, ou com cães que caíam para frigideiras ou a comer salsichas ofendidas.1 Apesar da resolução de não chorar, ela tinha os olhos húmidos. Doía-me como um sentimento que eu não tinha. E eu tinha de ali estar quando ela quebrasse, embora eu próprio estivesse despedaçado. Desempacotámos o quadro branco. Tomámos notas. Utilizámos cores diferentes. Eu era vermelho. Perseguimos a trajetória das nossas emoções até à origem, até à relva e ao entrecosto, com os quais tudo começara. Relatório de uma zanga. E por que não. Se se fazem apontamentos para professores de gestão ou construtores de máquinas ou filhos da mãe que nos dão classificações ou dinheiro, por que não fazê-lo para pessoas que querem fazer as pazes? O medo dela era o de se tornar uma dessas mulheres e o meu medo era o de me tornar um desses homens, e juntos nunca iríamos tornar-nos um desses casais. Por termos medo, comíamos pistácios e não conseguíamos comer tantos pistácios quanto tínhamos medo, mas o que tínhamos verificado ao longo dos tempos era que comer pistácios era melhor do que fumar por medo. Eram salgados e muitos e tinham de ser descascados e criavam dependência. Isso acalmava. E aquele que tinha de escutar o outro tirava uma mão-cheia de pistácios e escutava o outro, sem o interromper, sem o atacar ou chamar nomes, que era o que mais gostávamos de fazer. Teríamos sido capazes de nos entreter assim durante anos e às vezes fazíamo-lo mesmo. Os nossos corações desempederniam-se e enchíamo-los dos bons tempos, de álcool e nicotina. O amor é uma papoila que se apanha numa estrada nacional, em que homens de grandes barrigas conduzem camiões longos, que nos derrubam. Caso sobrevivamos aos camiões e apanhemos uma pequena flor e a coloquemos lá em casa numa jarra, ela perderá as pétalas, que fazem dela uma flor, porque só pode subsistir lá onde está e onde manda polir as flores na rajada que os camiões produzem ou no vento de trovoada que sopra sobre a planície silvestre. Depois de termos esclarecido o que havia para esclarecer e o que não havia para esclarecer, pusemo-nos a ver fotografias, para nos recordarmos de outros tempos, íamos pondo legendas nas fotos como ‘Praça debaixo de árvores, Avinhão 2018’ ou ‘Cave sem paredes, Lisboa 2019’ ou ‘Pára com isso! Praga’ ou ‘Não podes andar sempre com a mesma camisa’, ‘Chateado a caminho dos Uffizi, Setembro 2018’ ou ‘Camshot cultural na Riviera francesa’ ou ainda uma outra ‘Get in, sem lugar 2017’, esta poderia ser colocada em qualquer lado, num tapete à porta da receção do inferno ou nos olhos de uma mulher bonita com rosto de menina e cabelo pelos ombros. Contei-lhe do Norton e o que ele me contara e como naquela noite quisera que eu percebesse e apreciasse e soubesse exatamente o que se passara fazia um ano em Le Mont-Saint-Michel. Expliquei-lhe de forma tão demorada e tão exata quanto consegui. De modo que ela pudesse ver a maré na Normandia a vazar e a abadia a desaparecer no crepúsculo e a mulher do Norton a dirigir-se àquele francês, de consciência pesada e a resolução de agora ir com ele. Ela conseguia visualizar a pele estival dela e a dele e a pele escura do francês que fodeu em cima da mesa de jantar na sua casa de campo, porque a mulher tinha pele morena e cabelo louro escuro e um rosto antigo e o Norton não sabia o que havia de fazer consigo próprio e com esta coisinha jovem, ela agora fodia este francês e entregava-se aos seus instintos mais básicos, que tudo destroem e tudo criam e continuava a enrolar-se com ele, ao mesmo tempo que esticava a língua porque lhe apetecia.
Ela via que sucumbia aos seus gestos e manobras encantadores, caía mais depressa do que se se precipitasse num desfiladeiro, embora soubesse que lá em cima alguém a observava, com amor e mágoa, e que lá em baixo só a esperava o embate, a devastação, o fim e a morte. E contei-lhe como, certa noite, saiu sorrateiramente da casa de campo e voltou para Norton e ele a recebeu na cama, embora soubesse onde ela tinha estado, mas não lhe perguntou e eu também não lhe perguntei, quando ele me contou, porque não acreditava que ele o conseguisse, o que tornava a história ainda mais triste e verdadeira. Foi exatamente assim que ele me contou a história da primeira vez e, mais tarde, das outras vezes, contou que ela tinha ido à procura de uma mulher que era ainda mais bonita do que a mulher dele, mas a mulher não era mais bonita porque nunca fora sua mulher. Isto não lhe contei a ela. Ela disse, a mulher do Norton nunca o amou, apenas amava os jogos que podia fazer com ele e que o Norton era um britânico nervoso que tinha sempre de ir a algum lado e que chegava sempre de algum lado e que ela deixara as noites passar no cansaço dos seus dias, desde há anos, logo sobretudo no início. Eu não tinha de me preocupar porque nós não éramos assim e não tínhamos de ir a lado nenhum e porque ele era nervoso e porque era britânico. Depois dançámos o que ainda restava do tango que há anos tínhamos aprendido numa escola politécnica e contemplámos a lua cheia que fazia a sua ronda noturna rente à cidade. Pensávamos, a lua pertence-nos, mas ela já ouvira tantas histórias, e nessa noite fizemos planos para o tempo depois deste tempo, que queríamos passar na montanha, num lago e, quando tivéssemos passado tempo suficiente nas montanhas perto de um lago, avançaríamos para outros lagos que também teriam montanhas deslumbrantes. Ficaríamos alojados em pequenas cabanas nas encostas ou em deslumbrantes hotéis palácio, de cuja varanda veríamos o lago, lá em baixo no sopé. Veríamos até tarde filmes tristes com Monica Bellucci ou leríamos Dante e acordaríamos cedo, em manhãs frias e camas quentes, e ficaríamos deitados até que começasse a doer-nos o corpo ou eu levantava-me para escrever e ela vinha abraçar-me e contar-me os seus sonhos. Continuaríamos assim de carro até Milão e, no fim, voltaríamos, sem tristeza e com alegria, a Lisboa, mesmo que Milão fosse incrível e as montanhas também, mas era sempre uma alegria voltar a Lisboa, independentemente de quanto tempo se estivera fora, independentemente do que se passara na viagem, independentemente de quem nos tornáramos, a cidade estava sempre ali e era sempre a mesma e retribuía sempre quando trazíamos qualquer coisa. Ela não disse nada e eu também não, e beijámo-nos até só restar o desespero e depois amámo-nos e não precisámos de nenhuma das coisas que a mulher de Norton precisava para tornar o ato bonito. Era como se nos enganássemos reciprocamente connosco próprios. Pressentíamos interdições, consequências, perigo de morte naquela sensação familiar. Um eterno 59.º segundo. Ela queria também fazer coisas e não apenas deixar que lhe fizesse coisas, mas tinha medo de que a vissem, e eu disse-lhe que aqui ninguém a podia ver, só eu e eu gostava do que via. E, quando nos libertámos um com o outro, um do outro e a libertação passou e nós foramos salvos e todos os pensamentos afugentados, nenhum de nós disse palavra e eu parei de pensar e não pensei, durante um bocado, em nada. Ali estava a lua, grande e redonda e cheia, parecia passada, embora nada se passasse, ou só se passavam coisas que antes eu não teria visto como cabendo dentro da palavra ‘passar’. Ela disse, se amanhã morresse e pensasse sobre o dia de hoje, ficaria feliz, e que eu bem podia matá-la assim mais vezes, se eu a beijasse assim todas as vezes, antes de ela morrer. Queria voltar logo a fazê-lo, mas agora era demasiado igual. Ela disse isto com a lua no rosto e perguntei-me o que queria dizer com isso e se isto era um daqueles pensamentos que move o mundo ou apenas parte da minha neurose a regressar lentamente e pensei que temos de nos amar sempre de forma honesta e lavarmos dentro de nós aquilo que nos magoa até conseguirmos atravessá-lo e quando o atravessarmos continuar de modo impiedosamente franco e verdadeiro e cuidar sempre de preservar algo de nós, em nós e nela que não cheire a cartão molhado mas sempre a amoras silvestres maduras.
Lamentei que não fosse dia de ir comprar brandy. Mas amanhã seria decerto um desses dias, um novo domingo ou uma nova segunda-feira ou simplesmente um outro dia em que choveria e compraríamos brandy de doze anos, um dia em que nos conseguiríamos orientar. Voltaríamos a ver o Mike, o treinador de fitness, e a sentar-nos à porta do talho enquanto o açougueiro nos cortava o entrecosto. Depois arrastaríamos as pesadas barrigas das pernas para casa, jogaríamos às cartas e beberíamos vinho e nunca teríamos medo do vinho enquanto o bebêssemos juntos. Mal podia esperar.
1 O texto refere-se a três expressões idiomáticas em alemão: ‘Zum Mäusen melken’ [é de dar com a cabeça nas paredes], ‘Da wird der Hund in der Pfanne verrückt’ [é de fazer cair os queixos], ‘Die beleidigte Leberwurst spielen’ [fazer-se de virgem ofendida]. Porque o texto remete para a mundividência de que resultam as expressões, optou-se por traduzi-las o mais rente possível à língua alemã, sem, contudo, beliscar a possibilidade de compreensão em português.