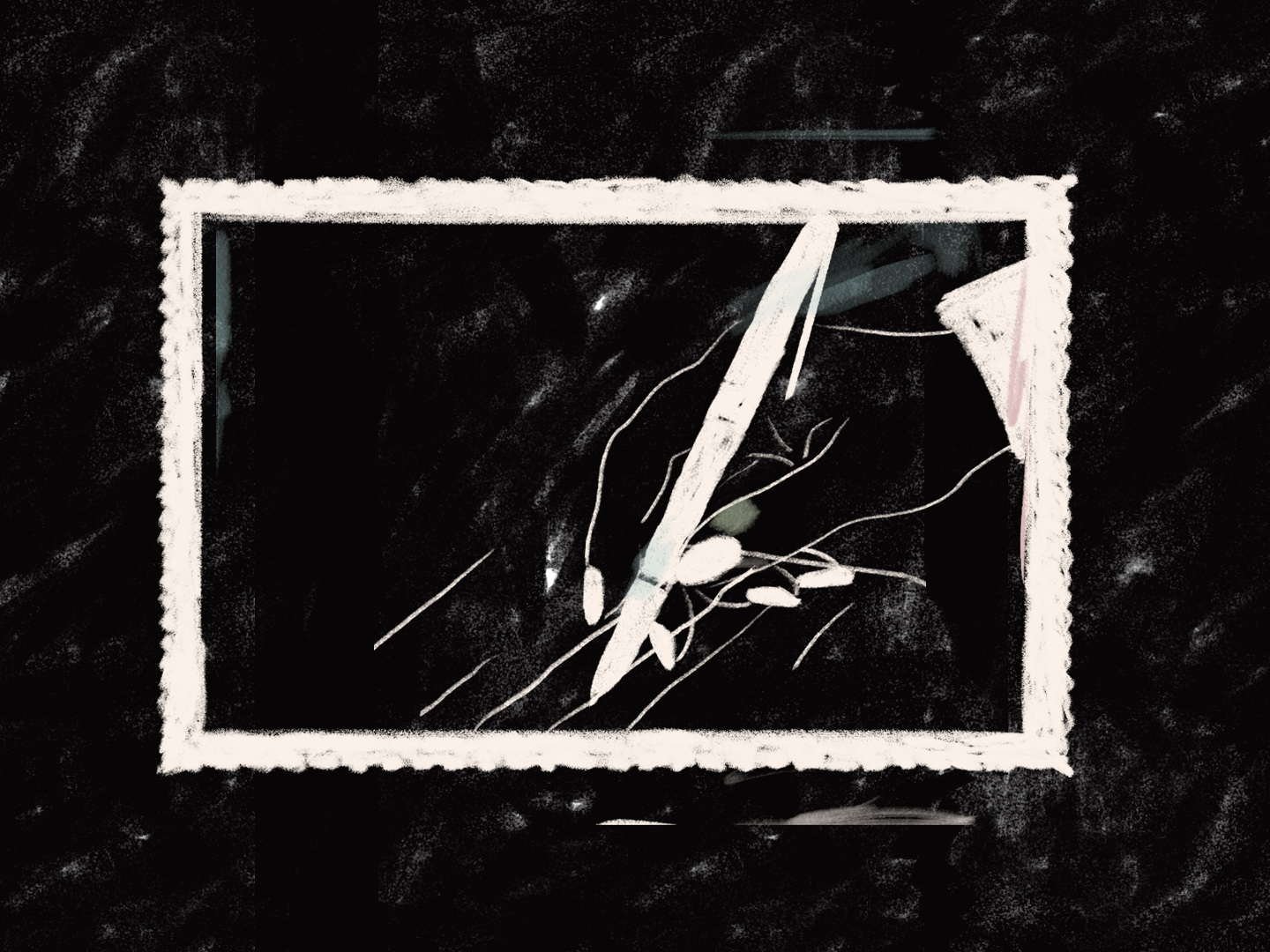João Reis Moreira é bailarino sem o ter planeado. Sempre viu o teatro como opção mais plausível, já que na escola básica o bullying obrigava-o a restringir a liberdade de movimentos que o seu corpo sempre almejou. Sentia necessidade de contrariar uma rigidez imposta como necessária. O seu corpo era fluído e não conhecia preconceitos, por isso foi traçando o caminho que lhe permitiu encontrar-se a si próprio. Inseriu-se no grupo das cool girls, e fez da dança a sua maior distração. Kuduro, funaná, kizomba e funk eram os estilos mais presentes e que ainda hoje o influenciam.
Nunca teve uma aula de dança. Estudou antes Realização Plástica de Espetáculo na Escola Artística António Arroio. Também tentou a sorte em Amesterdão, cidade onde fez provas de admissão para a Academy for Theater and Dance. Não resultou e após uma estadia de alguns meses, regressou a Portugal.
Em 2017, o amigo de longa data, Tiago Miranda (Conan Osíris), convidou-o para ser um segundo “emissor” nos espetáculos da tour do álbum Adoro bolos. Passou a traduzir as melodias com o corpo, de forma livre e improvisada. O sucesso de ambos teve o seu epítome no Festival Eurovisão da Canção, onde o país e o mundo se deixaram hipnotizar pela melodia invulgar e ritmo frenético de Telemóveis. Inevitavelmente, esse evento marcou uma mudança. “Ficou tão pop que passou a ser um país que dizia “tu és bailarino”, “tu tens esta profissão”, “tu és isto”. E eu pensei “ok”, se as pessoas dizem que eu sou, eu sou”, explica. A partir daí nunca mais parou. Desde essa altura sucedem-se os espetáculos e colaborações com diversos artistas.
No próximo ano, pela primeira vez, vai estrear um espetáculo em nome próprio. Galafoice tem estreia prevista para novembro de 2022 no Teatro Circo, em Braga e trará a palco diversos artistas. “Vai fundir muitas coisas: dança, teatro e música”, conta. O objetivo é quebrar barreiras e esquecer rótulos que, aliás, nega colocar em si próprio. “Quando as pessoas estabelecem um estilo, consomem uma coisa, alimentam-na e transformam essa coisa em si próprios. Eu acho que vou sempre procurando muitas referências”, diz.


Gerador (G.) - Sabemos que a dança profissional não esteve propriamente nos teus planos desde sempre. Em criança, quando ainda estudavas no ensino básico, inscreveste-te no grupo de teatro amador. Como é que passaste do interesse nessa área para a dança? Era algo que estava ligado?
João Reis Moreira (J.R.M.) – Não era uma coisa que estava ligada. Eu acho que decidi muito novo que queria ser ator, desde uma pequena experiência numa escola primária que foi bué overwhelming. Eu achei aquilo mesmo bué interessante e decidi que aquele ia ser o meu percurso. A minha mãe foi muito atenta e começou a levar-me ao teatro.
Por acaso lembro-me bué bem da primeira vez que fui ao teatro, ver a “A Rainha do Ferro Velho”, com a Maria João Abreu, no Politeama. Foi sempre um interesse que foi sendo alimentado, também com a ajuda da minha mãe e era uma ideia fixa. Depois, quando eu passei para a escola básica, que era noutra cidade ao lado, a realidade mudou muito porque saí do bairro onde eu tinha crescido e fui para outro sítio com muito mais pessoas, muito diferentes, de muitas mais culturas e muitas mais idades também. Então foi assim um choque social e cultural. Aí foi um bocado a minha introdução à dança, a gostar de dançar, porque havia os bailes de carnaval, os bailes de final de ano, os bailes de Páscoa... havia bailes em todas as ocasiões, e aí as pessoas dançavam. [Isso] despertou-me o interesse, mas sempre de uma forma não académica, ou seja, o teatro seria uma coisa para estudar e a dança seria só para me divertir. Nunca pensei que fosse uma coisa que eu levasse profissionalmente.
G. - Já referiste noutras entrevistas que esse choque cultural foi uma coisa que, de início, foi difícil para ti.
J.R.M. – Foi, porque quando eu passei para o quinto ano, eu era muito pequenino. Eu cresci muito tarde, sempre fui muito pequeno e, então, era mais fácil fazer bullying às crianças mais pequenas. [Além disso], era uma escola com pessoas desde o quinto até ao nono ano, com muitas idades, então aconteciam várias dinâmicas ali.
Aquela escola também foi considerada durante vários anos a escola básica mais problemática do país. Era muito violenta e foi um bocado difícil e traumatizante deixar de ver amigos porque foram expulsos ou hospitalizados devido à violência. Eu próprio fui vítima de violência porque era um pouco a base daquela escola. Havia seguranças para garantir a integridade física dos alunos, porque havia muitos conflitos diariamente.
Primeiro eu não dançava, para não sofrer bullying, porque dançar era uma coisa de raparigas. Depois, como eu finalmente criei um grupo firme de amigas, e que eram cool – ou seja, elas eram cool girls e eu não – de repente tinha um bocado de proteção, então já podia fazer mais ou menos o que eu quisesse porque they’ve got my back.
G. – Que estilo de música dançavas com elas?
J.R.M. – Principalmente kuduro, funaná, kizomba também, funk... Eram basicamente estes quatro estilos de dança. Principalmente kuduro, porque era o mais freestyle. Como funaná era uma coisa muito mais das raparigas, era mais difícil um rapaz dançar. [Já] kizomba era uma coisa mais técnica, logo também era mais difícil, até por ser a pares. Kuduro e funk, por serem mais freestyle era coisas em que eu me sentia mais à vontade e dançava mais com elas. [...]
G. – Essa noção que falavas, de ser uma coisa de raparigas, era uma ideia que tu próprio tinhas?
J.R.M. – Não, não... Quer dizer, eu também tinha, mas era porque ela existia. Ou seja, nos bailes os rapazes ficavam estáticos e as raparigas dançavam para os rapazes. Eles não se moviam, não sei muito bem porquê, mas com certeza havia uma parte da fragilidade masculina que não podia incorrer em nenhum tipo de risco e, então, [daí] a postura masculina ser uma coisa estática e a postura feminina ser uma coisa que “acontece”, de ter um corpo que acontece.
Porque eu lembro-me disto: mesmo danças que eram a pares, o máximo que os corpos masculinos faziam era mudarem a caixa [torácica] de direção, enquanto as raparigas dançavam efetivamente: iam abaixo, iam a cima, rebolavam, iam à frente, iam atrás, andavam à volta deles... elas efetivamente dançavam. Eles eram como se fossem um suporte a uma dança, porque – lá está – era tudo muito frágil e os rapazes nunca poderiam ser gozados nem podiam ficar frágeis em nenhum momento. Só [dançavam] se fosse uma dança mais goofy, mais palerma, se fosse para fazer os amigos rir. Ou o Kuduro. Kuduro toda a gente dançava porque, como era uma coisa de freestyle, em que tu fazes o que já treinaste ou aquilo que a tua criatividade te diz no momento, os rapazes que sabiam que eram bons, faziam. Então, o kuduro era a única dança que era coletiva e que toda gente participava. De resto, os rapazes ficavam sempre num lugar muito mais seguro. [...]


G. Isso terá sido algo que acabou por influenciar a forma como danças atualmente?
J.R.M. – Sem qualquer tipo de dúvida. Foi super construtivo, ou seja, se eu não tivesse estado naquela escola, eu não estaria em contacto com aquelas pessoas, nem com aquelas culturas, nem com aquelas músicas, que eram as pessoas que traziam nas pens e com aquela dança, que eles sabiam, que viam naqueles vídeos de Angola e de Cabo Verde no Youtube e que me ensinavam.
Depois, não tinha conhecido aquelas raparigas, que foram muito importantes na minha formação (ainda somos amigos até hoje), que me permitiram e foram as primeiras pessoas que me disseram “é OK seres quem tu quiseres ser connosco, porque nós temos essa dinâmica”.
Foi um bocadinho difícil de conquistá-las, porque, lá está, elas eram as cool girls e eu não. Eu era o puto estúpido [risos], mas eu tentei bué e consegui conquistá-las e, a partir daí, foi mesmo bué importante. Só que, lá está, quando as pessoas começaram a chamar-me Bollycao – tipo, branco por fora, preto por dentro, porque eu dançava bem - eu achava só que era fixe. Ou seja, a partir de uma coisa que era gozado, ganhei um status, mas nunca pensei que fosse fazer aquilo profissionalmente. Era só quando ia sair, ou a um baile ou quando me ia divertir, [pensava que] era bom a dançar. [...]
G. – Como contrariaste esse bullying que sofreste?
J.R.M. - Pondo um boost no engraçadinho, no problemático... Ou seja, [pensava] “a quem é que eu devo agradar”, quem eram as pessoas mais importantes. Sendo que era uma organização bué hierarquizada, [analisava] quem é que está no topo, quem é que me pode dar proteção. Então [decidi] ser muito engraçado e fazer merda, porque era uma coisa boa. Estimulei bué um lado muito extrovertido para ser mesmo muito engraçado e para estar sempre bem. [...] Não havia uma criação de empatia, então, se tu eras agredido e te ficavas, não havia pena. Não havia empatia, havia o input de fazer mais uma agressão. Então era tipo, tentar desbloquear uma quantidade de coisas e querer pertencer também.
Lembro-me muito bem que, uma coisa que eu desenvolvi com outro amigo meu, que também sofria mais ou menos as coisas que eu sofria, foi o assédio às raparigas. Um pouco também para distrair o foco da [nossa] sexualidade, de “és homossexual”, e aproximar-nos de uma realidade heterossexual, que era uma regra naquela escola. Levantar as saias, apalpar as raparigas... isso pôs-me dentro de um núcleo e desviou as atenções. Deixei de ser atacado por uma coisa e passei a levar palmadinhas nas costas porque afinal, sim, assediava raparigas. Até que uma rapariga que era deste grupo, destas cool girls, a Adriana, fez queixa de mim à diretora de turma, que escreveu um recado para casa que não foi mesmo nada bem recebido. Aí, a minha consciência voltou a restabelecer-se e [pensei] “ok, isto tem mesmo de parar, não está correto”.
G. – Quando é que começaste a pensar na dança como uma coisa mais séria?
J.R.M. – Depois de já ser mais velho eu tive ideias. Quando acabei o secundário passei uma temporada em Amesterdão e isso foi muito importante para me resolver enquanto pessoa adulta. Depois voltei para Lisboa e quando o fiz voltei a integrar-me nos grupos de teatro e passei a sair à noite sem ser da perspetiva em que um chavalo de 16 anos começa a ir ao Bairro Alto. Já tinha 19, então comecei a sair à noite para outros sítios, a descobrir outros tipos de música, outros lugares para sair, outras formas de sair à noite, que não eram só beber um copo e sair com os amigos, era a cena da dança e de núcleos de pessoas que ocupam sítios e se expressam de determinada forma. Quando eu comecei a sair à noite assim, percebi que tinha atenção e que as pessoas ficavam admiradas com a forma como eu me exprimia. Como isto acontecia, eu pensava que se calhar devia fazer alguma coisa com a dança ou então, em teatro, que era onde estava a trabalhar na altura. Eu devia procurar diretores, encenadores, criadores, que tenham uma componente física forte, que as pessoas notam que eu tenho capacidades nesta parte. [...]
G. - Mas nunca estudaste dança?
J.R.M. – Não, nunca. Eu só começo a dançar profissionalmente com o Conan Osíris, que é meu amigo há muitos anos. Eu conhecia e adorava a música dele há muitos anos, desde que ele fazia umas músicas que nem fazes ideia (nem ninguém faz) [risos]. Quando o [disco] Adoro Bolos bateu, ele ligou-me. Eu lembro-me bué bem, estava a jantar em casa do meu pai, e ele ligou-me e disse: “Olha já reparaste que as pessoas estão a ficar bué malucas com o Adoro Bolos. Estão a convidar-me para fazer apresentações e eu tive uma ideia, que era: para não ser só um concerto em que está um gajo a cantar com um beat, eu canto e tu danças. O que achas? Assim fazemos alguma coisa em que há dois emissores”. Eu respondi “acho isso bué boa ideia”[...]
E foi assim, do primeiro, até ao... fizemos 200 e tal concertos. E foi sempre assim. Fomos sempre fazendo e foi-se sempre transformando e foi exatamente com ele que eu fiquei “bailarino” de profissão.
G. – Começaste efetivamente a levar mais a sério a dança?
J.R.M. – Sim, porque de repente não era eu que dizia. Ficou tão pop que passou a ser um país que dizia “tu és bailarino”, “tu tens esta profissão”, “tu és isto”. E eu pensei “ok”, se as pessoas dizem que eu sou, eu sou [risos].
G. – É inevitável falarmos, então, do Festival da Canção. Como encaras a notoriedade que isso te trouxe? Isso marca uma mudança na tua vida, ou a mudança foi prévia?
J.R.M. – Marca. Marca até uma mudança de saúde, porque o Festival da Canção deu-me o meu primeiro ataque de ansiedade da minha vida. É uma coisa mesmo bué ambígua, porque a notoriedade que me deu claro que foi muito útil, gratificante e abriu muitas portas. Foi uma experiência mesmo muito intensa e rica mas, ao mesmo tempo, também foi demasiado forte e um bocado traumatizante de... sei lá, não poder ir sair com os meus amigos de uma forma normal. Agora isso já voltou a acontecer, mas [antes não era possível] ir sair e não ter sempre câmaras, pessoas a filmar, pessoas a quererem falar comigo, estar a ter uma conversa íntima ou pessoal com alguém e aparecerem sempre pessoas e fotografias e foi... ufff. Era sempre uma coisa tensa sair à rua. [A ponto de] deixar de fazer muitas coisas para poder estar mais resguardado e salvaguardado mas, in the end, foi uma coisa muito boa. Porque, lá está, estava a trabalhar com um grande amigo meu, de muitos anos, uma pessoa que eu admiro, respeito e gosto imenso, a fazer uma coisa que eu gosto e que é efetivamente minha – ninguém me disse o que é que tinha de fazer, fui eu que decidi – e com isso fomos a muitos sítios, conhecemos muitas pessoas, dançámos em muitos palcos e pagámos a renda com isso. Então foi tipo... estava tudo certo [risos].


G. – Estavas a dizer que ninguém te disse o que fazer... Trabalhas muito à base do improviso, certo? Isso é uma coisa que manténs sempre?
J.R.M. – Não. Foram dois anos de improviso [risos], o que foi muito tempo. O improviso traz muitas coisas, mas eu tenho sempre de ter uma base, um limite ou uma direção para poder improvisar sobre alguma coisa. E, às tantas... Como é que ficas dois anos, fazes duzentos espetáculos a improvisar sobre as mesmas músicas? Esgota-se. E, no final da tour do [álbum] Adoro bolos já estava mesmo esgotado.
Do tipo, uma coisa que tinha a premissa de ser improvisada eu já repetia muitas coisas e, aquilo que saía, já não... ou seja, já não estava firme nem com força para sair. Estava cansado e aquilo já era mesmo exaustivo de fazer, tanto para mim como para o Tiago [Conan Osíris]. Estávamos os dois assim, [a questionar] o que é que se faz de novo? As pessoas gostam, sim, OK, mas já não está a sair nada de novo. E depois foi aí que decidimos que íamos marcar o final da tour e marcámos o Coliseu. No Coliseu [percebemos] que não podíamos fazer improviso, porque se o vamos fazer vai ser fraco. Então foi a primeira vez que eu trabalhei com coreografia e com outros bailarinos, porque nós contratámos seis. Tinha de haver coreografia porque, de repente, havia um corpo de baile [...].
Eu sempre descartei coreografia pois pensava, “para quê?”. Se eu estou sempre em palcos diferentes, com públicos diferentes, em cidades diferentes, com roupas diferentes, com estados de espírito diferentes, a música, a performance vai sempre ganhar mais força se eu fizer aquilo que me apetecer. Eu era quase anti-coreografia mas depois, por causa da noção de espetáculo, de ser um momento impactante porque estão várias pessoas a fazer o mesmo movimento ao mesmo tempo, eu descobri a coreografia no meu corpo e pensei assim “ah, afinal isto pode ter algumas mais-valias”. E agora continuo. Tenho de perceber qual é o próximo processo de trabalho e de que forma é que se vai integrar a coreografia e de que forma é que se vai integrar o freestyle. [...]
G. – Agora que trabalhas com outras pessoas, possivelmente com métodos diferentes, sentes que isso limita-te de alguma forma? Ou não?
J.R.M. – [Falar] em limite pode ser mal interpretado, porque claro que limite, limita. E eu acho que os limites são... eu adoro limites, mesmo [risos]. Porque se eles não existirem ou não forem visíveis ou se forem dúbios, é muito mais difícil de trabalhar. Portanto eu amo limites. E construir esses limites com alguém é perfeito, ou seja, se nós formos trabalhar juntos, temos de perceber que projeto é que queremos desenvolver, onde é que queremos chegar e de que forma é que tu trabalhas e eu trabalho e como os nossos trabalhos se juntam. E com a Ana [Moura] também foi um bocado isso. Ou seja, nós já criámos uma intimidade, porque já nos conhecemos em 2019 e fomos criando uma relação. Quando ela me convidou, e me perguntou o que eu achava, se eu estaria confortável, se eu achava que era uma boa ideia - porque ela se tinha lembrado e queria transformar um pouco os espetáculos dela. Eu achei muito boa ideia e nós conversámos sobre isso e sinto que tenho toda a liberdade porque ela efetivamente valida o meu trabalho e gosta do meu trabalho mas sei que, lá está, é a Ana Moura, não é o Conan Osíris, não é o Filipe Sambado, não é a Blaya, não é o Dino D’Santiago. São pessoas completamente diferentes, com estéticas completamente diferentes, e [tenho de perceber] de que forma é que o meu corpo é maleável e se consegue transformar e consegue criar uma coisa para um espetáculo em específico. Então sim, não me sinto nada limitado, sinto-me a servir um propósito.
G. – Como definiras o teu estilo atualmente (se é que achas que isso é possível de fazer)?
J.R.M. – Acho que nunca consegui responder a essa pergunta. Acho mesmo que nunca consegui responder a essa pergunta porque acho que fechar... É porque é mesmo difícil. Eu acho que quando as pessoas definem um estilo, fazem-se pertencer a alguma coisa e consomem muito uma coisa e alimentam isso. E eu não me sinto a fazer isso, nunca senti. E não é uma coisa que eu rejeite. Eu se calhar até gostava de o fazer, mas não sei se estou ainda nessa parte do meu processo ou do meu caminho. Porque, lá está, quando as pessoas estabelecem um estilo, consomem uma coisa e alimentam essa coisa e transformam essa coisa em si próprios. Eu acho que vou sempre procurando mesmo muitas referências. Se encontro alguma coisa de K-Pop que consigo misturar com clássico, consigo misturar com contemporâneo, com pop, com kuduro... As coisas são todas tão misturáveis. Se há um beat que pede uma coisa, e há uma melodia que pede outra e há uma letra que pede outra, tu dás, entregas. Não precisas de estar limitado num estilo. Eu não preciso. Há pessoas que, se calhar, precisam.