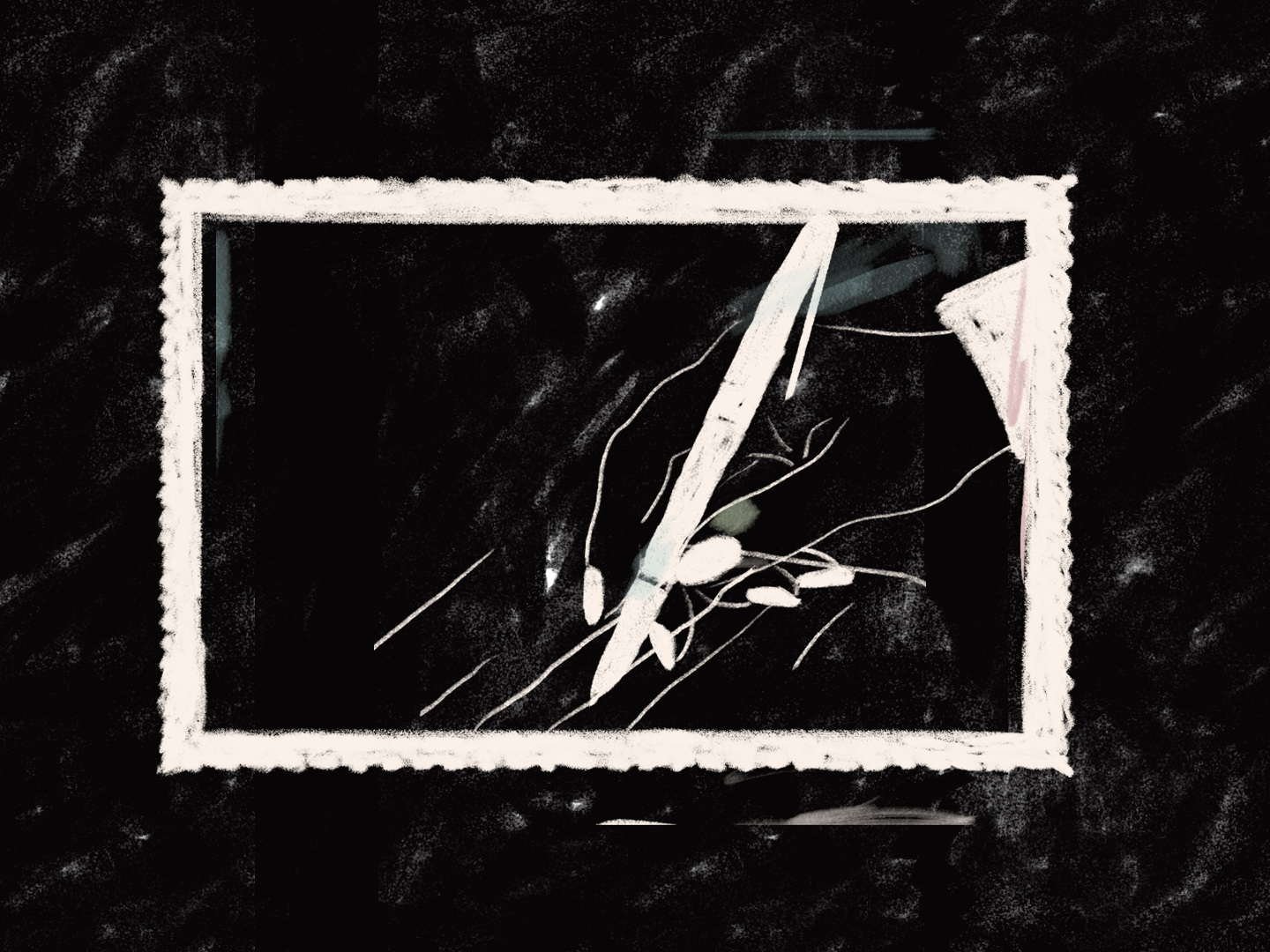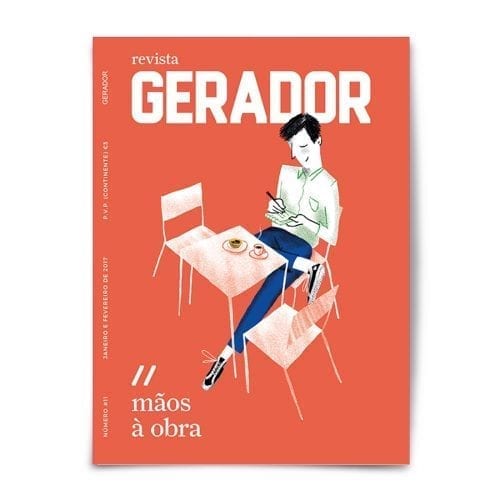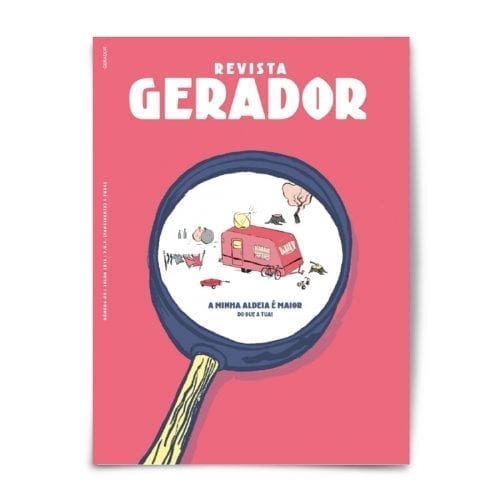Maria Gil fez teatro do oprimido e teatro comunitário. É conhecida como a primeira atriz cigana em Portugal, mas prefere que esse não seja o seu epíteto, pois acredita que a história da sua comunidade foi apagada e que, na verdade, existiram outras mulheres atrizes e ciganas que a antecederam.
Foi membro da Associação Saber Compreender, uma associação que visa prestar apoio a populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica, e pertenceu ao coletivo teatral PELE. Atualmente, encontra-se a tirar uma formação de dramaturgia na Associação Cultural MEXE e, entre julho e novembro, irá desenvolver uma peça em conjunto com a direção do Teatro D. Maria II.
A frase “Mulheres ciganas existem e resistem” tornou-se emblemática quando Maria Gil a expressou num cartaz, numa manifestação no Porto, em maio de 2017. Em entrevista ao Gerador, explica que a falta de visibilidade das mulheres ciganas em manifestações foi o que a levou a iniciar os diversos movimentos ativistas e feministas no nosso país.
De acordo com o estudo elaborado, em 2022, pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia, mais de 60 % das pessoas ciganas em Portugal declarou ter sido alvo de discriminação em 2021. Esta foi a percentagem mais alta dos 12 países que participaram no estudo. Consta também nesse relatório que um em cada quatro ciganos admitiu ter sido alvo de diferenças de tratamento em situações como “a procura de emprego, a habitação, a saúde, a educação ou até a tentativa de entrar numa loja”.
Estas são apenas algumas das questões levantadas por Maria Gil. Ainda assim, ao longo da nossa conversa, a ativista procurou trazer uma perspetiva positiva relativamente aos problemas que a comunidade cigana ainda enfrenta no nosso país e na Europa, isto é, “uma esperança de que as coisas ainda podem mudar”.


Gerador (G.) – Com base na tua experiência, como descreves a infância de uma criança cigana em Portugal?
Maria Gil (M. G.) – As comunidades são todas diferentes e não socializam da mesma maneira, mas a minha experiência não se distinguiu muito da experiência das outras meninas do meu contexto social e familiar. Não posso falar de normalidade, porque a ideia de normalidade reverte para uma forma de estar enquanto portuguesa branca. Como se a minha normalidade não fosse isso mesmo: a minha normalidade. Cresci com valores que são comuns e transversais a todas as crianças em Portugal. Sempre tive muito contacto familiar e vivi, quase que exclusivamente, dentro desse núcleo. Frequentei a escola primária, mas depois tive de interromper esse processo. A minha normalidade insere-se na diversidade de normalidades que existe em toda a sociedade portuguesa, da qual as pessoas ciganas fazem parte. Aliás, não fazemos parte. Nós também somos a sociedade portuguesa.
G. – Existem diferenças na educação das raparigas e dos rapazes nas comunidades ciganas?
M. G. – Já existiram mais. Tenho a sorte de ter a idade que tenho, pois isso permite-me assistir ao modo de vida de uma ou duas gerações mais velhas, mas também assistir à da atualidade. Sou mãe de quatro pessoas e, ao ter acesso a estas duas leituras de tempos tão distintos, também consigo preparar-me para a geração vindoura. A educação de antigamente não era muito diferente da educação da comunidade geral portuguesa. O que mais se destacou na minha geração foi a continuação, ou não, da escolaridade. Como eu era menina, não continuei. Já os meus primos continuaram a estudar depois do ensino primário. Só consegui fazer isso por conta própria, já depois de ser adulta. Fiz autopropostas de exames e fui acrescentando conhecimento através de workshops, por exemplo. Ainda não adquiri a escolaridade obrigatória, mas pretendo fazê-lo.
G. – Ou seja, tiveste de abandonar a escola por uma questão de obrigação. Não foi uma decisão pessoal.
M. G. – Eu queria continuar a estudar. Acho que aqui não se pode levantar a questão da obrigação, porque o meu pai até queria que eu estudasse, mas ele faleceu pouco antes de eu terminar a escola primária. A minha mãe, de repente, perdeu todo o seu chão, e ela nunca tinha estado sozinha ao longo da sua vida. Ficou a cuidar de duas crianças, sem saber bem o que fazer. Ao tirar-me da escola, penso que ela tenha achado que me estava a proteger. Para além disso, a minha irmã, apesar de ser muito nova quando o meu pai morreu, substituiu a minha mãe [em certos aspetos] e tinha como obrigação levar-me à escola. Obrigava a minha irmã a ter uma sobrecarga que não deveria ser imposta a uma criança.


G. – O facto de teres posto fim ao teu percurso educacional condicionou a tua vida de alguma forma?
M. G. – Claro. Vivemos numa sociedade em que precisamos de provas académicas para tudo. Portugal está muito ligado ao burocrático e ao formal. Óbvio que isso me trouxe consequências ao nível do mercado de trabalho, pois não consegui exercer certas profissões com o meu grau académico. Também me trouxe consequências ao nível da compreensão do mundo e, claro, da falta de conhecimento. A escola permite-nos desenvolver [outras capacidades] e mapeia-nos outras formas de aprendizagem.
G. – E em termos de socialização? Sentiste algum impacto por teres saído da escola?
M. G. – Senti da mesma maneira que qualquer pessoa sentiria, mesmo não sendo cigana. Mas isso não quer dizer que eu estivesse condicionada a um espaço único, com pessoas únicas. Não me senti fechada, até porque a minha família tinha muito contacto com a sociedade em geral. O problema foi o surgimento dos bairros sociais na minha infância, porque as pessoas ciganas foram as primeiras a sofrer a gentrificação. Foram retiradas dos centros urbanos para serem colocadas na periferia, local onde as pessoas mais pobres ou com mais dificuldades em incluir-se socialmente eram segregadas. Estou a falar da minha geração, porque a que se seguiu já nasceu e cresceu nesses bairros sociais.
G. – Para além do surgimento dos bairros sociais, o que mudou para as comunidades ciganas em Portugal?
M. G. – Ainda que, supostamente, houvesse melhorias ao nível de habitação, retiraram-nos toda a mobilidade que poderíamos desenvolver se estivéssemos na malha urbana. Retiraram-nos o acesso à diversidade, aos serviços de proximidade. E isso trouxe consequências para o nosso envolvimento na comunidade onde estamos inseridos. Se as pessoas vivem em grupo, vão criando subculturas ao longo do tempo, vão-se afastando. Uma coisa é agregar, outra coisa é segregar grupos em conjunto. E esses grupos acabam por se fechar entre si, porque estão aglomerados ou porque estão em espaços mais hostis que não lhes dão muita escolha. Não desenvolvem um olhar diferente perante a diversidade e acabam por criar subculturas de sobrevivência.
G. – O que te levou ao ativismo?
M. G. – Acho que todos começamos a ser ativistas quando adquirimos consciência do que está a acontecer. A perceção do social não depende de uma faixa etária ou de um grau académico. Não nos podemos esquecer que as pessoas ciganas, em Portugal, ainda que não tenham sido colonizadas a nível territorial, foram colonizadas culturalmente. Os nossos corpos foram escravizados, foram usados como massa para a engrenagem das invasões e de todas essas tragédias a que chamam Descobrimentos. As nossas famílias foram desmembradas, as nossas mulheres foram usadas para a procriação nesses espaços colonizados. Enquanto criança cigana, fui crescendo com o ideal de que ser branco é ser melhor, que nós é que estamos errados por sermos ciganos. Sendo uma pessoa racializada, vais interiorizando uma série de coisas que não te permitem ter uma visão clara do que está a acontecer com o teu corpo ou com o teu lugar. O teu sentido ativista começa quando te começas a questionar. Só o facto de levantares a questão já é uma forma de agir. Desde o momento em que eu, com doze ou treze anos, começo a questionar porque é que não estava na escola, já estava a iniciar o meu ativismo. Tudo tem um espaço de tempo e não depende da agregação a um coletivo formal como uma associação. Não é isso que determina o que tu és enquanto cidadão e aquilo que tu acionas. Somos todos um corpo social e político! E o nosso corpo, enquanto pessoas ciganas, é, em qualquer posicionamento e em qualquer lugar, um corpo político, porque reivindica aquilo que também é seu. Estou a falar do acesso aos lugares, do acesso à educação, à habitação, à saúde. Isso não precisa de um prazo nem de um associativismo legalizado, carimbado e muito menos partidário. Quando iniciei o teatro do oprimido – que é um teatro de questão e de posicionamento – percebi que, mesmo nesse lugar, ainda não se mencionava a palavra “cigano”. É como se não existíssemos, como se os problemas sociais não nos afetassem. É a desumanização da pessoa cigana. Percebi que tinha de acentuar as minhas questões e a minha aproximação com a reivindicação dos direitos.


G. – Qual a importância do feminismo na comunidade cigana?
M. G. – Deixa-me dizer-te que eu sou uma cidadã portuguesa, mulher e cigana. Não posso desvincular tudo isso do feminismo em geral, porque isso seria negar que sou cidadã, negar que sou mulher e dizer que não me importo com o que acontece com as restantes mulheres do meu país. O feminismo é essencial para o equilíbrio de uma sociedade que crie igualdade para todos e para todas. Estou a falar de um feminismo que não procura sobrepor-se. Não se trata de uma luta de poder, mas sim de uma conquista para todos. O feminismo cigano faz falta, porque possui uma narrativa própria que também tem de ser incluída no feminismo em geral. Faz falta para agregar forças nos processos antirracistas, antifascistas, na diversidade de lutas que todas as pessoas ciganas enfrentam. Homens e mulheres. Aliás, antigamente, o ativismo era apenas desenvolvido por figuras masculinas. A figura feminina, no ativismo, apenas surgiu recentemente.
G. – E existem cada vez mais mulheres ciganas a participar em manifestações e a mostrar o seu ativismo?
M. G. – A visibilidade da mulher enquanto ativista sempre foi menor. Mas sim, de há oito anos para cá, houve um aumento dos rostos das mulheres ciganas nos espaços públicos. Passaram a ser mais interventivas.
G. – Quais são os principais preconceitos com que esta comunidade se depara?
M. G. – A narrativa que te quero transmitir é a da minha representação enquanto pessoa cigana. Óbvio que muitos não se sentirão representados por mim, nem eu represento todos, nem me sinto representada por alguns. As minhas reivindicações são pessoais, são coletivas e são além desta ideia de que nós vivemos numa bolha de proteção ou numa bolha “ciganaléfica” [risos]. As experiências racistas são pouco variáveis. A forma como as comunidades ou como alguma pessoa interpreta o racismo é que é diferente. Só não vê quem não quer ver. Vivemos perante um estado constante de negação do racismo. Nós, ciganos, fomos retirados da história, ao ponto de ser difícil situar a nossa existência no contexto português. A nossa própria história foi apagada, diluída no tempo. A nossa própria emoção teve de ser educada para conseguirmos sobreviver a estes processos de exclusão, de violência. A comunidade cigana é uma das mais pobres da Europa! Somos os que temos mais carência e pobreza em Portugal. As pessoas ciganas no nosso país morrem 8 a 10 anos mais cedo do que as pessoas não ciganas, devido à falta de acesso à saúde. Isto é o que acontece de uma forma geral. Relativamente à minha experiência, aquilo que mais ouço é: “Ah, que giro, nem pareces cigana” ou “ah, que giro, mas tu nem moras numa barraca”. Isto é extremamente violento para mim, porque desenvolve uma outra ideia que é a de que todos nós, ciganos, temos de estar num espaço específico. Somos estereotipados. Existe a crença de que temos um certo padrão de vida, de valores, de condutas. Padronizar também é uma forma de violência. Vi negado o acesso à habitação por ser uma pessoa cigana. Para conseguir ter esse acesso, vi-me obrigada a entrar em clandestinidade étnica, a esconder o meu sotaque, os meus traços enquanto pessoa cigana.


G. – E dentro da própria comunidade, também existem estereótipos ou preconceitos?
M. G. – Existem mediante as condicionantes de cada um. Dentro das microcomunidades [vão-se criando diferentes ideias]. Eu tenho quatro filhos, e todos têm temperamentos diferentes. Têm os mesmos valores, tiveram a mesma educação, mas, na verdade, todos têm comportamentos diferentes. Dentro da comunidade cigana, também existem pessoas que assimilam os próprios estereótipos, ou seja, assimilam o que é português e tentam reproduzir e recriar o mal que lhes foi feito. Aquilo que pensam que é ser cigano na atualidade, na verdade, é [consequência] de um processo que se encontra mais próximo da branquitude. A crueldade é tanta que, ainda hoje, em 2023, continuam a achar que estamos a começar do zero. Eu não gosto de dizer que sou a primeira mulher atriz cigana em Portugal, porque eu não sei se sou. As primeiras mulheres ciganas “isto” ou “aquilo” estão sempre a aparecer. É como se atingíssemos um patamar e nos remetessem outra vez para o fim da fila. Houve mulheres que me antecederam, sim. Senão, eu não estaria aqui.
G. – Ainda desenvolves algum trabalho na Associação Saber Compreender?
M. G. – Formalmente, não. Afetivamente, sempre. A associação é liderada por uma pessoa que gosto muito [Cristian Georgescu], cigana, com posicionamentos muito próximos aos meus. Esta é a minha ligação com a Saber Compreender. Fiz campanhas enquanto atriz, divulguei o seu trabalho, fiz parte de alguns dos seus debates. Apenas deixei de fazer as rondas [visitas às comunidades ciganas], que era o que mais gostava.
G. – Como é que as artes performativas surgiram na tua vida?
M. G. – Conheci o teatro do oprimido através de uma amiga, em 2010. Entretanto, afastei-me dessa vertente e do teatro comunitário. Tive várias formações e desenvolvi vários trabalhos no coletivo PELE e agora estou na associação MEXE a tirar uma formação em dramaturgia.
G. – E o que gostas mais no teatro?
M. G. – Gosto do processo de criação. Gosto de ver, transcrever e imprimir narrativas. É o que mais gosto.


G. – “Mulheres ciganas existem e resistem”. O que pretendeste transmitir com este mote?
M. G. – Esse mote surgiu de uma forma muito espontânea. Surgiu, porque percebi que o nome da mulher cigana nunca estava presente nas manifestações. A mensagem é: “Também estamos aqui.”
G. – E ao que é que resistem?
M. G. – Resistimos aos processos da branquitude, aos processos do capitalismo. Resistimos sobrevivendo. Só a nossa sobrevivência é um ato de resistência muito grande. Resistimos a essa ideia universal de que todos podem e de que somos todos iguais, porque não somos. Resistimos à perda de valor humanos. Resistimos a muita coisa.
G. – O que sentes que falta na sociedade portuguesa para que se quebrem esses preconceitos e se comece a incluir a comunidade cigana em todos os setores da sociedade?
M. G. – Têm de começar a questionar-se a si próprios. Não existe uma poção mágica. Existe um trabalho que tem de ser feito e uma falta de reconhecimento da existência do racismo por parte da branquitude. Têm de saber pôr-se no lugar do outro e pensar como se fossem o outro. Não gosto de utilizar a palavra vítima, mas nós somos o resultado do vosso processo de colonização. Têm de parar de imprimir uma ideia gloriosa do passado, mas nunca deixar de olhar para esse passado. Façam essa reflexão. Façam essa restauração para perceberem o que falta agora, no presente. Não estamos aqui para nos vingarmos ou algo do género. Apenas queremos ver restabelecidos todos os direitos. Falam muito em processos de integração, mas o que é isso? Preciso de me integrar em quê? Eu tenho a minha normalidade, estou integrada. Faço parte de uma sociedade, que é a portuguesa. Tenho apenas esta especificidade de ser uma mulher e cigana. E digo mulher e cigana, porque a minha primeira condição é esta: sou mulher, sou um ser humano e tenho a minha cultura que é a cigana.


G. – Não te caracterizas como uma líder, mas sim, como uma voz. Qual é a importância de teres e seres essa voz no nosso país?
M. G. – Existem muitas vozes por ouvir, e não, isto não é um processo de liderança. Ainda existem mulheres que, mesmo internamente, não conseguem ter uma perspetiva de agregação a esta força feminina. Eu tenho em mim as vozes de quem me acompanha e de quem traduz as minhas vivências. A minha voz não é nada mais do que as várias vozes que eu encerro em mim. E encerro-as, porque algumas ainda não foram ouvidas.